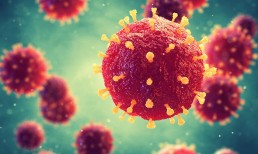folha de s paulo
Maria Hermínia Tavares: O resgate do respeito
Reconstruir nossa política externa exigirá mais que a volta a princípios consagrados
Na semana passada, os principais jornais brasileiros publicaram importante artigo pedindo a reconstrução da política externa do país. Assinaram o texto todos os ex-ministros de Relações Exteriores desde o governo Sarney, um notável diplomata e um ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Com a cacife de quem conduziu a diplomacia nacional nos últimos 28 anos, o grupo critica implacavelmente a destruição de nossa autoridade além-fronteiras, levada a cabo pelo atual governo. E propõe que a atuação do país volte a se pautar pelos princípios que desde muito cedo vertebraram a conduta e a identidade nacional diante do mundo: autonomia frente às nações poderosas, universalismo, multilateralismo e defesa da solução pacífica de conflitos.
Assim como a Covid-19, mais dia, menos dia, este governo passará —e com ele o chanceler que tão bem o espelha na mediocridade e na fúria descerebrada contra as melhores tradições diplomáticas brasileiras. Mas as circunstâncias sob as quais o país terá de reconquistar o respeito alheio posto abaixo pelo obscurantismo serão provavelmente muito diversas daquelas que favoreceram nossa ascensão internacional nas últimas décadas.
As projeções mais razoáveis sobre o estado do mundo pós-pandemia apostam não em mudanças radicais, mas no acirramento de tendências já presentes antes da chegada da peste. Elas parecem apontar para a erosão do que os estudiosos denominaram a ordem internacional liberal --o conjunto de normas, regras e organizações supranacionais de natureza econômica e política, estabelecidas ao término da 2ª Guerra Mundial. As instituições de Bretton Woods e as que surgiram e se multiplicaram no âmbito das Nações Unidas definem sua arquitetura multilateral.
O definhamento do apoio dos Estados Unidos a tais instituições, que Trump não iniciou, mas acentuou —bem como sua preferência por ações unilaterais, além da encarniçada disputa com a China—, as enfraquecem e deslegitimam. Basta ver a campanha xenófoba do presidente americano contra a Organização Mundial da Saúde desde a eclosão da pandemia. Tais organismos decerto não haverão de perecer, mas talvez ofereçam espaço menor para países como o Brasil buscarem reconhecimento e protagonismo.
Nesse ambiente adverso, reconstruir a política externa brasileira demandará mais do que voltar aos princípios consagrados: será imperativo traduzi-los em novas formas de ação. Algo que nem passa pela cabeça do patético chanceler, mas desafia todos quantos aspirem a que o país resgate o respeito internacional perdido.
*Maria Hermínia Tavares, professora titular aposentada de ciência política da USP e pesquisadora do Cebrap.
Bruno Boghossian: Bolsonaro já admitiu ter problemas com a PF
Presidente busca novo foco de discussão, mas o vídeo da reunião ministerial só conta uma parte da história
O governo organizou uma sessão de cinema antes de entregar ao STF o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. Ao estudar o conteúdo da gravação, Jair Bolsonaro decidiu bater na tecla de que não usou as palavras "Polícia Federal" ou "superintendência" naquela conversa.
O objetivo do presidente é dizer que aquelas imagens não provam nenhuma tentativa de interferência, mas a fita só conta uma parte da história. Antes de adotar a nova linha de defesa, Bolsonaro já havia afirmado publicamente que tinha problemas particulares com a PF.
Há oito dias, o presidente parou na portaria do Palácio da Alvorada para rebater o depoimento de Sergio Moro sobre o caso. Bolsonaro admitiu que tinha interesse em trocar o chefe do órgão no Rio e justificou: "tentaram colocar na conta" dele e de seus filhos Flávio e Carlos o assassinato de Marielle Franco —e a PF não teria investigado o assunto.
O presidente não explicou por que aquele seria um motivo para mexer na superintendência, em vez de esperar a conclusão das apurações. Ele também não quis esclarecer por que havia confrontado Moro com a notícia de uma investigação contra deputados aliados com a mensagem: "mais um motivo para a troca".
Bolsonaro quer mudar o ambiente dessa discussão. Preventivamente, ele passou a insinuar que seu grupo político sofre perseguição. Soa irônico que, na posse do novo ministro da Justiça, ele tenha adotado uma visão exageradamente positiva da PF ao dizer que o órgão "não persegue ninguém, a não ser bandidos".
Depois que o vídeo da reunião de abril foi exibido aos investigadores, Bolsonaro alegou que só se referiu a sua família para demonstrar preocupação com a segurança dos parentes. É uma versão nova, que não havia aparecido em outras explicações.
O presidente lembrou que a interpretação dessas declarações "vai da cabeça de cada um". O governo só se importa com uma, a de Augusto Aras. Nos últimos dias, o presidente sugeriu a auxiliares que pode indicar o procurador-geral para o STF.
Vinicius Torres Freire: O centrão vê a economia na crise de Bolsonaro
Não há impulso para impeachment, mas economia vai mudar, diz um líder do bloco
O governo falou muito, mostrou “boa vontade”, mas entregou pouco até agora, dizia nesta terça-feira (12) um deputado líder do centrão que negocia aliança e cargos com o Planalto. O parlamentar falava no começo da noite de todos os rumores sobre o vídeo da reunião ministerial em que Jair Bolsonaro teria ficado, mais do que nu, em carne viva —ou morta, a depender do boato e do ânimo crítico do espectador.
E daí? Daí que o vídeo degradaria a situação política de Bolsonaro, óbvio. Ainda não parece “tiro na cara”, como diz o deputado, mas o presidente precisaria de mais gente firme na Câmara para se segurar na cadeira e “governar com estabilidade” (sic).
Continua não haver risco de processo de impeachment, por ora, na opinião do deputado, para quem, no entanto, que está muito difícil medir a temperatura do Congresso e do país em geral, por causa do distanciamento provocado pelo vírus.
Por enquanto, “sem uma bomba grande”, não haveria impulso grande para criar um movimento relevante para depor Bolsonaro. Nem as pesquisas de opinião mostram descalabro do prestígio presidencial nem “as bases” dele e de parlamentares próximos pressionam por alguma movimentação. Nem mesmo os governadores, diz.
Mas o governo piscou, porque está mais fraco. Ainda não sabe fazer o básico da articulação no Congresso, apesar da boa vontade dos generais do Planalto, diz o deputado.
E daí? A crise renovada a cada dia pode levar a mudança substancial de planos do Ministério da Economia, como se especula?
Não muda grande coisa, diz o deputado. Primeiro, porque o Congresso está mais devagar, com outras prioridades e daqui a pouco vai ter de pensar o que fazer da eleição (datas e campanhas). Segundo, porque o centrão ou pelo menos seu partido tem compromisso com “as reformas”, afirma. Mas o governo vai ter de mostrar mais “sensibilidade”.
O quer quer dizer “sensibilidade”? Não se trata apenas de cargos ou ministérios, diz o deputado. O governo teria de olhar mais para os pobres e para as empresas que estão quebrando, muito pequeno negócio. Apresentar um plano para o país ter esperança de sair da crise, ter uma relação mais estável com os deputados. Pensar um modo “inteligente” de lidar com a eleição do próximo presidente da Câmara. Tem de ajudar a formar a base, mas não pode querer decidir resultado.
Objetivamente, poderia vir mudança mais essencial, tal como mexer no teto de gastos, por exemplo? Ninguém fala disso, no sentido de que não é nem assunto de discussão grande. O teto não impediu o aumento de gasto extraordinário neste ano, argumenta. Não quer dizer que o gasto extraordinário vá continuar no ano que vem. Mas vai ser preciso rediscutir o caso a cada avaliação que houver da economia e da “crise social”.
Com uma queda grande da economia, a vida estará difícil também em 2021. Não será possível cortar a ajuda de uma hora para outra e não é possível ficar apenas na ajuda (como o auxílio emergencial). Vai ser preciso criar emprego, diz. Como fazer, é uma questão.
Essa história de que o centrão quer logo um plano de obras e gastança seria conversa. Ninguém sabe direito o que fazer nem tem ainda articulação para fazer uma mudança: “O pessoal está meio na muda, quieto, olha até o Rodrigo [Maia, presidente da Câmara]”. Mas a situação mudou, daqui a pouco vai aparecer uma ideia de mudar também alguma coisa da política econômica, como já mudou e não tem muita volta.
Pablo Ortellado: Paulo Guedes é a expressão econômica do governo Bolsonaro
Política de Guedes não é contrapeso racional ao radicalismo de Bolsonaro, mas sua própria expressão econômica
Existe uma compreensão difundida de que Paulo Guedes seria uma espécie de contrapeso racional e tecnocrático ao radicalismo irresponsável de Bolsonaro. Mas, se olharmos com atenção, veremos que Guedes não é um contrapeso, nem mesmo um adendo, mas a própria expressão econômica do desatino.
Muitos acreditam que enquanto na política Bolsonaro propagava desinformação sobre o coronavírus, na economia Paulo Guedes desenhava respostas sensatas de política econômica —era o tecnocrata cauteloso e prudente que ia às reuniões de máscara e que contrastava com o governo, que promovia aglomerações e combatia o distanciamento social.
Mas as declarações e o conteúdo das políticas de Guedes parecem o oposto disso. Suas políticas são não só compatíveis como a consequência lógica da retórica despreocupada com a proteção da vida.
Desde o começo da crise, Guedes defende a ideia de que a queda rápida no desempenho econômico será compensada por uma retomada acelerada, em formato de V. "Vamos surpreender o mundo", disse repetidas vezes.
O otimismo com a possibilidade de retomada rápida não é compatível com nenhum dos cenários apontados pelos epidemiologistas que preveem a necessidade de períodos de quarentena intercalados com períodos de relaxamento controlado --pelo menos até encontrarmos um tratamento efetivo ou uma vacina.
O que o otimismo de Guedes antes sugere é a crença de que a crise é uma janela de oportunidade, versão sofisticada da conspiração do "vírus chinês". Ela pressupõe que os riscos e os danos do coronavírus estejam sendo exagerados pelas autoridades médicas e sanitárias e que quem não se deixar levar pelo alarmismo pode se beneficiar das vantagens de retomar a atividade econômica mais cedo.
Esse entendimento é consistente com a profunda insensibilidade social das medidas de proteção ao trabalho e da limitação dos fundos para apoiar os estados e as empresas. A taxa de reposição dos salários que sofrerem redução das jornadas ou suspensão dos contratos --isto é, o quanto o governo repõe do que as empresas cortam-- está muito abaixo da média da OCDE, grupo ao qual o governo Bolsonaro quer se juntar. O auxílio aos informais oferecido por Guedes era de ridículos R$ 200 por família, e só foi ampliado para até R$ 1.200 depois que Maia tomou o problema para si.
Por isso, o atraso no desembolso do auxílio às empresas e aos trabalhadores muitas vezes não parece apenas incompetência, mas uma forma dissimulada de forçar a abertura precoce da economia e atropelar o distanciamento social.
*Pablo Ortellado, professor do curso de gestão de políticas públicas da USP, é doutor em filosofia.
Hélio Schwartsman: Salvar a democracia
País já falhou na epidemia; não pode falhar na democracia
Não gosto da ideia de adiar as eleições municipais previstas para o segundo semestre e considero golpe a proposta de esticar o mandato dos atuais prefeitos e vereadores até 2022.
No mês passado, num momento da pandemia ao que tudo indica mais agudo do que será outubro, sul-coreanos foram às urnas sem que o surto tenha recrudescido. É uma prova de princípio de que eleições podem ser realizadas sem pôr a população em perigo.
É claro que talvez sejam necessárias adaptações. O problema é que nossa legislação eleitoral é rígida, detalhista e não admite alterações que não tenham sido aprovadas ao menos um ano antes do pleito. Daí que sugiro aprovar desde já uma PEC que conceda à Justiça Eleitoral, em caráter excepcional, poderes discricionários para alterar prazos e eventualmente mexer em outros aspectos do pleito.
A principal dificuldade prática é o teste das urnas eletrônicas. Não me convence. Ainda há muito tempo até outubro, e não vejo motivo para não classificarmos o trabalho do pessoal dos cartórios eleitorais como essencial. Afinal, se padarias e centrais de atendimento telefônico podem funcionar, a conferência das urnas também pode.
No plano político, o obstáculo no cronograma são as convenções partidárias, que devem ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. O receio é que elas produzam aglomerações. De novo, não me convence. Basta determinar às legendas que realizem seus encontros de forma remota. Há tempo de sobra para preparar isso.
Se o afastamento social ainda for necessário em outubro, a Justiça pode fazer com que a votação se estenda por mais de um dia, para evitar as filas. Obviamente, seria preciso também suspender a obrigatoriedade do voto, para que as pessoas que não se sintam seguras em expor-se ao vírus não sejam obrigadas a fazê-lo.
O Brasil já fracassou no controle da epidemia; não precisa fracassar também na manutenção da democracia.
Leandro Colon: O jogo Bolsonaro x Moro é político
Se o presidente cometeu crime, é problema da PGR; à mesa agora está uma série de elementos políticos graves
Há um movimento em Brasília de desqualificação do depoimento de Sergio Moro à Polícia Federal.
Críticas vêm de advogados de enrolados com a Lava Jato, de parlamentares que integram um Congresso pouco simpático ao ex-juiz e de magistrados de tribunais superiores que nunca morreram de amores por ele.
Os ataques do Planalto à oitiva não contam, afinal Jair Bolsonaro é o alvo dela. O entorno de Augusto Aras, escolhido por Bolsonaro para chefiar a Procuradoria-Geral da República, tem diminuído nos bastidores a importância do relato à polícia.
É fato que Moro frustrou quem esperava algo bombástico. Não foi assim. Não houve um petardo desconcertante em Bolsonaro. Se o presidente cometeu crime, é um problema da PGR e do STF identificá-lo. À mesa agora está uma série de elementos políticos bem graves.
Fernando Collor sofreu impeachment em 1992 e foi absolvido pelo Supremo. Dilma Rousseff foi retirada do Palácio do Planalto em 2016 com base nas pedaladas fiscais, mas pouco sofreu na esfera penal.
O jogo é político, e Moro enumerou pistas. Citou o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril - cuja existência foi revelada pelo próprio Bolsonaro - como suposta prova da pressão sobre a PF. E jogou três ministros militares na fogueira: Braga Netto, Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno.
O trio de generais vai depor à PF nesta terça-feira (12). Suponha-se que eles falarão a verdade.
No último dia 23, horas depois de a Folha revelar o pedido de demissão de Moro a Bolsonaro, Braga Netto disse em entrevista coletiva no Planalto que a assessoria do então ministro “desmentiu” sua saída.
Não era verdade. Não só jamais houve desmentido oficial como o próprio Braga Netto havia tratado do assunto com Moro pouco antes. O ministro da Casa Civil sabia que ele pedira demissão ao presidente.
Já Ramos não pode negar os conflitos entre Moro e Bolsonaro. Na manhã do dia 24, tentou inclusive falar com ex-ministro por meio de Luiz Pontel, então secretário-executivo do Ministério da Justiça, para impedir o anúncio da demissão às 11h daquela sexta-feira. Não conseguiu.
Vinicius Torres Freire: País está sem diagnóstico para conter depressão econômica
A subnotificação de casos e mortes por Covid-19 se tornou assunto corriqueiro no Brasil, assim como a escassez de testes e a falta de planos racionais do relaxar o distanciamento social. Fala-se menos ou quase nada da subnotificação da ruína econômica, da falta de diagnósticos sobre o desastre nas empresas e nos empregos, assim como um plano de contenção da crise e de reativação do país.
No momento, tudo se passa como se o governo federal, em particular, tivesse feito o que pode (ou o que quer) quanto as medidas para atenuar a catástrofe. Quanto ao futuro, por ora o que se sabe de planos é “business as usual”. Espera-se para ver o que vai dar. Quem sobreviver verá. Empresas morrem, é assim o mercado, diz o ministro Paulo Guedes (Economia).
Isto é, prevê-se apenas a retomada das “reformas”, manutenção das regras fiscais e contenção de despesas logo em 2021.
A melhoria da regulação do investimento e um bom plano de concessões atrairiam dinheiro privado para grandes projetos de infraestrutura. Apesar das promessas desde 2017, tal coisa não ocorreu: nem regulação significativamente melhor, nem projetos bastantes, nem carradas de investimento privado, em infraestrutura ou em qualquer outra parte.
No entanto, é fácil perceber que a economia estará em situação muitíssimo pior do que nos anos de quase estagnação de 2017 a 2019 (e como seria este 2020, sem epidemia), de crescimento em torno de 1% ao ano.
Por que desta vez, em 2021 ou depois, seria diferente? De resto, por que as “reformas”, micro ou macro, dependam de leis ou de meras decisões e capacidades executivas, ora invisíveis, andariam mais rápido agora, em ambiente de degradação política ainda maior?
Setores inteiros da economia, ou o que restar deles, não voltarão a funcionar como dantes tão cedo (um ano?). A queda brutal dos rendimentos do trabalho, associada à precaução no mundo pós-distanciamento social, vai conter o consumo; a destruição de poupanças financeiras das famílias terá o mesmo efeito.
A procura de crédito para consumo já despencou nos bancos. Não é razoável acreditar que aumente tão cedo ou que existam tomadores de empréstimo com risco baixo em número bastante no futuro próximo, com o que os bancos também serão cautelosos.
A capacidade ociosa de produção vai aumentar ainda mais. Assim, o investimento privado, já reticente até o início deste 2020, vai continuar na retranca por ainda mais tempo.
Com a massa de rendimentos do trabalho em baixa, desemprego literalmente imenso (nem temos medidas), ociosidade que dispensa investimento, grande destruição de empresas e uma improvável onda de investimento privado em infraestrutura, como o Brasil vai sair do chão? Puxando os cabelos?
De onde virá o aumento da demanda, o aumento da despesa de consumo e investimento? Alguém acredita de fato que a dívida federal vai ser contida com redução de despesas nos próximos anos, redução que já era mínima até antes da epidemia? Ninguém vai pagar mais impostos? Quem? Como?
Alguém acredita que, com tais meras medidas de ajuste fiscal, sempre limitadas, será possível acelerar a saída da depressão? Alguém acredita que será possível evitar medidas de “achatamento da curva de juros longos” e juro zero a curto prazo (sem o que a dívida pública irá para as cucuias)?
Enfim, onde está o diagnóstico deste desastre e um plano de saída? Sabemos disso tanto quanto sabemos do número de casos de Covid-19. Provavelmente, muito menos. Estamos na escuridão, da política à economia.
Hélio Schwartsman: Voltamos ao normal
Fenômenos como Jair Bolsonaro são só manifestação paroxística dessa enfermidade coletiva
“Quando as coisas vão voltar ao normal?” é a pergunta que não quer calar. A palavra “normal” é traiçoeira, já que encerra tanto uma dimensão moral, designando algo nas proximidades de “aceitável”, como uma mais estatística, quando assume o significado de “corriqueiro”. Se nos centrarmos na segunda acepção, a resposta é: “acabamos de voltar”.
Doenças não apenas são uma constante na história da humanidade como também constituem uma das principais forças a modular a evolução das espécies. Elas estão por trás de algumas das mais dramáticas transformações da vida no planeta, como o advento da reprodução sexuada.
Se há uma parcial exceção a essa regra são as últimas sete ou oito décadas, quando uma feliz conjunção de desdobramentos da ciência —a difusão do tratamento de água e esgoto, das vacinas e de agentes antimicrobianos— fez com que os países desenvolvidos experimentassem a sensação de que as doenças infecciosas haviam sido derrotadas.
Com efeito, conseguimos extinguir a varíola e, nas nações mais avançadas, praticamente zerar as mortes por pólio, sarampo, raiva, arboviroses e helmintíases. Países em desenvolvimento iam na mesma trilha.
Essas poucas décadas de sucesso nos deixaram mal acostumados. Perdemos a sensação de angústia que as doenças infecciosas produziam em nossas mentes. Esquecemos que, oito décadas atrás —a geração de meus pais—, ainda se morria por causa de um corte bobo que infeccionasse e as diarreias faziam com que enterrar bebês fosse coisa absolutamente normal.
Paradoxalmente, essa dessensibilização para a gravidade das infecções nos leva a atitudes que ficam entre as suicidas, como deixar de vacinar as crianças, e as temerárias, como não investir em vigilância epidemiológica e no desenvolvimento de novas classes de antibióticos. Fenômenos como Jair Bolsonaro são só uma manifestação paroxística dessa enfermidade coletiva.
Bruno Boghossian: Bolsonaro errou todas na crise do coronavírus
Previsões furadas e palpites sem fundamento provam que a palavra do presidente não vale nada
Em 17 de março, Jair Bolsonaro disse que a Itália sofria com o coronavírus por causa da quantidade de habitantes idosos no país. “São muito mais sensíveis, morre mais gente”, afirmou. Ele sugeriu que os brasileiros, portanto, não deveriam se preocupar com a pandemia.
O presidente errou. Embora seja mais grave para os mais velhos, a Covid-19 matou proporcionalmente mais jovens no Brasil do que em alguns outros países. Entre os italianos, só 5% das vítimas tinham menos de 60 anos. Por aqui, esse percentual é de 30%, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde.
No dia 18 de março, Bolsonaro declarou ter informações de que o vírus não se propagaria no país devido ao “clima mais tropical”. Em Manaus, onde os termômetros marcaram 30ºC na última semana, o número de casos ultrapassou 6.000 e a rede de saúde entrou em colapso.
Quatro dias depois, o presidente lançou a previsão de que os óbitos pelo coronavírus não chegariam aos 796 da pandemia de H1N1, em 2009. O Brasil já se aproximou desse número de mortes num único dia.
Em 24 de março, veio o famoso pronunciamento tresloucado de Bolsonaro em rede nacional de TV. “O vírus chegou, está sendo enfrentado e brevemente passará”, inventou, quando o Brasil registrava apenas 46 mortes. Agora, são mais de 10 mil.
Ainda em março, dois dias depois, Bolsonaro disse que o país não enfrentaria a disparada observada nos EUA, “até porque o brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada”. Naquela data, 1.300 americanos haviam morrido. O Brasil bateu a marca em pouco mais de duas semanas.
Em 12 de abril, o presidente arriscou de novo. “Parece que está começando a ir embora a questão do vírus”, declarou, emendando sua campanha pela retomada da economia. Desde então, a contaminação e as mortes diárias dispararam.
Bolsonaro perdeu todas até agora. Mesmo assim, ele ainda tenta se intrometer no trabalho de combate à pandemia. Já está claro que suas palavras não valem nada.
Roberto Simon: A ordem global numa máquina do tempo
Covid-19 acelera tendências mundiais adversas ao Brasil
“Há décadas em que nada acontece, e há semanas em que décadas acontecem”, teria dito Lênin, em meio ao turbilhão da Revolução Russa. No mês passado, completaram-se 150 anos do nascimento do pai-fundador do império soviético, com a frase que lhe é atribuída a ganhar uma estranha atualidade.
Com a Covid-19, décadas aconteceram nas últimas semanas.
Há enorme incerteza sobre a ordem internacional que emergirá ao final da crise que vivemos. Mas vozes distintas –como Dani Rodrik, economista de Harvard, ou Richard Haas, o presidente do Council on Foreign Relations, o mais importante think-tank americano– convergem a um ponto.
Pode-se pensar a pandemia como uma espécie de máquina do tempo. Mais do que criar algo inteiramente novo, a Covid-19 acelerará transformações globais que já estavam em curso.
Um exemplo: a incapacidade dos grandes atores internacionais de agirem conjuntamente diante de problemas comuns –do aquecimento global ao comércio, da paz à própria contenção de pandemias.
Falava-se, desde antes, em “crise do multilateralismo” ou em um mundo “G-Zero”, em oposição ao G-7, G-20 e afins.
Devemos ver, agora, a decadência acelerada da ordem liberal que nasceu no pós-Segunda Guerra, e o que virá depois parece mais turbulento.
Uma das grandes causas dessa mudança é a retração global dos EUA, a força hegemônica que sustentou o mundo pós-1945. O poder relativo de Washington segue inconteste, mas ele é bem menor do que já foi. Os EUA representavam metade do PIB global nos anos 50. Hoje, são um sétimo.
Americanos tampouco querem exercer o papel de antes: o "America First" de Trump é o paroxismo de um recuo que vinha pelo menos desde a eleição de Obama, em meio à exaustão com guerras ao terror e outros fracassos globais.
Quem ocupará esse espaço? A China, em parte. Mas, se havia alguma esperança de que essa travessia poderia ser feita sem grandes solavancos, a Covid-19 é um choque de realidade. Estamos no momento de maior tensão entre grandes potências desde o fim da Guerra Fria, com Washington e Pequim embrenhados em disputas comerciais, estratégicas e de modelos políticos.
A Covid-19 deve também ampliar desigualdades dentro e entre países, com a América Latina ainda mais distante dos desenvolvidos. Desde 2014, a região vive seu período de menor crescimento econômico em sete décadas. O vírus chegou no pior momento possível.
O Brasil, por sua vez, nunca enfrentou um momento de reordenamento global em uma posição de tamanha fraqueza. Ao fim da Segunda Guerra, nos sentamos à mesa dos grandes para desenhar as instituições que governariam o mundo.
Quando acabou a Guerra Fria, vivíamos um momento de crise da dívida e inflação, mas criávamos a terceira maior democracia do mundo, com uma visão clara sobre sua vocação global: autonomia e defesa do direito, paz, meio ambiente e integração regional.
O bolsonarismo quer aniquilar esse projeto, enquanto a pandemia cria uma conjuntura cada vez mais adversa ao Brasil.
Mas a resistência ao desmonte cresce –à exemplo do manifesto, publicado na Folha e em outros jornais, de oito grandes formuladores da política externa que serviram em governos diversos.
A reconstrução é o primeiro passo. Uma jornada para dar ao Brasil posição relevante, no novo mundo pós-pandemia, será longa.
*Roberto Simon, é diretor sênior de política do Council of the Americas e mestre em políticas públicas pela Universidade Harvard
Demétrio Magnoli: Carta a um não confinado
Consertamos a economia depois, todos juntos, sem individualismo
Não ponho o pé na rua há semanas. Leio, aproveito meu pacote da Netflix, experimento receitas, até comecei a pintar. Exercito-me na esteira da sala. Peço tudo por aplicativo. Faço sacrifícios: sinto falta do Iguatemi, dos meus restaurantes preferidos, de viajar.
Você, não confinado, sabota meus sacrifícios, espalhando o vírus. Devo qualificá-lo como um ser antissocial.
Não há vacina ou remédio confiável. O governo Bolsonaro ignora a pandemia, fechou o Ministério da Saúde, não coordena esforços de testagem. São mais motivos para ficar em casa, nossa única salvação.
O renomado cientista Miguel Nicolelis disse que a quarentena é para "evitar contágios". Itália e Espanha estão flexibilizando a medida com, respectivamente, 1.552 e 2.397 contágios médios diários na última semana. Seus governos irresponsáveis deram as costas à ciência. Você nunca a seguiu.
Leio na Folha as palavras sábias do sanitarista Claudio Henriques, que adiciona prazos à meta expressa por Nicolelis. A quarentena deve perdurar por "mais de um ano" e precisará ser reforçada por períodos de "lockdown" com "cerca de duas semanas cada". Ok: home office direto, via Zoom. Perdi um naco de renda; meus gastos, porém, também diminuíram. Mas essa extensão de meus sacrifícios só terá sentido se você ficar em casa, como eu. Hora de chamar a polícia, Doria!
Os restaurantes, graças aos céus, ainda não podem abrir na Itália. Seus proprietários iniciaram um movimento coletivo de entrega das chaves aos prefeitos. Mercenários: pressionam pelo desconfinamento em nome do vil metal. Vocês, donos de lojinhas e serviços não essenciais que furam a quarentena no Belém, no Brás, no Pari, são ainda piores que eles. Chega, né, Covas? Tem que trancar tudo, com multas exemplares.
Guedes boicota a rede emergencial de proteção social, atrasando o pagamento dos vouchers para os pobres. São meros R$ 600. Ok, acho pouco. Mas nada disso desculpa as cenas das favelas que retomam a normalidade. A vida é o bem maior. Você, informal desconfinado, revela sua ignorância ao desrespeitar a norma sanitária ditada pela ciência. Todos estamos no mesmo barco: dê sua cota de sacrifício, como dou a minha.
Quarentena tem, afinal, coisas boas. O planeta descansa, a natureza respira, a humanidade usa o tempo livre para reaprender a solidariedade. Louvo os corajosos médicos que estão na linha de frente. Postei homenagem no meu Insta, que ganha seguidores.
Vejo imagens de crianças descalças jogando bola na rua de uma favela, não sei se na zona oeste ou na leste. Serão filhos de auxiliares de enfermagem? Pouco importa: um sacrifício não justifica uma negligência. As escolas fecharam para evitar o tráfego do vírus pela ponte dos assintomáticos. Meu filho brinca no playground do prédio, quando desliga o celular. De quantas mortes você precisa para segurar as crianças em casa?
Sigo, atento, as estatísticas da Covid-19. A curva sobe, sinistra. Leio projeções sombrias de queda do PIB. Cinco milhões perderam empregos ou tiveram cortes salariais. Há, nesses milhões, gente como você, que se desconfina --e diz ao Datafolha que a quarentena deve terminar. Por falta de escola, você não aprendeu a ordem das coisas: a distinção entre gráficos relevantes e insignificantes. Economia, consertamos depois. Daqui a um ano pensamos nisso. Todos juntos, sem individualismo.
O Ocidente fracassou --e nem falo dos EUA. A Alemanha reabriu todo o comércio num dia com 282 óbitos, mais de mil contágios. É deboche da ciência. A China, sim, funciona. Lei marcial. Queria ver você lá, em Wuhan, onde dão valor à vida. O isolamento em São Paulo caiu a 47%. Covas, fracote, desistiu de bloquear avenidas. Mas disse certo: "As pessoas não entenderam a mensagem".
Basta. "Lockdown" já! Com esse zé povinho não dá. Odeio você.
Assino: um cidadão informado. Volto às séries.
*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
Igor Gielow: Mitos cercam a 2ª Guerra, encerrada há 75 anos na Europa
Visões antagônicas de vencedores do conflito com o Eixo distorcem realidade
O evento culminante do século 20, responsável pela arquitetura do mundo que hoje está em desarranjo devido à pandemia da Covid-19, completa 75 anos de seu fim nesta sexta (8).
Bom, isso se você achar que o fim da Segunda Guerra Mundial deve ser marcado pela capitulação da Alemanha nazista, poucos dias depois do suicídio do ditador Adolf Hitler.
A guerra em si seguiu seu curso até 2 de setembro, quando os japoneses entregaram os pontos por medo de aniquilação atômica. Ou não, dado que essa assertiva sobre o fim da guerra no Pacífico é objeto de contestações.
Mitos acerca dos rumos da guerra mais mortífera da história, com talvez 70 milhões de fatalidades, existem desde que as fake news não se chamavam assim.
Muito vem da produção cultural dos vencedores: a ideia de que o Dia D foi realmente o dia D da guerra é coisa do cinema norte-americano —que credita aos EUA, e não aos mais importantes britânicos, a operação.
Russos nem sequer chamam a Segunda Guerra por esse nome, ciosos de sua leitura sobre as origens do conflito e do preço pago em sangue (27 milhões de mortos).
Tomos inteiros foram dedicados, ao longo dos anos, a tentar colocar ordem na casa. Abaixo, a Folha elenca algumas dessas versões.
Quem deixou Hitler agir?
Se Hitler (1889-1945) é o vilão da história, por sua política expansionista que levou à invasão da Polônia em 1939, os vencedores têm suas parcelas de culpa. Russos apontam para o Acordo de Munique (1938), quando o Ocidente deixou Hitler com rédea solta. Na mão contrária, o pacto nazi-soviético de 1939 abriu caminho para a guerra.
Hitler era um líder militar brilhante
Hitler era titubeante. Seu sucesso inicial, muito decorrente de táticas de seus comandantes, como Heinz Guderian, o lançou em aventuras suicidas, como a insistência em tomar Stalingrado.
Os poloneses lutaram com cavalos contra tanques
Havia regimentos de cavalaria em todos os exércitos europeus, mas a ideia de que cavalos foram usados contra tanques era parte da propaganda alemã para inferiorizar os poloneses.
Aliás, ninguém usava cavalos
Ao contrário. A Alemanha usou 2,75 milhões de animais e tinha três vezes mais cavalos do que veículos no começo da guerra. Os soviéticos usaram ainda mais: 3,1 milhões.
A França caiu por fraqueza
Paris caiu em seis semanas pelos nazistas por uma questão tática: não estavam preparados para a Blitzkrieg (guerra-relâmpago) alemã.
Londres repeliu a invasão
Versão amparada na bravura do comando de Winston Churchill (1874-1965) e na Batalha da Inglaterra, travada nos ares. Mas a Alemanha não tinha, em 1940, meios navais suficientes para efetuar a invasão. Em 1941, já estava engajada com a União Soviética.
O atraso na invasão fez Hitler perder na União Soviética
É comum dizer que a invasão da Iugoslávia e da Grécia, para salvar os aliados italianos, atrasou o ataque aos soviéticos em 1941, levando o duro inverno russo a parar os nazistas. A invasão só ocorreu em junho porque antes é o período de chuvas no país, que virava um lamaçal. O inverno afetou os alemães, mas muito porque tinham avançado demais e enfraquecido suas linhas de suprimento.
Stálin só reagiu por causa da ajuda americana
O ditador soviético Josef Stálin (1878-1953) recebeu aviões, jipes e caminhões. Mas o grosso da ajuda começou a chegar na virada de 1943 para 1944, quando suas tropas já estavam às portas da Polônia.
No papel, sim, mas houve bastante colaboração com nazistas, que protegiam seu ouro em cofres suíços e contavam com a proibição do uso do espaço aéreo por aviões aliados.
A máquina de guerra alemã era eficiente
As memórias de Albert Speer, arquiteto de Hitler e seu ministro dos Armamentos, mostra uma máquina confusa e cheia de sobreposições mesmo em tempos de paz.
Os soviéticos sempre foram mais numerosos
Nas principais batalhas da guerra até 1943, não. O maior engajamento militar da história, a Batalha de Moscou, opôs 1,4 milhão de soviéticos a 2 milhões de alemães.
Perder o Norte da África foi fatal para Hitler
A ideia de que os alemães queriam conquistar o Egito para tomar o petróleo do Oriente Médio é história alternativa: a opção poderia ter dado a vitória a Berlim. Na prática, Hitler só interveio com recursos mínimos no Norte da África para evitar a humilhação do aliado Benito Mussolini (1883-1945). Mesmo a consequente invasão aliada da Itália foi secundária para a derrota nazista.
O Dia D foi decisivo
Antes de 6 de junho de 1944, as grandes derrotas alemãs ante os soviéticos, como Kursk e Stalingrado, selaram o destino de Hitler. No dia 22 de junho, uma operação soviética três vezes maior acelerava rumo a Berlim. O Dia D certamente acelerou as coisas, mas hoje parece ter tido papel mais importante para evitar que os soviéticos tomassem toda a Europa Ocidental.
Os americanos lutavam com 'soldados cidadãos'
Outro mito hollywoodiano. Dois terços dos soldados dos EUA na guerra foram convocados, não se alistaram para defender a democracia.
A Resistência Francesa foi vital para os aliados
Romantização dos tempos de “Casablanca”, o papel da Resistência foi mais de ajudar a reunir dados de inteligência do que para fulminar nazistas.
Churchill era unanimidade
Ele era tão polêmico entre seus aliados e eleitores que foi escorraçado do poder em 1945, quando os canhões mal tinham esfriado. Seu brilho em 1940 foi o que ficou para a história, mas sua carreira foi marcada por fracassos.
A bomba atômica forçou o fim da guerra
Se os artefatos que mataram 200 mil pessoas tiveram impacto, a campanha de bombardeio já havia tornado a posição nipônica insustentável. Além disso, a invasão soviética dos territórios japoneses na China, no mesmo dia da bomba de Nagasaki, prenunciou um conflito sem chance para o império. Isso enfraquece o argumento de que a bomba evitou milhões de mortes numa invasão americana.
Só os nazistas fizeram atrocidades na guerra
O Holocausto é o crime mais inominável do período. Mas a lista pode incluir a obliteração de cidades alemãs pelos aliados, a brutalidade japonesa em suas ocupações e os estupros em série e a violência soviética na Alemanha, entre muitos outros.