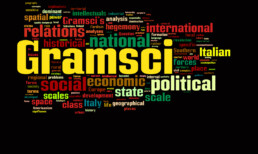destaque
José Antonio Segatto: Política e representação
Os problemas do voto proporcional poderiam ser resolvidos, em parte, por medidas simples. Mais uma vez, como tem ocorrido invariavelmente em todos os momentos de crise, a reforma política é aventada como panaceia para todos os problemas do sistema de representação e gestão política do País. Em suas diferentes versões, tanto em sentido estrito (mudanças na legislação eleitoral e de regulação partidária) como lato (alterações na forma de governo), seria condição indispensável para conformar o sistema político à governabilidade e à democracia. Uma das medidas primordiais seria a substituição do voto proporcional pelo majoritário/distrital para a eleição de deputados federais e estaduais.
Seus defensores justificam que seria a melhor maneira de aproximar os eleitores da política – a delimitação espacial das circunscrições eleitorais avizinharia representados e representantes, facilitando a cobrança de uns e forçando a prestação de contas de outros. Além disso, tornaria os pleitos menos custosos, eliminaria as deformações do sistema proporcional, em que o eleitor não tem controle de seu voto, e, o que mais importa, diminuiria a quantidade de partidos, excluindo mesmo as minorias e/ou as pequenas legendas, convertendo a governabilidade em algo mais exequível.
Essas razões que embasam as proposições em prol do sufrágio majoritário/distrital podem ser objetadas em muitos de seus aspectos: 1) a divisão das atuais circunscrições eleitorais (Estados) em unidades bem menores, correspondentes à quantidade de representantes nos Parlamentos, coloca o problema da delimitação de suas fronteiras pelo número de eleitores e a diferença entre os pleitos (federais e estaduais), com quantuns diversos de representantes; os critérios para o redesenho dos distritos podem implicar ordenações arbitrárias de privilegiamento de interesses locais ou regionais e oligárquicos. 2) As eleições majoritárias uninominais, ao eleger candidatos por maioria simples, eliminam minorias (mesmo que expressivas), tendem a resultar em governos unitários e subtraem atribuições dos partidos políticos, fomentando o personalismo. 3) A tese de que aproxima os cidadãos de seus representantes por meio da defesa de interesses locais é falaciosa; os atributos de um deputado federal é o de legislar e tratar de questões nacionais, e não de demandas particularistas ou regionais – o risco que se corre é o de conceber vereadores federais (ou estaduais) ou despachantes paroquiais. 4) É duvidosa a alegação de que o sistema de voto distrital diminui os custos das campanhas; os dados revelam que as eleições majoritárias, mesmo que limitadas espacialmente, são sempre mais caras que as proporcionais. 5) O argumento segundo o qual as eleições por distritos menores amplificariam a eficácia parlamentar e potencializariam a representação contém forte teor ideológico, pois, ao contrário, a probabilidade de gerar correspondência assimétrica entre os votos e a representação é bem mais elevada nos pleitos majoritários do que nos proporcionais – exemplos disso são os sistemas eleitorais distritais norte-americano, inglês, francês e outros.
Seria possível enumerar outros problemas do voto distrital/majoritário e suas impropriedades para a representação política democrática. Acredito, entretanto, que os já enumerados são suficientes para apontar que o sistema de eleições proporcionais, embora imperfeito, tem se mostrado mais equitativo para representar a soberania popular, conforme indicam as experiências – mesmo as propostas híbridas, mescla do voto majoritário uninominal com proporcional de lista fechada, como o sistema distrital misto, não revogam suas vicissitudes.
Ademais, as facções políticas que pregam como imperioso o voto majoritário/distrital o apresentam como uma grande novidade e remédio para os muitos males da política brasileira. Esquecem-se, como que numa amnésia histórica, de que tal tipo de sistemática eleitoral foi utilizada por um longo período no País – obviamente que em outras circunstâncias e/ou época –, no Império e na República, desde meados do século 19 até 1930. Seus resultados não foram nem um pouco promissores – atendeu cabalmente aos propósitos do domínio oligárquico e coronelista e às conveniências políticas de uma elite parcamente democrática.
Substituindo o sistema distrital, o de voto proporcional de lista aberta em circunscrições (distritos) equivalentes aos entes nacionais (Estados) vem sendo praticado há mais de sete décadas e, ao longo desse período, sofreu alterações diversas. É inegável que, não obstante certos aperfeiçoamentos, contém ainda muitas imperfeições. Por exemplo: o fato de o eleitor votar em fulano e, com frequência, eleger sicrano, votar no candidato do partido x e eleger o postulante do y (nas coligações); o constante encarecimento das campanhas e as interferências do poder econômico em seu financiamento; entre outras resultantes indesejáveis.
Esses problemas, entretanto, poderiam ser resolvidos, em parte, por medidas simples como a proibição de coligações nas eleições proporcionais e/ou sua substituição pelo mecanismo de federações partidárias; a troca da lista aberta pela lista fechada flexível, estabelecida em prévias eleitorais partidárias, etc. A estas poderiam ser vinculadas a fixação de uma cláusula de barreira para que o partido tenha direito ao funcionamento legislativo, acesso ao fundo partidário e ao horário eleitoral gratuito; de um fundo para financiamento público de campanhas eleitorais; a correção da desproporção de representação entre os Estados na Câmara e no Senado; etc. Tais medidas, indubitavelmente, seriam providenciais para salvaguardar a operacionalidade dos mecanismos de representação política e da soberania popular, afora regular o processo democrático, dando-lhe maior previsibilidade e legitimidade.
* José Antonio Segatto é professor titular de sociologia da Unesp
Luiz Carlos Azedo: As velhas raposas
O velho Piantella não perde a majestade. Na noite de quarta-feira, ao contrário da maioria dos deputados que gostam de futebol e foram assistir ao clássico Flamengo e Botafogo pela televisão (um zero a zero dos mais sem graça, no campo do Engenhão, no subúrbio carioca do Engenho de Dentro), um grupo de velhas raposas do Congresso se reunia nos fundos do velho reduto dos deputados Ulysses Guimarães (PMDB-SP) e Luiz Eduardo Magalhães (PFL-BA). Ambos pontificaram na política nacional tecendo grandes acordos políticos que garantiram a transição à democracia, o primeiro, e o sucesso do Plano Real, o segundo. Ambos deixaram discípulos na arte da política.
Estavam lá o atual decano da Casa, Miro Teixeira (Rede), eleito pela primeira vez nas eleições de 1974 com um caminhão de votos, Heráclito Fortes (PSB-PI), Benito Gama (PTB-BA), José Carlos Aleluia (DEM-BA), Rubens Bueno (PPS-PR) e Tadeu Alencar (PSB-PE), que é novo no grupo, mas respeitado porque é muito sensato e bom advogado, o que é muito importante nessas horas nas quais a criatividade pode selar o destino do país com uma boa saída jurídica. O assunto da conversa entre essas velhas raposas da política não poderia ser outro: desatar o nó da reforma política, em discussão na Câmara, que havia acabado de encerrar a sessão sem conseguir votar nenhuma proposta. Motivo: absoluta falta de clareza da maioria sobre o que fazer com o sistema eleitoral e o financiamento das campanhas.
Nessa roda de conversa, todos são contrários ao “fundão” de R$ 3,6 bilhões e a favor de uma forma de financiamento privado, com limite de arrecadação e previamente controlado pela Receita Federal. Se a fórmula que discutem será emplacada, não será a primeira vez que isso acontece. O grupo costuma jogar conversa fora em público e garante grandes acordos nos bastidores do plenário da Câmara. A maioria articulou os dois impeachments aprovados na Casa, do Collor de Melo e de Dilma Rousseff. Algumas conversas decisivas foram em almoços e jantares fechados na casa de Heráclito, no Lago Sul, sem a presença de jornalistas, lobistas e boquirrotos. Quem vaza conversas nesses encontros está fora do jogo. O convidado mais recente do grupo foi o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que resolveu sair da toca por causa do prefeito paulistano, João Doria.
Não há acordo no grupo sobre a outra proposta polêmica, o “distritão”, projeto que tem como um dos seus patronos o deputado Miro Teixeira. Seu amigo Rubens Bueno é radicalmente contra a proposta. Para Miro, o “distritão” não é problema, é solução. Elege-se com facilidade e se livra das amarras da Rede, embora não diga isso em nenhum momento. Para Rubens, é o fim dos partidos, principalmente os pequenos, com menos tempo de televisão e recursos, porque o leilão do troca-troca partidário já é uma realidade na Câmara. Benito Gama se diverte com a polêmica. Como bom baiano, ironiza a situação. E comemora o fato de o Congresso reagir às pressões da opinião pública. “Quem vai dar uma solução para crise política somos nós, os políticos, não são os juízes, promotores e militares. Democracia é assim!”
Essa é a questão de fundo da crise ética. Não há a menor possibilidade de uma solução a la Emmanuel Macron, o novo presidente francês, que deixou o governo do socialista de François Hollande, criou um movimento que, em um ano, filiou 200 mil militantes e derrotou gaulistas e socialistas, os tradicionais partidos franceses, levando de roldão a direita chauvinista de Marine Le Pen. A solução da crise terá que sair das eleições de 2018, é a regra do jogo democrático, cuja primeira condição é a manutenção do calendário eleitoral; a segunda, a possibilidade de alternância de poder.
Mas as regras da eleição estão sendo decididas por muitos líderes políticos acuados pela Lava-Jato e um baixo clero à beira de um ataque de nervos por causa do desgaste do Congresso. É nesse universo que essas raposas jogam no meio de campo e armam suas jogadas. A sociedade já detonou o “distritão” e o “fundão”. Até ministros do Supremo que votaram a favor do financiamento público já estão revendo suas posições contrárias ao financiamento privado. Miro Teixeira já queima as pestanas pra encontrar uma fórmula que salve o “distritão” do naufrágio. No momento, a ideia é “distritão” com voto em legenda. É uma tremenda jabuticaba, não existe em lugar algum. Mas ainda não colou!
Las Ramblas
Em 23 de junho, em férias, estava flanando por Las Ramblas, cujo nome é uma corruptela do árabe “ramla”, tão comum na Península Ibérica, que nesse caso significa leito de rio seco. A longa avenida de 1,2 km tem um grande calçadão que desce da Praça da Catalunha ao Porto Velho, no coração de Barcelona, pelo qual transitam diariamente de 230 mil a 310 mil pessoas. O atentado de ontem deixou ao menos 13 mortos e uma centena de feridos, de pelo menos 18 nacionalidades. Nenhum brasileiro, embora seja impossível fazer aquele trajeto sem ouvir os sotaques de diversas regiões do nosso país. O mundo está cada vez mais perigoso, não é só o Rio de Janeiro que tem motivos de sobra para se vestir de branco pela paz universal. (Correio Braziliense – 18/08/2018)
Mesa redonda: Um pouco de Gramsci nessa crise não faz mal a ninguém
Evento busca explorar o pensamento gramsciano em paralelo com a crise política que assola o país atualmente
Germano Martiniano
Neste ano em que se completa 80 anos da morte de Gramsci, a Fundação Astrojildo Pereira (FAP) realizará, no próximo 21 de agosto, às 18h, no Rio de Janeiro, o Seminário: Um pouco de Gramsci nessa crise não faz mal a ninguém. O evento, que conta com especialistas das obras do filósofo italiano, Alberto Aggio, Luiz Sergio Henriques e Andrea Lanzi, busca explorar o pensamento gramsciano em um paralelo com a crise política pela qual o país passa atualmente.
“A mesa redonda foi proposta para lembrarmos os 80 anos da morte de Gramsci. Isso é importante especialmente para nós, que somos os maiores divulgadores das interpretações e debates sobre o pensamento de Gramsci no Brasil por meio da coleção de livros (Brasil & Itália)”, disse Aggio, historiador e professor titular da UNESP.
Contexto
As conjunturas políticas atuais no Brasil têm despertado o interesse no debate em grande parcela da população, assim como tem feito que opiniões extremas, tanto a direita, quanto à esquerda, se fortaleçam. As redes sociais, por sua vez, têm sido “porta-voz” dessas manifestações, como também têm sido o palco de grandes dissidências.
Dentro deste contexto, no qual se vê Bolsonaro, na extrema direita, ganhar mais simpatizantes e, paralelo a isso, parte da esquerda, como PT, PCdoB e PSOL apoiar Maduro na Venezuela, é que o debate sobre a obra de Gramsci se faz mais importante. “Existem muitas interpretações a respeito do pensamento gramsciano, mas seguramente as mais aceitas e difundidas dão conta de que nele há uma perspectiva democrática importante e perspectivas culturais novíssimas que o marxismo do século XIX não comportava. Mais do que isso, Gramsci também foi um crítico aos caminhos que tomava a URSS e suas reflexões buscam uma saída em relação a esses descaminhos que, mais tarde, ficaram mais evidentes. Por tudo isso, vale a pena refletir sobre o pensamento do filósofo italiano”, acentuou Aggio.
Para dar início às reflexões que vão ser tratadas durante o Seminário, a FAP realizou uma entrevista com Luiz Sérgio Henriques, tradutor e ensaísta de Gramsci no Brasil, e que estará como um dos expositores no evento. Leia trechos a seguir:
FAP - A esquerda, atualmente, vive uma crise de identidade. Gramsci, que foi um vanguardista em sua época, já dava indícios em suas obras de que essa dicotomia clara entre capitalismo e socialismo, que ficou ainda mais evidente na Guerra Fria, acabaria?
Luiz Sérgio Henriques - Gramsci descobriu ou redescobriu o continente da política. Estabeleceu um conjunto notável de conceitos (hegemonia, revolução passiva, guerra de posição e de movimento, reforma intelectual e moral, a distinção entre o plano corporativo e o ético-político, etc.), que nem sempre estavam disponíveis no marxismo ou no que se entendia como marxismo. Foi atrás de outros autores e de outras tradições, inclusive liberais. Sabe-se que suas relações com Croce, um liberal clássico notavelmente importante em sua época, foram complexas, feitas de assimilação, recusa e reelaboração. Quantos marxistas agem assim, hoje, em face de Habermas ou Rawls, para dar dois exemplos bem conhecidos? Mesmo tendo se educado no universo socialista (PSI) e tendo se firmado depois como um político comunista, no âmbito da III Internacional, aquele conjunto de conceitos, aplicados à história de seu país, à evolução do socialismo soviético e ao desenvolvimento global do capitalismo, permitiu análises bastante originais que o colocam além do universo bolchevique e o destacam como um clássico da política do século XX. Percebeu, precocemente, o enrijecimento stalinista sob a forma da “estatolatria”: assim caracterizado, o comunismo soviético não teria condições de desafiar um capitalismo que se renovava com o fordismo e o americanismo. Mais cedo do que se pensa, a contraposição entre o mundo comunista e o mundo capitalista ocidental estava resolvida em favor deste último. A partir daí podemos inferir que contraposições frontais entre “campos” antagônicos não são produtivas, porque acabam, mais cedo ou mais tarde, induzindo fanatismos unilaterais e soluções de força.
Podemos ver no pensamento gramsciano uma saída para essa crise de identidade?
A política gramsciana, que recorre à hegemonia (isto é, à persuasão permanente entre sujeitos autônomos e ao deslocamento da relação de forças num contexto de liberdades), aponta numa outra direção. O momento da força fica inteiramente subordinado ao do consenso. Sublinhar isso pode nos ajudar a evitar até mesmo as catástrofes civilizatórias que, infelizmente, estão à espreita. Mas, evidentemente, tudo isto já é por nossa conta. Vemo-nos obrigados a ir muito além de Gramsci. Mesmo sendo muito menores do que ele, ao subirmos em seus ombros veremos coisas que ele não viu nem podia ver. Estamos condenados a “trair” Gramsci. Se o repetirmos, teremos o mesmo triste fim de todos os sectários.
Como interpretar a realidade brasileira, perante toda crise política que vivenciamos, sob a perspectiva gramsciana? Quais partidos políticos mais se aproximam dos seus ideais?
Não devemos adotar a posição de “apóstolos gramscianos” diante do Brasil. Nosso país tem uma densa história própria – uma história intelectual, inclusive. As categorias gramscianas ou quaisquer outras devem ser postas a serviço da compreensão desta realidade, senão não nos servem em absoluto. Vivemos um momento de crise nacional. Um momento, aliás, que se prolonga mais do que esperávamos. Por sua vez, Gramsci não foi um político particularmente bem sucedido, tanto que morreu prisioneiro. Mas, no cárcere, soube se valer da “paciência do conceito”. O fascismo não era um episódio, um parêntese na história do seu país. Vinha de longe, derivava de questões não resolvidas, entre elas a própria forma como se fizera a “unidade” italiana, subordinando o sul da península (que, grosseiramente, poderíamos aproximar do Nordeste brasileiro). Os males brasileiros decorrem igualmente de questões que tratamos mal ao longo do tempo. Nossos períodos de democracia foram curtos, logo interrompidos por surtos duradouros de autoritarismo. Ainda pensamos muitas vezes nos quadros mentais da “estatolatria”. Os sindicatos dependem do imposto sindical getulista, quando deveriam expressar, sobretudo, a vida associativa dos trabalhadores. Os partidos, mesmo os de esquerda, estão pouco presentes na vida social e se transformam facilmente em máquinas eleitorais ou em lugares de reprodução automática de mandatos. O nexo entre partidos, políticos e cultura é frágil, quando sabemos que, hoje, sem reflexão e estudo sério a política não consegue formular boas saídas para a sociedade. Mesmo a cultura, que deve se aproximar da vida das pessoas e dos problemas da política, não pode ser de modo algum ser instrumentalizada por esta última (a política). Devemos cultivar um “cosmopolitismo moderno”, abrindo nossos horizontes e arejando nossa agenda. Ao discutirmos sobre drogas, temos de estudar a experiência de outros países, como, por exemplo, o Uruguai ou Portugal. Muitas vezes, como no filme de Fernando Grostein Andrade e Cosmo Feilding-Mellen, teremos pacientemente de ir “quebrando tabus”. Ao discutirmos sobre violência, teremos de considerar o que acontece em sociedades, como a americana, que permitem a difusão abusiva de armas. Nesta nossa longa viagem no interior da sociedade civil, marxistas de inspiração gramsciana poderão dizer alguma coisa em proveito da convivência democrática e civilizada entre pessoas de múltiplas e variadas inspirações.
Existe uma relação entre a socialdemocracia e o pensamento de Gramsci? O modelo social democrata, dos moldes dos países nórdicos, poderia ser uma solução para o Brasil?
O Brasil tem uma particularidade, uma especificidade densa, como disse acima. Não caberia reproduzir aqui o modelo clássico das socialdemocracias, que também está posto em questão neste nosso admirável novo mundo da globalização. Aliás, temos de ter o mundo como horizonte. Nossa economia deve se integrar competitivamente no cenário global, não se fechar como uma autarquia. Hoje, os reacionários são nacionalistas e até provincianos. Da socialdemocracia clássica devemos reter a preocupação central e mesmo obsessiva com saúde e educação universal. Há variados meios de obter isso, combinando ação pública e iniciativa privada, regulação estatal e mercado. E estamos muito atrasados nessas áreas, infelizmente. É inteiramente lícito que forças economicamente mais ou menos liberais, mais ou menos estatistas, disputem o comando do estado, respeitadas as regras da democracia política. Mas todas estas forças, além de cuidar do funcionamento da máquina econômica, garantindo que funcione bem e se reproduzam de modo sustentável, deveriam - por assim dizer - ter o conhecido índice Gini como referência. Ao cabo de um determinado ciclo, conseguimos nos tornar menos desiguais? O consumo coletivo - nos transportes, na saúde, na educação - ganhou fôlego e se estendeu seus benefícios ao conjunto da população, especialmente aos mais desfavorecidos? Como dizia uma faixa nas jornadas de junho de 2013, povo desenvolvido não é aquele em que o mais pobre anda de carro (ou nem sequer anda, a depender do engarrafamento...), mas sim aquele em que muitos cidadãos, das mais variadas origens sociais, trafegam lado a lado no metrô e em outros bons transportes de massa, em ambientes urbanos saudáveis para todos. Esta é uma lição da social-democracia nos seus melhores anos, que certamente temos de consultar no espírito daquele cosmopolitismo de novo tipo, atento de modo inteligente às mais variadas experiências.
A mesa redonda terá transmissão ao vivo pelo canal no Facebook da FAP: https://www.facebook.com/facefap
Convite

Giuseppe Vacca: O século XX de Antonio Gramsci
Dossiê Gramsci, oitenta anos depois
Dois mil e dezessete é um “ano gramsciano”, por marcar o octogésimo aniversário da morte do pensador sardo, em 1937. Não é de hoje sua presença no debate político e na produção acadêmica brasileira. Uma presença que não é unívoca nem tem a mesma valoração por parte de todos os que se inspiram em maior ou menor medida nos textos daquele pensador. Nossa perspectiva — democrática e reformista — é uma das formas de acolher seu complexo legado. Sem a menor pretensão de qualquer monopólio ou ortodoxia, temos um objetivo “simples” e direto: pôr Gramsci a serviço da democracia brasileira.
Acolhemos a ideia de historicizar radicalmente os escritos do pensador, relacionando-os às diferentes circunstâncias em que foram produzidos — circunstâncias que inauguram nosso tempo, mas não são nem podem ser exatamente as mesmas aqui e agora. E tudo sem censuras, cortes ou embelezamentos. Certamente, este é um pressuposto da apropriação crítica, e não doutrinária, do autor, tornando-o apto a ajudar na compreensão de nossos problemas. Frases soltas ou conceitos descontextualizados têm assim validade muito restrita, ainda que possam ressaltar o brilho do escritor. Mas, como dissemos, nosso objetivo é de outra natureza.
Aqui reunimos três referências internacionais na área. Na abertura, Silvio Pons, atual presidente da Fundação Gramsci, em Roma, e sucessivamente Francesco Giasi e Giuseppe Vacca, diretores da mesma Fundação. Um tema recorrente nestas entrevistas é a monumental Edição Nacional dos Escritos, em curso de publicação. Mas não faltam alusões a questões substantivas da atualidade: a globalização e sua crise, para não falar dos imensos dilemas da própria esquerda.
A Fundação Astrojildo Pereira (FAP) e a Fundação Gramsci atuam conjuntamente no plano editorial, especialmente na coleção Brasil & Itália, acolhida e apresentada por Armênio Guedes, dirigente histórico do PCB associado entre nós às “ideias italianas”. De Giuseppe Vacca, já publicamos Por um novo reformismo; Gramsci no seu tempo (com Alberto Aggio e Luiz Sérgio Henriques); Vida e pensamento de Antonio Gramsci, 1926-1937; e Modernidades alternativas. O século XX de Antonio Gramsci. De Silvio Pons, publicamos A revolução global. História do comunismo internacional, 1917-1991, densa narrativa do impacto do comunismo no século passado.
(Entrevista dada a Leonardo Cazes, publicada parcialmente em O Globo, 26 abr. 2017)
O senhor defende que, ao contrário do que foi feito no passado por alguns estudiosos, não é possível separar a biografia política da biografia intelectual de Gramsci. Por quê?
Gramsci é universalmente considerado um clássico do pensamento político do século XX, mas jamais escreveu um livro. É um autor póstumo que foi, antes de mais nada, um combatente político e um jornalista. Deixou-nos cerca de dois mil textos jornalísticos e políticos, cerca de 80% deles anônimos, publicados entre 1914 e 1926; uma copiosa correspondência, cuja parte mais ampla são as Cartas do cárcere, escritas entre 1926 e 1937; 33 cadernos manuscritos, os Cadernos do cárcere, escritos entre 1929 e 1935, reunidos em volume pela primeira vez dez anos depois de sua morte [a partir de 1947-1948]. Como se pode pensar em estudar seu pensamento, que nos Cadernos passa por uma contínua evolução, articulando-se gradualmente em “sistema”, se prescindirmos de sua biografia? E como interpretar seus conceitos fundamentais sem ligá-los às vicissitudes mundiais que, a partir da Grande Guerra, constituíram o campo de investigação de Gramsci e a fonte de suas reflexões mais audaciosas?
Em vários momentos, o senhor destaca a importância da leitura diacrônica da obra de Gramsci, sob o risco de se praticar reduções significativas do seu pensamento (caso de Bobbio e sua leitura de Gramsci como teórico da sociedade civil). Quais os principais pontos revelados por essa leitura diacrônica?
Recorrendo necessariamente a juízos sumários, creio poder dizer que o conhecimento da vida e do pensamento de Gramsci, acessível nos volumes publicados pela Ed. Contraponto e pela Fundação Astrojildo Pereira, dele nos oferece uma imagem global substancialmente nova e diversa daquelas elaboradas antes da Edição Nacional dos Escritos, que começou publicando, em 2007, os inéditos Cadernos de tradução. Mas, não podendo fazer uma descrição articulada destas novidades, remeto ao ensaio introdutório de meu livro Modernidades alternativas. O século XX de Antonio Gramsci. O ensaio, intitulado “Os estudos gramscianos hoje na Itália”, contém uma comparação sintética das diferenças entre os modos pelos quais era interpretado Gramsci entre os anos 60 e 80 do século passado, e os desenvolvimentos de uma nova leitura. A descontinuidade é fruto de um grande trabalho de recuperação das fontes — antes de tudo, as cartas — e do aperfeiçoamento do método diacrônico no estudo de seu pensamento, realizados por estudiosos que colaboram com a Fundação Gramsci e com a IGS [International Gramsci Society] há cerca de trinta anos.
Nos últimos dez anos, os estudos gramscianos ganharam novo fôlego, após um recuo na década de 1990, com a publicação da Edição Nacional dos Escritos de Antonio Gramsci. Qual a importância desta publicação?
A Edição Nacional, encaminhada no início dos anos 90, favoreceu a formação de uma nova geração de estudiosos que compartilham o método diacrônico na leitura dos Cadernos e interpretam o pensamento de Gramsci reconstruindo seus nexos com a história europeia e mundial do século XX. Os Cadernos do cárcere são publicados segundos novos agrupamentos — Cadernos de tradução, Cadernos miscelâneos, Cadernos especiais —, oferecendo ao leitor a temporalidade mais fiel àquela em que foram escritos. As cartas são publicadas com as dos correspondentes e, ao lado do Epistolário gramsciano, reunimos em dois volumes a correspondência entre Tatiana Schucht [a cunhada russa que lhe prestou assistência nos anos de cárcere] e Piero Sraffa [o economista que servia de elo com o PCI], bem como entre as famílias Schucht (em Moscou) e Gramsci (na Sardenha). Os escritos são republicados em ordem cronológica depois de um acurado exame das atribuições precedentes que nos permitiu inúmeras atribuições e “desatribuições”. Acrescenta-se uma seção de Documentos, em que já foi publicada a apostila que contém os apontamentos do Curso de Glotologia, de Matteo Giulio Bartoli, feitos por Gramsci no ano acadêmico de 1912-1913, fundamental para o estudo de sua formação. Portanto, a Edição Nacional é a primeira edição crítica integral dos escritos de Gramsci tratados com critérios exclusivamente filológicos e segundo o método histórico, sem sugerir nenhuma interpretação e restituindo textos e contextos de sua obra a seu tempo, como é obrigatório para um clássico do pensamento.
No seu livro Modernidades alternativas, o senhor centra sua análise em três conceitos de Gramsci: hegemonia, revolução passiva e filosofia da práxis. Especialmente o conceito de hegemonia já foi interpretado das maneiras mais diversas. De que Gramsci fala quando ele fala de hegemonia? De que maneira esse conceito permanece atual?
Vou tentar dar um exemplo. Se aplicarmos à história mundial contemporânea as lentes de Gramsci, o mundo do século XXI aparece marcado — mais do que pela globalização e por sua crise — por um conflito econômico que ameaça precipitar-se numa guerra de verdade. À luz do pensamento de Gramsci, esta situação teve origem na crise do sistema mundial do segundo pós-guerra — começada nos anos 70 do século passado e culminada com a implosão da URSS — que havia permitido décadas de estabilidade, e no surgimento de um conflito econômico mundial que se caracteriza pelo crescente conflito entre o “cosmopolitismo” da economia e o “nacionalismo” da política. Em outras palavras, as classes dirigentes não foram capazes de negociar novos equilíbrios mundiais baseados na simetria entre soberania política e soberania econômica, precipitando o mundo numa proliferação de guerras voltadas para destruir velhas soberanias políticas e abrir espaço à mercantilização, e favoreceram o desenvolvimento de neomercantilismos continentais nas “regiões” economicamente mais fortes, em crescente conflito entre si. Superado o velho sistema hegemônico mundial, não se formou nenhum outro novo e, portanto, volta à cena a equação entre a política e a guerra.
Gramsci é um intelectual profundamente marcado pelo tempo histórico em que viveu. Sua prisão talvez seja o melhor exemplo disso. Em 2017 completam-se 100 anos da Revolução de Outubro, na Rússia. Qual foi o impacto deste acontecimento na vida e na obra de Gramsci?
A vida e o pensamento de Gramsci foram marcados profundamente pela Revolução de Outubro e a luta pelo comunismo. Mas o que caracteriza aquele pensamento foi a capacidade de historicizar as novidades de seu tempo — grande guerra, comunismo, fascismo, americanismo, desmoronamento dos impérios coloniais, nova subjetividade dos povos, etc. —, elaborando um novo pensamento e uma nova capacidade política de elaborar projetos que hoje nos parecem, ao mesmo tempo, uma revisão radical do marxismo e uma refundação deste mesmo marxismo, projetada num novo tempo histórico que, acredito, ainda é o nosso.
José Anibal: A reforma política ideal, a possível e a reprovável
A missão essencial da classe política é colocar de fato como prioridade os interesses do país e da população. Não se trata de uma frase ingênua. Ao contrário, o que os atuais ocupantes de mandatos mais precisam é se reaproximar de seus eleitores, mostrar que, a despeito de todas as dificuldades que o país vive, existe compromisso com o que é melhor para o Brasil.
Por isso, se for aprovada a reforma política que se desenha, com soluções esdrúxulas e tomadas de costas para a sociedade, será o mesmo que assinar o divórcio entre eleitores e eleitos e colocar em xeque os rumos do arcabouço institucional do país.
O primeiro ponto a ser fortemente combatido é adotar o chamado distritão. Trata-se de um sistema deplorável mesmo como alternativa de transição para o almejado sistema distrital misto, adotado em países como a Alemanha e discutido agora pela França.
Esse modelo combina o maior número de vantagens dos outros sistemas – a eleição de um deputado por distritos pequenos, o que barateia o custo de campanha, e a defesa de bandeiras partidárias no âmbito estadual, permitindo a representação parlamentar das minorias –, assim como minimiza as imperfeições inerentes a qualquer regramento eleitoral.
Mudar o atual sistema para o distritão é jogar por terra o pouco que nos resta de ideologia, coesão partidária e coerência política e reduzir as eleições parlamentares a uma votação de programa de TV. Para o cidadão já descrente com a classe política, será que vai ser tão diferente escolher um deputado ou um vencedor de reality show?
Aí é que está o ponto crítico do distritão e o brutal erro de avaliação de seus defensores. Acreditar que um deputado tem maior chance de reeleição numa disputa personalizada e estritamente majoritária é fechar os olhos à realidade.
Um sistema como o proposto seria um convite à radicalização do discurso antipolítico, à chegada de subcelebridades ou de aventureiros financiados sabe-se lá como e por quem, em disputas ainda mais caras que as atuais, já que os candidatos continuarão tendo que percorrer estados inteiros, em vez de se concentrarem em um território menor, como prevê o modelo distrital.
A perspectiva da reforma política deve ser o eleitor, e não o eleito. Deve ser o anseio da sociedade por campanhas mais democráticas, menos perdulárias e dispendiosas, e não a busca de subterfúgios para a manutenção dos que hoje detém o poder. Nesse sentido, a proposta de um fundo bilionário para as campanhas, diante do atual cenário de crise fiscal e ajuste das contas públicas, chega a ser um escárnio.
Melhor seria incentivar doações privadas mediante um sistema mais rígido e rigoroso de controle, com limites claros e austeros tanto em relação a doações quanto aos gastos, coibindo pirotecnias e produções hollywoodianas. Seria um gesto importante evitar o uso de mais dinheiro do contribuinte, cansado de ver seus impostos revertidos em um poder público pouco eficiente, tomado de assalto por interesses corporativistas e pelo patrimonialismo.
A boa política é feita no caminhar entre o ser e o dever-ser, entre a decisão possível, tomada pela ética da responsabilidade, e o objetivo ideal, formado pela ética da convicção.
Nem sempre conseguiremos fazer avançar a proposta mais adequada, concessões são feitas para se atingir um degrau mais alto na escada da evolução.
O que é reprovável é apostar num tiro no escuro, acreditar em mudanças que não só não resolvem como agravam os problemas existentes. Em vez de renovar os pilares da representatividade e fortalecer a conexão entre eleitores e eleitos, a reforma política tal como se ameaça aprovar abala os mais essenciais fundamentos da democracia.
* José Aníbal é presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela. Foi deputado federal e presidente nacional do PSDB
Política Democrática #48: Razões da crise, por Caetano Araújo
A crise ocupa, há tempo, o centro do debate no país. Em poucos anos, rachaduras na fachada ética da política e alertas na economia transformaram-se numa situação de extrema instabilidade, que ameaça tragar boa parte do sistema partidário. Discute-se hoje, principalmente, os lances mais recentes do processo, seus impactos já verificados e, principalmente, num quadro de grande incerteza, diferentes prognósticos alternativos sobre o futuro imediato, geralmente na perspectiva de suas consequências políticas e eleitorais.
Menos atenção tem recebido, no entanto, a questão, crucial, da gênese da crise. Em outras palavras, como chegamos ao ponto em que estamos hoje? Procuro desenvolver aqui uma resposta tentativa, o embrião de uma hipótese a ser trabalhada. No meu argumento, a origem da crise deve ser buscada em duas dimensões diferentes: o sistema de regras que regula as eleições e as decisões estratégicas dos principais atores políticos do país, nos últimos anos. Falo, nesse caso, dos maiores partidos brasileiros, com o evidente protagonismo do Partido dos Trabalhadores, vencedor das últimas quatro eleições para Presidência da República.
Vamos à regra. Praticamos no Brasil, nas eleições para deputados (federais, estaduais e distritais) e vereadores, o sistema de voto proporcional com listas abertas. Nele, os eleitores podem votar em legendas ou em candidatos das listas apresentadas pelos partidos políticos. As listas não são pré-ordenadas, de modo que o total de votos de cada partido (soma dos votos da legenda e de todos os nomes) determina o número de cadeiras que cada um obteve, enquanto a entrada dos candidatos é defnida pela ordem decrescente dos votos obtidos.
Importa lembrar que este sistema é uma invenção genuinamente nacional. Foi formulado por Assis Brasil, na década de 1930, com o objetivo de conciliar o voto em partidos, característico para ele de democracias modernas, com o voto em pessoas, que vigorou durante o Império e a República Velha. É usado entre nós desde 1945, de modo que muito provavelmente não há eleitores brasileiros vivos que tenham conhecido outro sistema.
Na comparação internacional, o sistema não teve tanto sucesso. Apenas a Polônia e a Finlândia nos acompanham hoje. A grande maioria dos países democráticos escolheu entre três outras alternativas: votar em pessoas, adotando o voto distrital; votar em partidos, com o voto proporcional em listas fechadas ou flexíveis; ou votar em pessoas para uma parte das cadeiras e em partidos para a outra parte, nos sistemas chamados mistos.
São conhecidas as críticas ao nosso sistema: personalização das campanhas, com as contrapartidas inevitáveis de sua despartidarização e despolitização; campanhas caras; influência do poder econômico; défcit de legitimidade junto aos eleitores. Como sabemos, tudo isso é verdade. Aqui candidatos arrecadam e gastam recursos de forma autônoma e concorrem todos contra todos, principalmente contra seus companheiros de legenda.
O foco de suas campanhas não é apresentar uma plataforma partidária comum, mas os pontos de singularidade política que os diferenciam dos demais candidatos de seus partidos. Os poucos dados disponíveis mostram que as campanhas eleitorais no Brasil são as mais caras do mundo e seu custo foi crescente, pelo menos até a recente exclusão das empresas do universo de doadores de recursos. Não são de surpreender, portanto, as evidências do uso crescente de recursos não declarados, portanto ilegais.
Os legislativos que saem dessa peneira são dispersos, fato que acumula difculdades para presidentes, governadores e prefeitos construírem suas bases de apoio. Não por acaso, todos os presidentes eleitos depois de 1988 foram favoráveis à reforma política.
Eleitores
Para os eleitores, o resultado da dispersão signifca perda em termos de fscalização e controle sobre os parlamentares. No sistema de voto distrital, essa fscalização é exercida diretamente porque os eleitores sabem exatamente quem é o deputado que os representa. No sistema de voto proporcional com listas fechadas ou flexíveis, a fscalização é feita por intermédio dos partidos, que são eleitos a partir de uma plataforma e zelam pelo cumprimento do pacto eleitoral por parte dos deputados.
No nosso sistema de voto proporcional com listas abertas, a fscalização direta dos eleitores é difícil, porque o eleitor não pode determinar quem é o seu representante e a fscalização partidária impossível, por não haver os partidos fortes de que necessitaria.
Em compensação, a fscalização por parte dos fnanciadores das campanhas é permanente, uma vez que as duas partes se conhecem, sabem quanto foi aportado e a sua importância para trazer o deputado à cadeira que ocupa. Portanto, tampouco é por acaso que legislativos, parlamentares e partidos são campeões na desconfança dos eleitores, segundo as pesquisas disponíveis.
Tais problemas foram camuflados no passado, em situações em que o número de eleitores era menor, como no período 1945/1964, e as restrições à liberdade de imprensa maiores, como na ditadura militar posterior a 1964. A Constituição de 1988, contudo, consagrou uma série de avanços democráticos que se revelaram incompatíveis com a continuidade da nossa regra eleitoral: sufrágio universal, liberdade de imprensa e autonomia do Ministério Público.
A contradição entre a regra eleitoral e os avanços da Constituição é demonstrada pela sequência de escândalos ligados ao fnanciamento da política no país a partir da década de 1990. Para fcar só nos principais, tivemos sucessivamente o impedimento de Collor, os anões do orçamento, as operações Satiagraha e Castelo de Areia, o Mensalão e, agora, a Lava-Jato, ainda em curso.
Em síntese, nossa regra eleitoral gera um ambiente de competição na qual partidos e candidatos que recusam qualquer recurso de campanha de origem não legal têm difculdade crescente de concorrer com aqueles que se integram a esses canais de fnanciamento. Quando isso ocorre, a corrupção política deixa de ser residual, ou seja, algo que pode ou não ocorrer em determinado pleito, e passa a ser estrutural.
Resta indagar as razões da persistência dessa regra por quase três décadas. Penso que a resposta deve ser procurada nas estratégias de alianças desenvolvidas pelos maiores partidos brasileiros, em especial o PT.
Tendência
Hoje a situação parece improvável, mas no período entre a posse e a queda de Collor ganhou corpo uma tendência à aliança entre PT e PSDB para as eleições presidenciais seguintes. Essa tendência começou a perder força com a opção do PT de não participar do governo Itamar e, principalmente, com o lançamento do Plano Real, duramente criticado pelo partido. Nos dois mandatos de Fernando Henrique, o PT fez oposição sistemática a toda a agenda modernizante do governo e à possibilidade de aliança fcou mais distante.
No início do governo Lula, a situação havia mudado. Depois de uma pauta de campanha que aceitou o processo de estabilização da economia, com todas as suas implicações; de uma transição de governo bem-sucedida; da defesa, ainda que tímida, de uma agenda reformista que contou com o apoio do PSDB, na oposição, e do PPS, então no governo, uma janela de oportunidades para uma nova política de alianças do PT parecia aberta. Contra essa nova política, pesavam dois fatores importantes: a forte resistência das bases do PT, educadas num discurso político salvacionista, e a oferta permanente de apoio, mais fácil e imediato, de uma grande massa de deputados situados politicamente entre o fsiologismo e o conservadorismo.
O momento decisivo para a defnição ocorreu no início de 2003, quando a proposta de reforma política apoiada por PT, PSDB, PFL, PDT, PSB e PPS, de listas fechadas com fnanciamento público de campanha, estava a ponto de ser votada em plenário. Por pressão dos demais partidos, o PT retirou seu apoio ao projeto, enterrou a reforma política e demarcou seu campo de alianças, tendo como principal referência aliada a centro-direita conservadora.
Vale lembrar que esse movimento do PT não apenas assegurou mais 15 anos de vigência à regra eleitoral, mas, como a aliança replicou-se nos estados, deu sustentação política a velhas elites regionais e, consequentemente, a suas bancadas parlamentares, concentradas nos partidos contrários à reforma.
O PT teve uma segunda oportunidade de redirecionar sua política de alianças. Em 2013, na onda das manifestações populares, que tinham na mudança da política um dos pontos centrais de reivindicação, a presidente Dilma poderia ter encabeçado uma ampla concertação parlamentar pela reforma política. Ao invés de fazê-lo, optou por insuflar propostas diversionistas que em nada resultaram, como plebiscito ou Constituinte exclusiva.
Parece evidente hoje que essa política redundou num fracasso completo. Poderia ser avaliada como um sucesso parcial se os objetivos do governo fossem manter inalterado o status quo econômico, social e político do país. No entanto, à luz dos objetivos declarados nas campanhas do PT, ou seja fazer avançar a democracia e recuar a pobreza e a desigualdade, essa política de alianças deve ser reprovada em toda linha.
Além disso, nas duas variantes que se sucederam, a aliança com o chamado “centrão” aumentou a vulnerabilidade do partido. A tentativa, no primeiro governo Lula, de governar com o apoio do PMDB, mas sem a sua participação proporcional, resultou no Mensalão. A incorporação do PMDB no governo, por sua vez, alimentou a Lava-Jato.
Se essa política deve ser vista com as informações de que dispomos hoje, como um erro colossal, como compreender sua adoção e manutenção por anos a fo? É claro que alguns sucessos do governo Fernando Henrique e do primeiro período de Lula alimentaram a visão da política brasileira como o palco no qual dois partidos programáticos gerenciavam o apoio do fsiologismo. Essa imagem de Werneck Vianna, muito citada por Fernando Henrique, descrevia bem a situação do momento. Nada dizia, contudo, sobre a sustentabilidade desse arranjo no médio prazo.
Podemos especular sobre as motivações pragmáticas do PT para se diferenciar do seu concorrente direto nas disputas presidenciais. Podemos ainda discutir uma tendência possível de interpretar o conjunto da política nacional através do prisma da conjuntura paulista. Penso ser mais produtivo analisar as premissas que podem ser usadas para justifcar essa opção. Na minha opinião, são três essas premissas, todas devidamente desmentidas pelos fatos.
Estado
Em primeiro lugar, a preponderância do Estado sobre a sociedade, tributária da ideia antiga que faz depender todo movimento de mudança à condução esclarecida de uma vanguarda, capaz de recolher as demandas populares e processá-las na forma de decisões políticas racionais. Nesse aspecto, as jornadas de 2013 mostraram que alguma coisa não funcionava como previsto.
Em segundo lugar, a preponderância do Executivo sobre o Legislativo. Outra ideia antiga que afrma a capacidade de o Executivo impor sua vontade aos legisladores como uma constante da política. O processo de impeachment desmentiu essa premissa, ao menos na sua versão absoluta.
Em terceiro lugar, a neutralidade política do fsiologismo, do atraso, do centrão, qualquer que seja o nome dado ao grupo de parlamentares que se posiciona na política mais do lado da oferta, menos no da demanda, de apoio parlamentar. Menos expostos às cobranças partidárias, esses deputados tendem a ser, no entanto, mais sensíveis às demandas dos grupos empresariais que fnanciam suas campanhas, como fcou demonstrado em diversas votações em que os interesses do governo foram contrariados nos últimos anos.
* Caetano Araújo é sociólogo, professor da Universidade de Brasília e consultor legislativo do Senado Federal
** Artigo publicado originalmente na Revista Política Democrática #48
Política Democrática #48: A crise parece não ter fim
A delicada e complexa crise que o Brasil enfrenta e que foi ampliada e aprofundada nos últimos anos, continua perturbando e intranquilizando a vida do país e de cada brasileiro, em particular. Até agora, as primeiras providências, e consideradas essenciais pelo governo de transição, efetivamente não constituíram nem constituem os únicos passos corretos e concretos em direção ao equilíbrio das contas públicas e à retomada do crescimento econômico.
Permita-se lembrar que a base da maior parte dos problemas de hoje – cerca de 2/3 dos gastos federais se destinam ao funcionalismo e à previdência – foi o aniquilamento das contas públicas pelos governos petistas (de Luiz Inácio a Dilma), num total descompromisso de suas gestões com as metas fscais.
Representantes dos diferentes núcleos da sociedade (empresários, trabalhadores, especialistas) têm se manifestado de que não estão sentindo que a saída da grave crise está a caminho, e, o que é pior, reduz-se, cada vez mais, o número dos que acreditam que os atuais ocupantes do Palácio do Planalto tenham capacidade e autoridade para deter esta marcha tresloucada que o país vive, cujo desfecho continua imprevisível.
O mais grave é que, ao lado da paralisia e da redução da atividade econômica e dos seus efeitos, sobretudo o desemprego (continuamos com 13 milhões e meio de pessoas fora do mercado de trabalho) e a insegurança da cidadania (aqui há mais mortes por assassinatos que mortes em países em guerra), sofremos uma crise demolidora da política e dos que a praticam, particularmente porque a expressiva maioria dos que deveriam servir ao público, nada mais fazem do que se servirem do público. O Brasil, lamentavelmente, é o quarto país mais corrupto do mundo, estando à frente até da Venezuela bolivariana de Nicolás Maduro.
Nesta edição, autores com as mais diversas visões sobre o quadro nacional buscam revelar aspectos, os mais variados, sobre este complicado período que os brasileiros vivem, destacando algumas incongruências vindas do governo central, o peso da Operação Lava-Jato em aspectos vários de quantos controlam, a seu talante, a máquina estatal, particularmente nos poderes Executivo, Legislativo e até no Judiciário.
Importante ressaltar que alguns articulistas, além do rico conteúdo de suas análises, defendem o apoio aos atuais projetos de reforma trabalhista e da previdência, assim como apresentam propostas de saída, sobretudo considerando que temos que nos preparar, desde já, para as eleições do próximo ano, como o momento em que o povo brasileiro deverá ser ganho para escolher seletivamente os que devem comandar o país, a partir de 2019.
E, por haver também uma crise demolidora da política e dos que a praticam no território nacional, espera-se, além de uma campanha de educação dirigida a cada homem e a cada mulher, para que saibamos melhor escolher sobretudo os nossos representantes na Presidência da República, no Senado e na Câmara, que organizemos um bloco de forças partidárias de concepção e prática democráticas e republicanas para disputar este próximo pleito, com perspectiva de colaborar para as imprescindíveis mudanças que a nação, há muito, está a exigir.
Nunca é demais lembrar que o Brasil aguarda que se façam as chamadas reformas de base, a começar por uma efetiva reforma política, e não por simples remendos, ora discutidos na Câmara e no Senado, que buscam nada mais que manter as condições propícias para que muitos se mantenham em seus cargos, como forma de continuarem manipulando a máquina estatal e dela se aproveitando para usufruírem de uma vida nababesca e desflando pelos espaços de visibilidade sob a cobertura de tevês, rádios, revistas e jornais.
Outras reformas indispensáveis são a da máquina do Estado, de forma a reduzir o número excessivo e desnecessário de servidores (somos no mundo um dos primeiros países na quantidade de funcionários e no valor dos salários que pagamos); alterar radicalmente o sistema tributário brasileiro, que pune violentamente o cidadão comum e protege os que efetivamente devem pagar impostos e têm tranquilas condições de fazê-lo; dentre outras reformas.
Esta edição merece que mergulhemos nela, sem mais delongas: http://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2017/08/15/politica-democratica-48/
Boa leitura!
Os Editores
Luiz Carlos Azedo: A volta do parlamentarismo
A principal experiência parlamentarista na nossa história é a do Império, na qual saquaremas (conservadores) e luzias (liberais) se revezaram no poder e produziram uma das mais perenes de nossas tradições políticas: a conciliação. Seu maior legado foi a nossa integridade territorial, pois assim se resolveu pela política o ciclo de rebeliões do período regencial que ameaçou dividir o país, desde a Revolução Pernambucana, que completou 200 anos. O pior legado são as sequelas da escravidão, que, graças à política de conciliação, foi mantida até 1888.
Na Corte de D. Pedro II, o parlamentarismo funcionou muito bem como um pacto de elites; o povo, a rigor, não contava. A proclamação da República, espelhada nos Estados Unidos e não na França, embalada pelas ideias positivistas de Benjamin Constant e a forte personalidade do presidente Floriano Peixoto, nosso primeiro grande caudilho, sepultou o parlamentarismo, mas não a conciliação, que ressurgiu das cinzas com a política café com leite.
Foi como subproduto da conciliação que o parlamentarismo voltou a ser adotado, em 1961, para garantir a posse do ex-presidente João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. Evitou-se com ele o golpe de Estado que viria a ocorrer alguns anos depois, embalado pelas mesmas forças que haviam forçado o suicídio de Vargas e tentaram impedir a posse de Juscelino. A vitória do presidencialismo no plebiscito convocado por Jango impôs a radicalização política como destino, num momento em que a guerra fria por muito pouco não se tornou guerra quente.
Jânio renunciaria sete meses depois de tomar posse, num gesto que nunca foi muito bem explicado, mas resultou de uma contradição de seu governo: a adoção de uma política externa independente, que não se coadunava com o sistema de forças que havia garantido sua eleição. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em agosto de 1961, João Goulart deveria assumir o governo. Naquela época, o vice eleito era o mais votado, independentemente da chapa. Uma manobra de trabalhistas e comunistas paulistas viabilizou a eleição do vice com a chapa Jan-Jan. O general Henrique Lott, candidato oficial do PTB, foi cristianizado.
Golpe
Mas a UDN (União Democrática Nacional) e os militares tentaram impedir a sua posse. Jango, que era aliado do PCB, estava em visita oficial à China comunista. O golpe fracassou porque o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cunhado de Jango, encabeçou a chamada Campanha da Legalidade, a fim de garantir o direito previsto na Constituição de 1946 de que, na falta do presidente, assume o candidato eleito a vice.
Com o apoio do Comando Militar do Rio Grande do Sul e de líderes sindicais, de movimentos estudantis e de intelectuais, o golpe foi frustrado, mas para isso foi feito um acordo político no Congresso, com a adoção do sistema parlamentarista e consequente limitação dos poderes do presidente. Ele indicava os ministros, mas interferia muito pouco na vida dos ministérios. O primeiro-ministro indicado foi Tancredo Neves, do PSD (Partido Social Democrata) mineiro, que ocupou o cargo de setembro de 1961 até junho de 1962.
Plebiscitos
A eleição de Tancredo foi esmagadora: 259 votos a favor, 22 votos contra e sete abstenções. Mas Jango não aceitava o parlamentarismo e resolveu antecipar o plebiscito que referendaria o sistema de governo, marcado para 1965. Foi substituído por Brochado da Rocha, um político trabalhista, e Hermes Lima, que exerceu um mandato-tampão. Em janeiro de 1963, houve um plebiscito (consulta popular), para decidir sim ou não à continuidade do parlamentarismo. Com 82% dos votos, o povo optou pela volta do presidencialismo.
Restavam ainda três anos de mandato para João Goulart. Elaborado pelo economista Celso Furtado, acabou lançado o Plano Trienal, que previa geração de emprego, diminuição da inflação, entre outras medidas para pôr fim à crise econômica. Porém, o plano não atingiu os resultados esperados. A crise política se reinstalou e o golpe militar retomou sua marcha, consumando-se em março de 1964.
A adoção do parlamentarismo voltou a ser cogitada na Constituinte de 1987, mas fracassou por causa das idiossincrasias de políticos que se diziam parlamentaristas, mas abriram mão do regime de governo de olho na Presidência. O então presidente, José Sarney, chegou a admitir a aprovação do plebiscito, em troca de seis anos de mandato. Relator da Constituinte, Mario Covas rejeitou o acordo, com apoio de Ulysses Guimarães, que sempre foi presidencialista. Hoje, temos o “presidencialismo de coalizão” porque a Constituição de 1988 tem viés parlamentarista. Tanto que a legislação sobre o impeachment, enxertada no texto constitucional, se baseia numa lei da década de 1950.
O plebiscito convocado pela Constituinte para decidir entre os regimes republicano ou monarquista e os sistemas presidencialista e parlamentarista, em 1993, deu o resultado que já se esperava. Vitória da república presidencialista. Agora, o tema do parlamentarismo volta à pauta, defendido por partidos tradicionalmente parlamentaristas, mas com o apoio velado do presidente Michel Temer. A crise ética e a reforma política de fato criam condições para a aprovação de uma emenda constitucional estabelecendo o parlamentarismo mitigado, que poria fim a crises políticas de longa duração (em tese, essa é a vantagem). Mas também pode dar margem à existência de um projeto continuísta a la Putín, que bloqueie ainda mais a nossa democracia.
Raymundo Costa: Caravana para blindar Lula 2018
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderava uma caravana pelos sertões, quando foi ultrapassado por Fernando Henrique Cardoso nas pesquisas eleitorais para a Presidência da República, em 1994. Lula esteve à frente até o fim de junho. Em abril, tinha cerca de 30% das intenções de voto, contra 12% de FHC. Nesta quinta-feira 17, o ex-presidente volta à estrada. Novamente lidera as pesquisas. Em 1994, Lula foi atropelado pelo Plano Real, ao qual se opôs. Desta vez, o trem que vem da direção oposta são os seis processos a que responde na Justiça Federal, sendo que já foi condenado em um deles, em primeira instância.
Nessa primeira fase, o "Projeto Lula pelo Brasil" deve ter a duração de 20 dias, começa pela Bahia e termina no Maranhão. Em 1994, Lula e o PT subestimaram o Plano Real e não se deram conta a tempo do enorme apoio popular a um projeto que acabou com o flagelo da superinflação e levou Fernando Henrique para o Palácio do Planalto, logo no primeiro turno. Desta vez o PT e Lula sabem muito bem com o que estão lidando. Tanto que a nova caravana de Lula tem por objetivos "reforçar a popularidade" do ex-presidente no Nordeste - região que assegurou as sucessivas reeleições do PT -, mas também, nas palavras de um dirigente, "criar uma base social para blindar a candidatura Lula".
O que ameaça a candidatura Lula são os seis processos. O ex-presidente foi condenado na ação que diz respeito ao tríplex do Guarujá. Em princípio, basta que a segunda instância da Justiça Federal confirme a decisão do juiz Sergio Moro para Lula ficar inelegível, nos termos da Lei da Ficha Limpa. Mas sempre haverá algum expediente - como o efeito suspensivo da sentença - capaz de devolver Lula à disputa. É para isso que serve a tal "base social para blindar a candidatura". No mínimo o PT terá criado um grande constrangimento: Lula não seria candidato por ser culpado da prática de crimes, mas por uma manobra dos adversários que temem a sua eleição.
Se colar, Lula entra na eleição com a rejeição recorde de 46% segundo o Datafolha. Mas rejeição é algo que uma boa campanha pode reduzir a um patamar eleitoralmente viável. O PT nega que tenha feito corpo mole para tirar o presidente Michel Temer do Palácio do Planalto por entender que um presidente e um governo impopulares o ajudarão na campanha de 2018. Não tirou porque não tinha os votos para isso. Mas Lula efetivamente avalia um ataque ao coração do governo Temer: o fracasso da equipe econômica. O discurso é que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, simplesmente não entregou nada do que o PMDB prometeu para tirar Dilma Rousseff do governo. Prova disso é o rombo fiscal de 2017 e aquele previsto para 2018, algo em torno de R$ 20 bilhões acima do prometido.
Mas não é um Lula fiscalista que deve emergir da caravana. A ideia é dizer que o povo voltará a ter crédito para consumir. Ele tem sido aconselhado e avalia dizer que uma de suas primeiras providências no governo será derrubar a PEC do teto dos gastos, pois ela impediria qualquer programa de recuperação social, do ponto de vista petista. Somente assim seria possível investir mais em saúde e educação. O ex-presidente também pode modular o discurso sobre a regulamentação da mídia, falar a mesma coisa de maneira mais facilmente perceptível pela população. Aliás, até Rui Falcão, ex-presidente do PT e um dos principais defensores da medida, acha que Lula pode ser mais suave ao falar da regulação.
Como acontecia em 1994, agora Lula está novamente preocupado em não assustar a classe média. Tanto que condenou, em conversas reservadas, o apoio incondicional que a nova presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, prestou ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a ocupação da mesa do Senado por senadoras petistas, num protesto contra a votação da reforma trabalhista. Não só Lula, mas boa parte do PT não endossou a nota que Gleisi publicou sobre as agressões sofridas pela jornalista Miriam Leitão por militantes do partido. Em todos os casos, mesmo sem consultas mais amplas, assinou as notas como sendo da Executiva Nacional.
Do ponto de vista do PT, olhando de hoje o adversário de Lula em 2018 será o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Não será Jair Bolsonaro contra Lula como indicam as pesquisas. Alckmin seria o candidato mais confiável para o espectro da política que vai do centro à direita. A candidatura de Ciro Gomes é bem vista, porque atrai o militante "nem, nem", aquele eleitor de centro que não quer Lula, mas também não quer Alckmin por considerá-lo muito conservador. Há dúvidas sobre se João Doria será candidato por outro partido que não o PSDB - há especulação sobre o DEM mas também o PMDB.
Em 2002, Lula se deslocou da esquerda para o centro, a fim de ganhar a classe média e a eleição, em sua quarta tentativa de chegar à Presidência da República. Segundo seus amigos, o desafio do ex-presidente agora é levar a classe média do centro para a esquerda. Uma empreitada e tanto para um candidato que perdeu o discurso da ética e também contribuiu para o desastre econômico que foi o governo de sua escolhida para a Presidência. O PT, no entanto, registra que Lula não caiu nas pesquisas de opinião, depois da sentença de Moro condenando-o a nove anos e meio de prisão.
Rebaixamento
Até o 17 de maio havia um presidente com uma ampla base de apoio e maioria no Congresso, conforme ficou demonstrado em votações como a da PEC do teto de gastos. Depois que Temer sobreviveu à delação da JBS, a impressão é que em Brasília há uma maioria parlamentar que tem um presidente. O Congresso responde cada vez menos às demandas do Planalto. A semana passada foi um exemplo, com a desistência de se votar a MP 774, que trata da reoneração. A expectativa é que até a eleição não haverá mais reformas estruturantes e muito menos aumento de impostos.
* Raymundo Costa é jornalista, escreve no Valor Econômico
Cristovam Buarque: O tamanho da insanidade
Os professores, servidores e alunos das universidades precisam se mobilizar contra esta insanidade que vai retirar recursos de áreas prioritárias agravando ainda mais a tragédia fiscal pela qual passam nossas universidades
O Congresso brasileiro se prepara, mais uma vez, para dar um tapa na cara dos seus eleitores, aprovando gastos de R$ 3,6 bilhões para financiar as eleições de seus futuros membros.
Isso acontece no mesmo momento em que as universidades federais estão ameaçadas de fechar por falta de dinheiro para os gastos mais primários.
Nossos institutos de ciência e tecnologia estão parando suas pesquisas.
Se a proposta for aprovada no Congresso e o governo não vetar, o presidente Temer e o ministro Henrique Meireles passarão a ideia de que estão mentindo quando dizem que não há recursos para financiar nosso sistema universitário, que a previdência é deficitária, que é preciso demitir servidores.
Estão mentindo ou dirigem um governo insano.
Todos falam que, no lugar de novos impostos, o governo deveria reduzir gastos. No lugar disso, eles aumentam despesas para financiar campanhas eleitorais, tomando R$ 3,6 bilhões dos eleitores (R$ 60,00 por eleitor) que não foram consultados – inclusive daqueles 50 milhões que as pesquisas indicam que não vão votar ou votarão em branco.
Isto é uma insanidade coberta por uma mentira.
Isto poderia ser evitado cortando o custo da campanha.
Triste é que a comunidade acadêmica não parece mobilizada para impedir esta insanidade.
É hora de um movimento nacional contra parlamentares e contra o presidente Temer, para que não cometam esta insanidade, fazendo campanha mais barata e financiada pelos simpatizantes dos partidos e dos candidatos, não por cidadãos que sofrem a degradação dos serviços públicos e que são obrigados a financiar políticos que recusam.
Os professores, servidores e alunos das universidades precisam se mobilizar contra esta insanidade que vai retirar recursos de áreas prioritárias agravando ainda mais a tragédia fiscal pela qual passam nossas universidades.
Silvio Pons: O Gramsci que fala sobre nós
Dossiê Gramsci, oitenta anos depois
Dois mil e dezessete é um “ano gramsciano”, por marcar o octogésimo aniversário da morte do pensador sardo, em 1937. Não é de hoje sua presença no debate político e na produção acadêmica brasileira. Uma presença que não é unívoca nem tem a mesma valoração por parte de todos os que se inspiram em maior ou menos medida nos textos daquele pensador. Nossa perspectiva — democrática e reformista — é uma das formas de acolher seu complexo legado. Sem a menor pretensão de qualquer monopólio ou ortodoxia, temos um objetivo “simples” e direto: pôr Gramsci a serviço da democracia brasileira.
Acolhemos a ideia de historicizar radicalmente os escritos do pensador, relacionando-os às diferentes circunstâncias em que foram produzidos — circunstâncias que inauguram nosso tempo, mas não são nem podem ser exatamente as mesmas aqui e agora. E tudo sem censuras, cortes ou embelezamentos. Certamente, este é um pressuposto da apropriação crítica, e não doutrinária, do autor, tornando-o apto a ajudar na compreensão de nossos problemas. Frases soltas ou conceitos descontextualizados têm assim validade muito restrita, ainda que possam ressaltar o brilho do escritor. Mas, como dissemos, nosso objetivo é de outra natureza.
Aqui reunimos três referências internacionais na área. Na abertura, Silvio Pons, atual presidente da Fundação Gramsci, em Roma, e sucessivamente Francesco Giasi e Giuseppe Vacca, diretores da mesma Fundação. Um tema recorrente nestas entrevistas é a monumental Edição Nacional dos Escritos, em curso de publicação. Mas não faltam alusões a questões substantivas da atualidade: a globalização e sua crise, para não falar dos imensos dilemas da própria esquerda.
A Fundação Astrojildo Pereira (FAP) e a Fundação Gramsci atuam conjuntamente no plano editorial, especialmente na coleção Brasil & Itália, acolhida e apresentada por Armênio Guedes, dirigente histórico do PCB associado entre nós às “ideias italianas”. De Giuseppe Vacca, já publicamos Por um novo reformismo; Gramsci no seu tempo (com Alberto Aggio e Luiz Sérgio Henriques); Vida e pensamento de Antonio Gramsci, 1926-1937; e Modernidades alternativas. O século XX de Antonio Gramsci. De Silvio Pons, publicamos A revolução global. História do comunismo internacional, 1917-1991, densa narrativa do impacto do comunismo no século passado.
Entrevista dada a Beatrice Rutiloni, Democratica, 14 jul. 2017
Deve-se dizer que Antonio Gramsci se tornou um ícone pop. Como a Marilyn de Andy Warhol ou o Che nas camisetas dos sonhadores de todo o mundo, Gramsci, com aquela face de “intelectual orgânico”, tornou-se o rosto mais conhecido da política com P maiúsculo, a que mistura pensamento, estudo, seriedade, paixão. E sobriedade. Gramsci como o novo ídolo de uma geração um tanto nerd, que de todo canto do mundo encontra naquele olhar moderníssimo a própria fuga do presente. O último dos utopistas, com os pequenos óculos redondos que passaram de John Lennon para Harry Potter, é hoje mais celebrado do que Lenin: há quatro anos, no Bronx, o artista suíço Thomas Hirschhorn criou a instalação The Gramsci Monument, um lugar de agregação que deu lugar a leituras, aulas, cursos para crianças, concertos e seminários. Da casa-museu de Ghilarza, na Sardenha, onde Gramsci viveu sua infância, até Nova York, o tesouro gramsciano parece se enriquecer de ano em ano. A demonstrar o fato de que a herança cultural, quando é viva, é como um clássico: não morre nunca — ao contrário, renasce na memória.
Oitenta anos depois da morte do político, definição que em sua máxima expressão é capaz de reunir todas as outras, a de filósofo, historiador, linguista, jornalista e escritor, resta muito de Gramsci: restam suas belíssimas cartas privadas, que expressam o homem, e restam os Cadernos, traduzidos em todo o mundo e abertos mil vezes na vida. Uma daquelas leituras que se fazem e refazem, porque sempre têm algo a dizer, um pouco como a Recherche de Proust. E permanece a impressão de Gramsci, o mesmo traço inquieto e ordenado de sua face está em sua página escrita, com aquela inesquecível grafia, muito pequena, precisa, de um homem que sabe que não se desperdiça e não se perde o tempo. Um dos maiores conhecedores da obra gramsciana é Silvio Pons, historiador da Europa Oriental, um dos maiores especialistas do comunismo internacional e presidente da Fundação Gramsci.
• Ocorre-nos perguntar neste 14 de julho, aniversário da Revolução Francesa, quanto vale hoje a liberdade.
É um valor global e é mais atual do que nunca. Vivemos uma época de grande desordem mundial em que foram recolocados em discussão os princípios fundamentais da democracia. O último exemplo de revolução em nome da liberdade foram as primaveras árabes que agora cancelamos à luz da catástrofe da Síria e de todos os eventos violentos que se seguiram à queda dos regimes. Poderíamos dizer que do final do século XX até o início do século muitas comunidades se movimentaram para reivindicar liberdades. Não houve só 1989 na Europa, houve muitas outras revoluções pacíficas entre os Bálcãs, o sul da África e até o Irã. Houve comunidades inteiras, destituídas de nome, que impuseram à agenda mundial uma exigência de liberdade que vai muito além da tradição eurocêntrica da Revolução Francesa.
• A egocêntrica Revolução Francesa.
Digo que os europeus monopolizaram alguns valores, entre os quais a liberdade. A Revolução Francesa foi a revolução política que gerou a modernidade política europeia, o evento genético do nacionalismo ocidental. Agora estamos numa época em que Ocidente e americanismo parecem pertencer ao passado e estão superados, mas uma certa ideia de liberdade e até de igualdade que se podem relacionar à nossa história moderna se globalizaram. Existem muitas revoluções francesas, na frente das quais coloco a primavera árabe.
• Mas ela fracassou.
As revoluções podem fracassar, mas seu fracasso também expressa significados importantes, sobretudo em relação à parte do mundo em que se originam. Até diria que justamente porque fracassaram devemos prestar ainda mais atenção. O fantasma das liberdades modernas ainda está entre nós.
• E o da igualdade?
Muito menos. Vivemos num mundo desigual: por uma parte, há o crescimento da riqueza global — mas sou ferozmente contrário a quem acusa a globalização de ser portadora de pobreza — que semeou riquezas no mundo de modo desigual. A China ou a Índia são as novas potências, o Ocidente não controla mais, não influencia mais. A redistribuição dos recursos deslocou o eixo da riqueza do Ocidente para o Oriente, trazendo como danosa consequência que, entre nós, o bem-estar está polarizado nas mãos de poucos e assistimos a um tendencial empobrecimento das classes médias, verdadeiro fulcro da democracia ocidental. Diante de tudo isto continua a me surpreender que a exigência de maior equidade ainda não tenha suscitado protestos sociais que era legítimo esperar.
• Será talvez ainda cedo?
A questão é que as sociedades hoje são muito corporativas e, portanto, custa-nos imaginar um bloco social e político que levante a questão de uma igualdade maior. Vejo um fenômeno que implica diminuição de igualdade mas não vejo os sentimentos de protesto e contestação, que permanecem limitados e marginais ou então se expressam sob a forma de populismos.
• E que tipo de forma social são os populismos?
Primitivos. Ilusórios. A ideia de que seja suficiente conquistar parcelas de soberania nacional para melhorar a vida das pessoas é uma miragem. No mundo de hoje, o primado dos Estados individuais está limitado por uma série de forças que não se deixam desafiar pelo poder de cada um deles. A única forma possível de resistência e de reforma, a única resposta positiva aos processos de globalização é supranacional.
• A única resposta é a Europa?
O tema de uma governance global continua a ser um grande tema, mas muito distante de nós. A Europa é uma resposta, por certo. O processo de integração europeia nasce como recusa às guerras entre Estados-nação que marcaram a história do século XX. A isto se soma a consciência de que só uma grande área supranacional em termos econômicos, democráticos e produtivos, pode sustentar a globalização.
• O problema são os líderes?
Os líderes são o espelho da sociedade. A questão é que não se criou um espaço político legitimado e aceito por todos. O nível nacional continua a ser mais forte e isto determina tensões contínuas entre cada Estado e a Europa. Acrescentemos que, em tempos de crise, com a Europa frágil, o populismo com sua carga de ilusões encontra uma porta aberta.
• Gramsci, encerrado numa cela, entreviu nossos dias: nos Cadernos falou de mundialização da economia contraposta à nacionalização da política. É impressionante.
Na realidade, este processo estava particularmente visível já depois da Primeira Guerra Mundial: o tempo de Gramsci está ligado ao nosso. Observo duas coisas: que a globalização começa muito antes do fim da guerra fria, uma vez que uma crescente interdependência já se inicia no final do século XIX, e também que não existia uma forma de hegemonia evidente. Com a linguagem de hoje, poderíamos dizer que não havia nos anos vinte e trinta uma governance mundial, e esta também é uma tendência de nosso século.
• Outra tendência de nosso século é a crise da esquerda praticamente por toda parte. Como explicá-la?
É um tema que nos atinge e preocupa há tempos. Não é uma crise recente e devemos recuar uns passos, embora seja verdade que ninguém tem a receita. No entanto, existem muitas razões para tal crise: houve a ideia segundo a qual, depois do fim do comunismo, fosse possível fazer uma nova esquerda democrática, era a época da Terceira Via, dos Blairs e Clintons. Uma experiência de esquerda reformista e antitotalitária que emperrou no final do século. Acredito que este foi o início do declínio. Ainda estamos um pouco presos ali e penso que a esquerda, hoje, ainda não ajustou as contas com o paradigma progressista segundo o qual o progresso é sempre linear e irrefreável. A esquerda é uma das vítimas da globalização e entrou em crise com o esgotamento do welfare state. E afinal, como se sabe, quando a política está em crise, com mais razão está a esquerda.
• A direita se ressente menos disso?
A direita é mais capaz, desde sempre, de se valer dos sentimentos das pessoas, do medo. A esquerda não tem este tipo de possibilidade e, portanto, na falta de Política, aquela com o famoso P maiúsculo, sofre mais.
• Um conselho seu.
Estamos sempre naquele ponto: comecemos a rever o paradigma progressista. A esquerda deve viver e deve se contrapor à direita. Cometeremos um erro histórico se pensarmos que estes valores não mais existem.
• Tem razão. Basta ver as reações à lei contra a apologia do fascismo. Disseram que é liberticida. E foi a coisa mais gentil que disseram.
É um fato preocupante porque se baseia numa perda da memória: devemos conservar a consciência de que o fascismo foi uma catástrofe. Não se trata de antifascismo banal, mas de reafirmar a não neutralidade de nossa história. Também os valores da Europa são antitotalitários e a perda de memória é visível naquilo que acontece na Hungria ou na Polônia. Dizer que é liberticida uma lei que condena a apologia do fascismo é contraditório, e o é duas vezes se quem assim se expressa são os que até alguns meses atrás se atribuíam a defesa de nossa Constituição.
• A quem se refere?
Ao Movimento 5 Estrelas, que se entrincheirou por uma Carta que é profundamente antifascista e, ao mesmo tempo, afirma que uma lei que condene a exaltação do vintênio fascista é liberticida.
Democratica & Gramsci e o Brasil
Sérgio Besserman Vianna: Esquerda no século XXI
Luta de classes é um dos motores da história. Neste momento ocorre um “curso de pós-graduação” autointitulado Esquerda no Século XXI, com aulas da ex-presidente Dilma Roussef, Guilherme Boulos e outros dessa seara. É o mesmo instante em que nem uma única voz da “suposta” esquerda se posiciona com firmeza na condenação da ditadura descarada ora instalando-se na Venezuela.
Parece-me um bom momento para esclarecer um pouquinho do meu ponto de vista (de esquerda ) sobre o tema. Como o espaço é curto, as frases serão diretas e explícitas. Estaremos sempre abertos e interessados em uma discussão mais profunda.
As duas narrativas da esquerda e da direita do século XX morreram. A primeira, com o fracasso econômico e político do “socialismo real”; a segunda, com a debacle da “autorregulação dos mercados” na Grande Recessão de 2008, que está e continuará conosco por muitos anos.
Sempre houve e sempre haverá uma direita e uma esquerda. Só que ambas devem se reinventar no século XXI. A direita, porque nem a crise ecológica, nem a juventude, nem as tremendas decisões éticas que a humanidade terá de tomar nas próximas décadas (nos dividiremos em mais de uma espécie? Haverá alguma governança global? etc.) suportam mais um sistema que subordina tudo à maximização da acumulação e que confunde liberdade do indivíduo com supremacia absoluta do mercado.
Viva o capital, o empreendedorismo e a economia de mercado. Morte ao capitalismo como sistema que a tudo subordina ou teremos um pesadelo pela frente.
Já a “esquerda” latino-americana, o que lhe falta é coragem intelectual. Não tirou conclusão alguma da queda do Muro de Berlim e da União Soviética. Recusa-se a aceitar que a estatização dos meios de produção, além de ineficiente, é categoricamente antidemocrática. Democracia pressupõe alternância. Como seria? Um estatiza, depois outro privatiza, depois estatiza, depois privatiza?
A luta de classes é um dos motores da história. Mas luta de classes como O motor da história? Vão ler “Sapiens”, do Harari. A classe operária como aquela que, não tendo nada a perder, pode “construir o novo homem?”. Onde ela está?
A esquerda anacrônica é nacionalista e contra a globalização, junto com Trump, Le Pen e a turma do Brexit. Enquanto isso, grande parte do problema é como regular globalmente o expansionismo incontrolável do capital, em um contexto de gigantescas falhas de mercado como as mudanças climáticas.
Combater mundialmente a desigualdade e a dominação do espírito humano pelo fetichismo do crescimento econômico a todo custo é uma agenda necessária e de esquerda no século XXI. A essência da questão é garantir a todos acesso ao conhecimento, direitos humanos fundamentais e liberdade individual.
Repetir mantras de forma rasa e superficial é contrariar o lema do velho barbudo: “Duvidar sempre”. O curso de esquerda do século XXI? Comédia.
*Sérgio Besserman Vianna é presidente do Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro