internet
RPD 35 || Sergio Denicoli: Já é 2022 na internet
Bolsonaristas e lulistas já deram início não-oficial à campanha eleitoral para 2022 e estão praticamente sozinhos no campo virtual de batalha
Não se engane com o calendário eleitoral oficial. Nas redes sociais, 2022 já se iniciou. Os candidatos mais atentos estão atuando na velocidade das fibras óticas. Mesmo porque, como a internet é fragmentada em bolhas, o período de campanha determinado pelo TSE é extremamente curto para alavancar uma candidatura. Muito deferente dos nostálgicos anos analógicos, quando a sociedade era pautada pelos jornais, rádios e TV, e o horário eleitoral gratuito marcava de fato o início da disputa.
O curioso desse contexto é que o ano eleitoral realmente começou, mas não para todos. Bolsonaro e Lula já estão confortavelmente em campanha, abarcando 82,9% do total das menções aos presidenciáveis, no Twitter, segundo dados da AP Exata Inteligência Digital, medidos em agosto. O presidente conta com uma fatia maior de menções, atingindo 54%, ao passo que o ex-presidente alcança 28,2% das menções.
Os demais pré-candidatos têm participações residuais. Vez ou outra conseguem polemizar algum tema e aparecem um pouco mais, só que rapidamente voltam a uma expressividade de figurante. Estão nesse patamar Ciro Gomes, João Dória, Eduardo Leite, Rodrigo Pacheco e Sérgio Moro. Os demais nomes, até o momento, são redondamente inexpressivos nas redes.
Bolsonaristas e lulistas, portanto, estão praticamente sozinhos no campo virtual de batalha, que, hoje, é a principal arena da disputa. Bolsonaro atua para desviar o foco dos problemas reais do país e cria uma agenda própria de temas, fazendo com que internautas e a imprensa o sigam.
Assim, conseguiu transformar em amplo debate nacional a questão do voto impresso e agora coloca como prioridade na política brasileira as decisões do Supremo Tribunal Federal, apimentando a cortina de fumaça com o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Morais. É estratégico. Ao pautar a nação de acordo com os temas de seu interesse, o presidente deixa em segundo plano questões como a inflação galopante, a crise energética e o desemprego. Se não agisse proativamente, certamente seria engolido pela agenda baseada nos resultados negativos de setores importantes da gestão federal.
Já Lula evita a agenda ditada por bolsonaristas e busca reforçar sua liderança pessoal, tentando se livrar da imagem de corrupto, que o acompanha desde a Lava Jato. Tem apelado para o lado emocional das redes e busca passar imagem de vigor físico, mostrando as coxas e a jovem namorada, e também esbanja sorrisos, banhos de mar e atitudes conciliadoras. Assim, além de tentar impor a ideia de pertencer a uma esquerda muito próxima do centro, também fecha o espaço para críticas de que, aos 75 anos, já não teria o vigor necessário para comandar o país. Ou seja, mistura vitalidade e diplomacia.
Mas, se as duas principais lideranças políticas do país conseguem dar um banho nos adversários na internet, elas também sofrem para ultrapassar barreiras e falar para além dos convertidos. Romper a bolha de influência é algo extremamente difícil, uma vez que ambos apresentam rejeições bastante altas. Também de acordo com dados de agosto da AP Exata, 60% das menções a Lula no Twitter são negativas. Índice muito próximo do de Bolsonaro, que abarca 62% de menções negativas.
Teoricamente, haveria espaço para uma terceira via. No entanto, para que o eleitor escolha um caminho novo, é preciso que ele enxergue a estrada. E o problema do chamado “centro” é que os nomes que se apresentam não estão sendo vistos como alternativas capazes de romper a polarização.
O mais curioso é que, dominando quase que a totalidade das conversações nas redes, petistas e bolsonaristas dominam também as ruas. Assim, tornam concreta a percepção de que seus líderes têm apoio popular. O centro ainda patina nesse sentido. Tem buscado ocupar espaços de rua e já marcou uma manifestação para o dia 12 de setembro. Mas ainda não entendeu que lideranças abstratas não significam muita coisa. É preciso se libertar das amarras partidárias, das articulações em Brasília, e focar na arena rede. Hoje a terceira via é fatalmente composta por retardatários com dificuldades em alcançar os reais protagonistas do processo.
Desde que a internet se consolidou como o principal meio de debate político, os que não perceberam a mudança e se focam em cartas de protesto divulgadas pela imprensa e entrevistas metódicas, com palavras bonitas bem colocadas, estão sendo excluídos do processo a olhos vistos. Internet é “tiro, porrada e bomba”, mas há ciência por trás, e o mapa a mina são os dados. Lula e Bolsonaro sabem disso, por isso avançaram um ano à frente dos concorrentes.

*Sérgio Denicoli é pós-doutor em Comunicação pela Universidade do Minho (Portugal) e Westminster University (Inglaterra), e também pela Universidade Federal Fluminense. Autor dos livros “TV digital: sistemas, conceitos e tecnologias”, e “Digital Communication Policies in the Information Society Promotion Stage”. Foi professor na Universidade do Minho, Universidade Lusófona do Porto e Universidade Federal Fluminense. Atualmente é sócio-diretor da AP Exata, empresa que atua na área de big data e inteligência artificial.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de setembro (35ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
RPD 35 || Otávio do Rêgo Barros: Relações entre civis e militares, uma reflexão
Cabe à sociedade a responsabilidade de garantir o papel das Forças Armadas, fortalecendo-as como instrumento independente de Estado
“Para abolir a guerra há que remover suas causas que residem na imperfeição da natureza humana” (Liddell Hart)
Vivemos tempos sombrios com a falta de ordenamento de nossa realidade. Uma discussão sobre o papel das Forças Armadas se instalou para além dos muros dos quartéis.
A atuação imoderada do chefe do Poder Executivo, a incentivar o envolvimento de militares nas ações políticas de governo, potencializou a questão. Somou-se a esse inconveniente, posturas contestáveis dos outros Poderes da República. O Legislativo, com tendência mesquinha de enxergar os interesses paroquiais, e o Judiciário, em suposta cruzada moralizadora, que ultrapassa o senso cotidiano de equidade. Formou-se um torvelinho de opiniões divergentes, desamparadas de conhecimento qualificado, que anuvia grupos da sociedade.
Tomando por base o trabalho do professor Samuel Huntington, O soldado e o Estado (BIBLIEX, 2016), abordarei aspectos das relações entre civis e militares, contextualizados para o Brasil contemporâneo. Para fins de enquadramento, o livro foi publicado em 1957, período alcunhado de Guerra Fria, no qual a incômoda ascensão da União Soviética se projetava sobre a águia americana.
A incompreensão da sociedade diante da obrigação do profissional das armas em ser pragmático perenizou-se com o correr dos tempos modernos. O militar é o mais pacifista dos integrantes de uma comunidade. Suas experiências o fazem conhecer a desgraça final dos conflitos humanos e os efeitos deletérios para a sociedade. Justifica-se seu pessimismo.
Ele tem o dever de se posicionar publicamente sobre fatos que afetem a missão da organização e o desempenho profissional. O verdadeiro comandante, vestido da couraça envelhecida de homem das armas, jamais permitirá que seu julgamento seja deformado por conveniências políticas.
A responsabilidade do militar perante o Estado é de natureza tríplice. Exerce uma função representativa, uma função consultiva e uma função executiva. O ordenamento dessas relações é capital para a política de defesa do país e procura consolidar um sistema de pesos e contrapesos entre o civil e o militar, sem sacrifício de valores sociais. Nos pratos da balança se equilibram, em posições opostas, o lícito interesse corporativo do militar e o necessário controle pela sociedade em ambiente democrático.
Mais recentemente, o artigo 142 da CF/88, que elenca as missões “pétreas” nas Forças Armadas, vem sofrendo ataques. “Transitou em julgado, não cabe recursos”, embora encontremos grupos defensores de uma revisão sob um entendimento difuso de um papel de poder moderador das Forças Armadas, defendido em ambientes inelásticos, personalistas ou eivados de interesses políticos. Admito a necessidade de se reflexionar a missão constitucional das Forças, incorporando-se dinamismo modernizador ao conceito, que aclare possíveis imperfeições no texto. Não obstante, não se promovam modificações por contenciosos de momento.
Voltemos à balança. Na disputa daqueles interesses está o nó de górdio das relações entre civis e militares. O grau em que eles entram em conflito depende das exigências de segurança externa e interna, e da natureza e força dos valores incrustados na sociedade.
Entre nós, Terra Brasilis, a disputa se amplia pelo afastamento da sociedade ao tema, quase uma irresponsabilidade. Poderíamos justificar o desatino pelo baixo nível educacional que se reflete na incompreensão dos assuntos que envolvem Forças Armadas.
Quem deveria assumir o papel de ator principal da peça defesa nacional? O povo brasileiro consciente! Mas, inconscientemente, ele transfere a responsabilidade de conduzir a cena aos próprios militares.
A simbiose civil militar só se concretiza por meio de uma sólida obra de arte, que os torne interdependentes. Os batentes da ponte são a posição institucional dos militares, sua influência na sociedade, bem como a natureza da ideologia dos grupos nominados. A predominância egoísta de qualquer dos fatores fissura a estrutura, ofendendo a estabilidade da Nação. O que, convenhamos, não se espera em um país maduro democraticamente.
É crucial fortalecer a segurança das instituições sociais, econômicas e políticas contra ameaças externas (das quais a médio prazo estamos libertos) e contenciosos internos (ardentes nos últimos tempos). Esses, a meu ver, sem soluções a curto prazo.
Deixo-lhes uma reflexão: qual a natureza do corpo de militares que a sociedade deseja e pretende arcar? Enxuto e profissional ou abrangente e social? Envolvido em política ou abrigado dessas tentações?
Os cenários de guerra não são mais westfaliano, quando se subordinavam à confrontação entre estados-nação. Agora, viceja a “guerra de quarta geração”, sem fronteiras, inimigos sem rosto e objetivos não palpáveis. O centro de gravidade é a vontade de lutar, e a opinião pública, genuína ou forjada.
Por tudo isso, cabe à sociedade a intransferível responsabilidade de avaliar adequações que possam ser necessárias ao papel das Forças Armadas. Protegê-las contra corsários em busca de credibilidade. Fortalecê-las como instrumento independente de Estado, peça importante da estabilidade interna e da dissuasão externa tão somente em nome do povo brasileiro.
Paz e bem!

* Otávio Santana do Rêgo Barros é general de Divisão do Exército Brasileiro (R1). Doutor em Ciências Militares, foi porta-voz da Presidência da República (2019-2020). Comandou, no Rio de Janeiro, a força de pacificação nos complexos do Alemão e da Penha e a segurança da Rio+20. Foi Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de setembro (35ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
RPD 35 || Jairo Nicolau: "Urna eletrônica é motivo de orgulho, não de polêmica"
ENTREVISTA ESPECIAL - JAIRO NICOLAU
Militância do presidente da República na suspeição do voto digital pode ter contaminado cerca de um terço do eleitorado brasileiro, acredita o cientista político Jairo Nicolau
Por Caetano Araujo, Arlindo Oliveira e André Amado
Entrevistado especial da edição de setembro da Revista Política Democrática Online, o cientista político Jairo Nicolau critica duramente os ataques contínuos do presidente da República à urna eletrônica - e ao processo eleitoral brasileiro -, considerada por ele como um dos processos de votação mais eficientes do mundo. "A urna eletrônica foi um grande passo para aperfeiçoar o processo de votação no Brasil. É, assim, um sucesso tanto contra a corrupção como na adulteração da vontade do eleitor no momento da votação e, claro, depois na contagem dos votos", avalia.
De acordo com o professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV), estima-se que a militância do presidente da República na suspeição do voto digital possa ter contaminado cerca de um terço do eleitorado. "O estrago é tão lastimável como irreversível. Poderá ser um período grande de desconfiança, de crises políticas graves", lamenta.
Mestre e doutor em Ciências Políticas no Iuperj, com pós-doutorado na Universidade de Oxford e no King’s Brazil Institute, Jairo é autor de vários livros sobre a política brasileira, como História do Voto no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002 e Sistemas Eleitorais. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. O último deles, publicado já durante a epidemia, é “O Brasil dobrou à direita: Uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018”.
Na entrevista à Revista Política Democrática Online, Jairo Nicolau também comenta termas como o sistema político brasileiro, reforma política, fragmentação partidária e processo eleitoral, entre outros. Confira, a seguir, os principais trechos:
Revista Política Democrática Online (RPD): Seu livro sobre a história do processo eleitoral no Brasil louva nosso sistema eleitoral por ser isento de fraudes. Como avaliar os questionamentos que se têm levantado recentemente quanto à inteireza do sistema de votação e, em particular, de apuração?
Jairo Nicolau (JN): Dei ênfase à redução das fraudes, não a seu banimento. Até pouco tempo, as fraudes aconteciam em dois momentos. No momento da votação propriamente dita - e todos aqui somos da época da urna de lona, da cédula de papel, e nos lembramos de como era difícil controlar as fraudes, mesas sendo arranjadas para facilitar que certas forças políticas comparecessem para encobrir o comparecimento de uma pessoa, votar no lugar de outra. E, na hora da apuração, quando todas as cédulas eram depositadas sobre mesas situadas em ginásios esportivos. Pegava-se um uma cédula, lia-se o nome de um e cantava-se o nome de outro. Se não tivesse um fiscal ali, na hora de transformar os votos contados para os boletins de urna, ninguém detinha as fraudes. Fui presidente de sessão eleitoral durante muitos anos e acompanhei as apurações e lembro bem de alguns casos.
Esse tipo de fraude terminou com a urna eletrônica. Além da urna eletrônica, temos hoje também um cadastro nacional de eleitores, de que pouca gente fala, que é checado periodicamente para evitar duplicação de entrada de eleitores. Dispomos ainda da leitura biométrica da identificação dos eleitores que exclui qualquer possibilidade de termos um eleitor inscrito em mais de uma sessão eleitoral ou uma pessoa votando em nome da outra. A urna eletrônica é, assim, um sucesso tanto contra a corrupção como na adulteração da vontade do eleitor no momento da votação e, claro, depois na contagem dos votos.
"Nossa fragmentação é tão alta que vamos levar muito tempo para voltar, por exemplo, ao que éramos na década de 90, com oito ou dez partidos. Isso só não aconteceu em 2018 por uma razão puramente contingente, o arrastão bolsonarista"
Subsistem algumas denúncias no atual processo eleitoral, como as de compra de votos, vale dizer, a influência política de alguns segmentos das elites sobre eleitores mais vulneráveis em certas áreas do Brasil. Isso não está mapeado, mas, de fato, ocorre. Ainda não contamos com um sistema de eleição semelhante a países com elevado nível de educação, como na Escandinávia, por exemplo. Mas o que a urna eletrônica fez já foi uma grande conquista. Não se dispõem de estatísticas confiáveis a respeito da confiabilidade das urnas eletrônicas. Estima-se que a militância do presidente da República de suspeição do voto digital possa ter contaminado cerca de um terço do eleitorado. O estrago é tão lastimável como irreversível.
Do nosso lado, dos democratas, das pessoas que acreditam que a urna foi um grande passo de aperfeiçoar o processo de votação no Brasil, resta sempre um movimento de reação. Reação significa campanha, denunciar fake news. Mas o estrago já está feito, justo quando deveríamos estar celebrando o reconhecimento de um dos processos de votação mais eficientes que conseguem traduzir a vontade do eleitor em preferência política do mundo. Diria até que, do ponto de vista da logística, é o melhor do mundo.
E esse sistema foi colocado em xeque pelo senhor Jair Bolsonaro. Poderá ser um período grande de desconfiança, de crises políticas graves. Continuo otimista com relação a nossa urna eletrônica e, agora, com o voto biométrico. É, sem dúvida, motivo de orgulho, não de polêmica, para todos nós, brasileiros.
RPD: Mais uma vez, estamos presenciando tentativas de alteração do sistema eleitoral a pouco mais de ano do pleito 22. Toda essa movimentação obedece ao receio dos deputados de não se reelegerem reflete, de fato, a necessidade de aprimorar o sistema eleitoral? A seu juízo, que alterações se justificariam para além dos interesses da sobrevivência eleitoral de A, B ou C?
JN: Em razão da regra de que qualquer mudança eleitoral só vale depois de um ano de aprovada, os anos ímpares costumam acumular propostas várias de reforma das regras do processo de votação. Aprovou-se, por exemplo, um calendário de entrada em vigor da cláusula de desempenho, ou seja, que os partidos devem ter uma votação mínima em âmbito nacional para eleições para a Câmara, para o partido ter, depois da eleição, acesso a recursos importantes, como fundo partidário, tempo de televisão. Essa regra já está em vigor, e a legislação prevê que ela vai aumentar até 2030. Ou seja, é possível fazer reformas nas regras eleitorais necessariamente para entrar em vigor na eleição seguinte.
Mas o quadro que a gente tem hoje, pelo menos desde 2014 sobretudo, é que, com algumas reformas, ficou claro que o intuito dos deputados era muito mais de se preservar politicamente do que pensar algum tipo de reforma mais generosa para o país, de aperfeiçoamento do sistema representativo. Acompanho, há muito tempo, os debates na Câmara e compreendo que a motivação dos deputados para reformas não exclui sobrevivência política. Seria estranho imaginar-se partidos cometendo suicídios políticos. Vejamos a questão do voto distrital. Sabemos que, por essa via, partidos de opinião praticamente desapareceriam. Ninguém espera um cálculo político absurdo desse tipo. Defende-se, também, a representação proporcional. Será apenas para proteger os interesses de minoriais? Difícil dizer. Em toda eleição tem um pouco de malícia, de auto-interesse, o que não é necessariamente ruim.
É o que tem acontecido, e aconteceu primeiro com o fundo eleitoral. Quando os deputados e senadores criaram, em 2015, o fundo eleitoral, perceberam que seria estratégico para a sobrevivência política. O dinheiro da campanha viria, sobretudo, do fundo; só faltava criar regras para proteger quem já tinha mandato. Na confecção do fundo, foram muito generosos consigo mesmos. Os partidos maiores ficaram com muito mais dinheiro do que os menores. Como era uma primeira eleição com o fundo, não custava ter deixado uma parte maior para distribuir para os pequenos partidos. Mas, não, eles concentraram o dinheiro do fundo.

"Quando os deputados e senadores criaram, em 2015, o fundo eleitoral, perceberam que seria estratégico para a sobrevivência política. Só faltava criar regras para proteger quem já tinha mandato"
Para proteger a elite política da incerteza da recondução eleitoral, cresceram as perspectivas do chamado Distritão, proposta agora derrotada na Câmara. Na visão dos políticos - tenho muitas dúvidas se eles estavam corretos nessa análise – o Distritão protegeria os deputados que tem mandato. Lembrem-se que, na última eleição, por exemplo, partidos, como o PP, o Progressista, deram muito mais dinheiro para quem tinha mandato, tentando atraí-los para suas legendas. Chegou-se a prometer dois milhões e meio por candidato. Ou seja, o partido não lança candidato à presidência, economiza e, com as sobras, celebra as barganhas. Apoiavam-se em propostas substantivas, republicanas, de melhor servir à cidadania? Não, prevalecia a ideia clássica que move os deputados: o interesse de pessoas, de políticos, nada a ver com os interesses dos partidos.
Reformas desse tipo, que chamo de egoísmo extremado, haverão de conduzir ao desaparecimento de partidos, que se atomizariam e se fragmentariam ante a ânsia incontida dos políticos de sobreviverem abraçandos mandatos, avessos a tudo que possa soar republicano, orgânico, de interesse público.
Não devemos esquecer que, em 2017, houve reforma profunda das regras eleitorais: acabou-se com a coligação e criou-se um sistema de cláusula de desempenho que vai subindo até 2030. O mais curioso é que, até agora, não se testou numa eleição nacional o fim das coligações, muito embora já conste da Constituição, o que um absurdo, é demais. Tanto mais quando já se tenta retirar da Carta Magna o que não foi testado. O que é isso se não é auto interesse? Se há quatro anos era importante para o Brasil acabar com as coligações, o que mudou agora?
A meu ver, esse debate foi muito mal encaminhado, conjugado ainda com essa discussão descabida sobre voto impresso. Com base em minha experiência de estudar esse assunto há muito tempo, digo que nunca vi um debate tão ruim, tão mal feito, tão mal escrito, tão desalinhado como esse das três comissões que o analisaram. É o sinal dos dias, uma legislatura medíocre que se meteu num tema que exige certa especialização e que não poderia ter produzido outra coisa que não um resultado medíocre.
RPD: Seu livro sobre o processo eleitoral para a câmara foi publicado em 2017, meses antes da promulgação da emenda constitucional que proíbe coligação, e a possibilidade de adoção de uma cláusula de barreira de 1,5%, progressiva no tempo, que terminou sendo adotada pela emenda de iniciativa do senador Ferraço. Acredita que a cláusula de desempenho nessa década funcionará com o propósito tal como foi imaginada, isto é, de 2%, 2,5%, em 2026, e 3%, em 2030?
JN: Acho que sim. A gente chegou a tamanho grau de pulverização e fragmentação partidárias que, independentemente do fim da coligação, iniciou-se um processo que se assemelha a uma onda. A onda foi ao máximo com a pulverização de partidos pequenos. Não há congresso algum no mundo que tenha o maior partido representado com menos de 60 membros. Tal hiperfragmentação é disfuncional. A cada votação na Câmara, tem-se de contar com 26 indicações de lideranças. Viu-se isso no processo de impeachment da Dilma. O eleitor não consegue mais seguir um partido diante de tantas siglas. Os políticos não logram criar uma identidade com uma legenda, porque a confusão é total.
É ruim para o presidente. A própria presidente Dilma mencionou que, na época do Fernando Henrique, do Lula, eles tinham cinco, seis partidos na coalizão. No caso dela, eram 14 ou mais.

"Além da urna eletrônica, temos hoje também um cadastro nacional de eleitores, de que pouca gente fala, que é checado periodicamente para evitar duplicação de entrada de eleitores"
Mas há uma razão que me parece fundamental para esse processo que eu estou apontando de encolhimento do quadro, de fragmentação, que é o dinheiro. Quer dizer, não dá para pulverizar o dinheiro, a elite política percebe que tem de concentrá-lo na mão de um número menor do que 26 forças políticas. Já algum movimento nessa direção. Alguns políticos do PSD falam de fusão com o PP e o PSL, que daria um mega partido de direita, ultrapassando 100 deputados, pela primeira vez em mais de 20 anos.
O problema maior pode ser para as pequenas legendas. O que têm acrescentado no debate nacional, com algumas exceções? Muito pouco. A cláusula de desempenho não foi mexida, vai manter-se a mesma, então o que mexe com o dinheiro não é a coligação, lembrando que a coligação é uma decisão do político, o fato de ter a norma não significa que, na prática, ela se concretize. Na campanha de 1986, muito poucos partidos se coligaram. O PT e o PSD, do Kassab, sempre se opuseram a coligações, e não será, agora, quando passam por um bom momento político, que haverão de rever sua posição de base.
Tudo indica, portanto, que quem quer coligar-se não tem cacife e quem não quer vai partir para atuações isoladas em alguns Estados, decididos a não se prestar a dar carona a partidos menores. Daí porque eu achar que o congresso de 2022 vai ser mais compacto do que o atual. Claro, não vamos chegar ao modelo inglês, com dois grandes partidos e alguns partidos pequenininhos. Nossa fragmentação é tão alta que vamos levar muito tempo para voltar, por exemplo, ao que éramos na década de 90, com oito ou dez partidos. Isso só não aconteceu em 2018 por uma razão puramente contingente, o arrastão bolsonarista. Caso contrário, o DEM, PSDB e MDB teriam bancadas mais expressivas com 50, 60 deputados cada um.
Quer dizer, o que o Bolsonaro fez em 2018, com aquele desempenho impressionante no primeiro turno, que se traduziu numa bancada gigantesca de deputados, ajudou, digamos assim, a quebrar um padrão, mas isso, para mim, não continua. Nem sempre há eleições extraordinárias. Vimos muitas eleições depois da redemocratização, e só em uma, um partido, fez o estrago. Se a gente olhar e comparar o que aconteceu com o maior partido do Brasil, o Partido dos Trabalhadores, para chegar a 50 deputados, o PT passou por umas cinco eleições. Teve oito em 82, dobrou para 16 em 86, foi para 30 e poucos em 90, chegou em torno de 50 em 94. Quer dizer, o partido levou uma década e meia ou duas décadas para chegar a 50 deputados, e o PSL numa eleição chegou a isso. Isso nunca tinha acontecido.
O surgimento do PSL trouxe um elemento ainda de fragmentação. Agora, o PSL, não é à toa que ele está buscando uma aliança com outro partido, porque eles estão percebendo que ali de baixo não tem nada, é oco. O partido não tem nome, aquilo ali foi um arrastão ocasional. Eu apostaria, intuitivamente, é uma aposta só de conversa fiada, vamos dizer assim, que uma boa parte, sei lá, 60%, 70% dos deputados do PSL não se reelegem mais, eles entraram ali e vão sumir como surgiram. Para mim, 22 será o momento de compactação política. Mas, de novo, não vai ser a compactação como conhecemos na década de 90, mas tampouco vamos repetir esse modelo de hiperpulverização de 2018.
RPD: Sabemos que nosso sistema eleitoral nas eleições proporcionais não é um sistema frequente no mundo. Normalmente, quem adota o sistema proporcional adota o sistema com alguma forma de fechamento ou pré-ordenamento das listas. Dado que nós temos uma certa singularidade nesse ponto, quais seriam, do ponto de vista dos eleitores, os principais problemas que esse sistema acarreta para nós?
JN: Para mim, o maior efeito desse sistema é que tem muitas formas de organizar-se a representação proporcional. O que há em comum entre os vários países que usam a representação proporcional é o princípio de que cada partido lança uma lista de nomes. Se a gente for na Polônia, na Bulgária, em Portugal, na Espanha, qualquer país do mundo que usa a representação proporcional, o fundamento é: lance uma lista de nomes, o voto dessa lista vai ser contado e nós vamos distribuir as cadeiras proporcionalmente segundo o volume de votos de cada lista. Isso é o que há de comum. Em Portugal, por exemplo, o eleitor não vota em nomes, porque a lista já vem prontinha de casa. Digamos que se no Brasil o sistema português fosse adotado, nós chegaríamos na seção eleitoral, olharíamos a ordem dos nomes. Primeiro lugar, candidato fulano, beltrano, ciclano. Assim funciona em Portugal, de modo de que na hora que se olha para a cédula, só marca um xis onde está seu partido. Como a gente votava para presidente no Brasil na época da cédula de papel, é uma cédula portuguesa para deputados: aparecem o símbolo do partido e o nome. A marcação do lado indica que se comprou o pacote, não se está escolhendo um nome.
"É o sinal dos dias, uma legislatura medíocre que se meteu num tema que exige certa especialização e que não poderia ter produzido outra coisa que não um resultado medíocre"
O que temos no Brasil é um sistema cuja ênfase no nome no candidato é muito forte. Costumo dizer que isso é agravado para os eleitores comuns pelo próprio processo de votação. A urna eletrônica, em que pesem todas as virtudes que identifiquei, não ajuda passar para o eleitor a sensação que ele está votando numa lista e não num nome. Se eu tivesse, por exemplo, um eleitor peruano que usa o sistema brasileiro de lista aberta, ele tem uma cédula grandona com o nome de todos os candidatos e as listas. Ele vai lá e marca um nomezinho na cédula, com todos os candidatos. Claro, no Brasil não daria porque são 400, 500 candidatos. Mas, se fossem 80, na época da cédula de papel, você faz uma cédula peruana, grandona, com retratinho, você vai lá e escolhe o retratinho, você está votando no nome. No Brasil, a gente não tem isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o maior problema que eu vejo na lista aberta é que o papel do político individual é muito grande. E como os Estados cresceram muito em tamanho, a população ficou muito grande e a sociedade brasileira, mais complexa, a política ficou mais democrática, os interesses atomizados da sociedade começaram a adotar o lugar da política, dos partidos, de uma maneira, fazendo uma ligação direta, que não existia no passado. Claro que sempre houve padre, um radialista, um artista da televisão fazendo política, lideranças da sociedade sempre entraram na política da vida. Nem todo mundo precisa começar a carreira política se filiando no diretório local, sendo vereador, depois deputado estadual. Essa carreira, digamos linear, acontece, mas o que eu percebo, recentemente, é que com essa mudança da sociedade brasileira, o atalho entre celebridades, lideranças da sociedade civil e a política, tanto para bem quanto para mal, ficou muito curtinho, ficou muito rápido.
A bancada do PSL é isto, não é? São 50 personalidades, raríssimos políticos de carreira ali, são pouquíssimos. Isso aparece com interesses econômicos, empresários que no passado faziam lobby, tinham amigos na política, começaram a se meter com política. Não estou falando de grandes empresários, do presidente da CNI, não, eu estou falando de empresários locais, dono de uma transportadora, um pecuarista que resolve ele mesmo entrar na política. Interesses, claro, do outro lado, sindicais. Não mais interesses religiosos, a gente não está falando de um líder religioso nacional, a gente está falando de um pastor de uma igreja pequena, de uma região do Rio de Janeiro, o sujeito vai direto. É um pastor de uma igreja rural, não tem atalho, ele entra num partido um ano antes da eleição, se elege federal. Ele é representante de quem? Ele é simplesmente o intermediador em Brasília entre os interesses da igreja e dos moradores lá da região dele.
RPD: A fragmentação está relacionada ao sistema? A falta de transparência e de inteligibilidade para os próprios eleitores está relacionada com isso? O que fazer para poder avançar na solução dessas questões?
JN: Acho que de certa maneira não tem como tirar a responsabilidade do sistema proporcional de lista aberta combinando com a mudança que o país passou. Quando a elite política era mais fechada, ela resolvia bem isso. Digamos, colocava os quadros, pensando até recentemente, no PSDB, nos partidos que fizeram a constituinte. Você tinha uma elite parlamentar que controlava a política e às vezes aparecia uma figura dessa, mas ele ficava na franja do sistema político, ele era em menor número. Agora, o Brasil mudou, o sistema eleitoral é o mesmo. Esse atalho é feito em ligação direta. Como a gente fazia no passado, ligava o carro em ligação direta, você não tem chave, não tem intermediação, isso me preocupa.
Para mim, mesmo uma reforma política, no que a gente está falando aqui de compactação, vai melhorar um pouco a inteligibilidade do sistema, ele vai ficar um pouco mais arrumado, mas essa questão mais funda, do hiperparticularismo dominando a política, que tem a ver com a lista aberta – claro, você pode botar uma lista fechada e não resolver esse problema –, que a lista aberta agrava esse problema eu não tenho dúvida. Isso veio para ficar, ou seja, o legislativo brasileiro está muito pulverizado não só em termos partidários, mas do particularismo dos interesses locais, interesses pontuais. A gente vê uma campanha para deputado, eu lembro que, no ano passado, tinha um sujeito que era representante dos porteiros do Rio de Janeiro, ele queria voto como representantes dos porteiros e trabalhadores nos prédios. “Eu quero representá-los em Brasília”. Veja, não é mais o interesse territorial, é o hiperinteresse. Isso realmente me preocupa, e eu não sei como a gente tem como mudar isso. Porque depois que a gente coloca essas pessoas no Legislativo, aí que elas não vão querer um sistema de lista fechada, porque elas provavelmente vão ficar na rabeira da lista, não é mesmo? É um modo de reprodução que é difícil quebrar nesse caso.
RPD: Devidamente autorizado por sua experiência na academia e nos corredores da política, que proposta gostaria de ver vitoriosa nas mudanças que se insinuam na área eleitoral?
JN: Para ser totalmente honesto, e diante dessas propostas, eu diria nenhuma. Nesse momento, era melhor deixar do jeito que está. A gente fez a reforma em 2017, ela não foi experimentada, eu acho que foi uma reforma que tem mais acertos do que erros. Talvez num momento dois, digamos, a partir da próxima legislatura eleita não com essa excepcionalidade que foi a eleição de 2018, nós possamos começar a discutir, não sei se nessa seguinte ou na outra, talvez uma forma de dar um pouco mais de contenção partidária a essa lista aberta brasileira. Talvez dando aos partidos mecanismos de ordenar a lista, como se faz em Portugal, ou até um formato que é usado em alguns países europeus, que eu gosto, particularmente, que é o seguinte: você fecha a lista, mas dá ao eleitor a opção, caso ele queira, de votar num nome específico. Com isso, caso um nome tenha algum destaque, ele pode se eleger. Quer dizer, você quebra um pouco, dá uma flexibilidade, por isso este modelo se chama lista flexível, à lista. Mas tudo isso pode ser discutido num ambiente em que, primeiro, a gente acabou com as coligações, tem uma certa compactação partidária e fique um ambiente melhor para conversar. Nesse ambiente, agora, desse atomismo que a gente conversou, eu acho melhor não mexer em nada. 2022, com as mesmas regras de 2018, com aperfeiçoamento de um fim da coligação e um aumento dos 2% da cláusula de desempenho.
Saiba mais sobre o entrevistado
Jairo Nicolau
É cientista político, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV). Mestre e doutor em Ciências Políticas no Iuperj, com pós-doutorado na Universidade de Oxford e no King’s Brazil Institute, é autor de vários livros sobre a política brasileira, como História do Voto no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002 e Sistemas Eleitorais. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. O último deles, publicado já durante a epidemia, é “O Brasil dobrou à direita: Uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018”.
Saiba mais sobre os entrevistadores

Caetano Araújo
É graduado em Sociologia pela Universidade de Brasília (1976), mestre (1980) e doutor (1992) em Sociologia pela mesma instituição de ensino. Atualmente, é diretor-geral da FAP e Consultor Legislativo do Senado Federal. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Teoria Sociológica e Sociologia Política.

Arlindo Fernandes de Oliveira
É advogado, especialista em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Público, IDP, especialista em Ciência Política pela Universidade de Brasília, UnB, bacharel em direito pelo Uniceub. Foi assessor da Câmara dos Deputados e da Assembléia Nacional Constituinte (1984-1092), analista judiciário do Supremo Tribunal Federal (1992-1996) e assessor da Casa Civil da Presidência da República (1995). Professor de Direito Eleitoral no Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, desde 2004. Desde 1996, consultor legislativo do Senado Federal, Núcleo de Direito, Área de Direito Constitucional, Eleitoral e Processo Legislativo.

André Amado
É escritor, pesquisador, embaixador aposentado e diretor da revista Política Democrática On-line. É autor de diversos livros, entre eles, A História de Detetives e a Ficção de Luiz Alfredo Garcia-Roza.
RPD 35 || Alberto Aggio: “Que país é esse?”
O Brasil sob o governo de Bolsonaro é sintoma evidente de uma história que precisa ser decifrada, avalia o historiador Alberto Aggio
“O Brasil não é para principiantes”. Quantas vezes já se leu ou ouviu esta frase, atribuída a Antonio Carlos Jobin? Frequentemente, ela é mencionada para atestar a dificuldade de se compreender o país. Está presente em quase todos os exercícios de revisão das principais interpretações sobre a formação histórica brasileira. Comunidades de cientistas sociais se dedicam recorrentemente a pensar e repensar os interprétes do país em encontros científicos, seminários e antologias de ensaios, sem chegarem a conclusões mais definitivas.
Como se sabe, as interpretações sobre o Brasil compõem tradição de enorme multiplicidade em suas abordagens, nada uniforme e harmônica, produzida em diversos momentos da sua história. Uma tradição que ensejou embates inclinados tanto à conciliação quanto ao rechaço a ela. Um paradoxo nem sempre percebido nas disputas políticas e culturais que se desenrolam no presente. Pensar o Brasil nunca foi apenas um exercício acadêmico ou intelectual. Trata-se de um debate que alimenta, o tempo todo, projetos que visam ao futuro do país.
O Brasil, seguramente, não é para principiantes. Contudo, não seria absurdo pensar, ultrapassando o senso comum, que tal asseveração poderia ser aplicada a inúmeros países, dos EUA à Rússia, da China ao México, do Afeganistão à Bolívia, apenas para mencionar alguns exemplos. Em todos eles, há incógnitas a serem decifradas, e seus problemas atuais não são nada simples, como temos visto.
É preciso estabelecer também um questionamento a respeito do exagero de que o Brasil guarda uma excepcionalidade superlativamente distinta de outras experiências históricas, com seus maneirismos típicos dos quais o “jeitinho” ou a “gambiarra” são incensados ad nauseum. Além de um ar de troça e menosprezo, há nesse tipo de leitura soberba que visa desacreditar a tarefa do pensamento na compreensão do país bem como do seu lugar no mundo. Essa forma de conceber o país é inútil e improdutiva diante dos desafios civilizatórios que temos diante de uma mundialização que se impõe a cada dia. Se o Brasil for apenas isso estamos fritos.
O realismo nos indica que, para pensar a experiência histórica brasileira, isolando os esquemas sociológicos abstratos, o exercício da comparação é vital. A equalização ao tempo dos contemporâneos não poderá ser sequer vislumbrada caso não se reconheça que a vida social e política, a economia e os valores civilizatórios são hoje História global. Seria importante pensar intelectualmente o Brasil por meio de uma análise capaz de alocá-lo num quadro comum de problemas de natureza interdependente, entre os quais se podem mencionar os desafios da consolidação da democracia, da inserção na globalização da defesa e afirmação da sustentabilidade ecológica.
Embora não caiba dizer que existe uma linhagem do pensamento brasileiro seguindo essas indicações, há quem já a percorra sob uma chave de leitura que afirma analiticamente que a sobreposição, combinação e síntese entre a matriz ibérica e uma tradução particular do americanismo deram ao país a morfologia da sua formação social. A partir dessa chave, o Brasil pode ser pensado concretamente, ainda que essa não seja uma tarefa exclusiva do pensamento social e de seus intelectuais. A complexidade que daí deriva supõe a recusa à adoção da estratégia de um “tempo exaltado” como solução dos nossos dilemas históricos ao se sugerir, como faz Luiz Werneck Vianna, a proposição de “exploração do transformismo ‘de registro positivo’” como a melhor indicação para a compreensão dos “processos societais novos na sociedade brasileira (...) depois da institucionalização da democracia política em meados dos anos 80”[1].
O Brasil moderno se fez em meio às disputas intelectuais e políticas pela hegemonia no andamento da sua “revolução passiva”, uma história de paradoxos, contradições e incompletudes. Até mesmo movimentos que buscaram caminho modernizador e democrático, como foi o Modernismo de 100 anos atrás, vivenciaram isso e, de acordo com Vinicius Müller, acabaram produzindo “nova situação de exclusão ou, no mínimo, de diferenciação, entre os membros iluminados da intelligentsia e aqueles que, mesmo formando uma grande parte do país, são, segundo esse olhar, analfabetos políticos, ignorantes religiosos, facilmente manipuláveis e/ ou pouco conhecedores da própria história”[2].
Que país é esse? se perguntava um atormentado Renato Russo numa de suas canções no final dos anos 1980. Décadas à frente, ainda perplexos, somos nós que indagamos: que país é esse que entronizou Bolsonaro? Não há como não reconhecer que o Brasil sob Bolsonaro é sintoma evidente de uma história que precisa ser decifrada. Não pode ser visto como um parêntesis. Ele já estava aí, mas não foi percebido em sua barbárie e no seu espantoso espelhismo antiglobalista. Não será possível superá-lo, verdadeiramente, apenas apertando os botões da urna eletrônica, embora esse seja um passo necessário e imprescindível.
[1] VIANNA, L. W. A revolução passiva – iberismo e americanismo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1997, p. 10.
[2] MÜLLER, V. A História como presente. Brasília: FAP, 2020, p. 191-2.

*Alberto Aggio é historiador, professor titular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e responsável pelo Blog Horizontes Democráticos.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de setembro (35ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
RPD 35 || Marcus Vinícius Furtado: O que resta ainda por dizer sobre Cuba
Regime cubano é imagem da esquerda utópica que falha ao enfrentar as questões políticas, econômicas e sociais destas primeiras décadas do século XXI
Em julho de 2021, os debates em torno da revolução cubana ganharam novo destaque em virtude das manifestações que ocorreram no país. A resposta inicial do governo foi, além da repressão aos protestos, declarar a crise como fruto da persistência do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba. Diante da reiteração do mote anti-imperialista, característico da revolução cubana, o presidente Miguel Díaz-Canel convocou os cubanos a ocuparem as ruas em defesa do regime revolucionário.
Tais declarações marcam a existência de um regime ancilosado, refém de seus próprios pressupostos políticos, mas que ainda é capaz de despertar apoios apaixonados em toda a América Latina. Diante disso, é preciso refletir como, mesmo frente aos problemas econômicos e às frequentes demonstrações de autoritarismo, essa defesa é possível.
Quando, no início de 1959, os guerrilheiros liderados por Fidel Castro adentraram em Havana, havia a expectativa de que finalmente a América Latina poderia realizar seus desígnios utópicos. Retomando em chave revolucionária a Nuestra América de José Martí, Castro atacava o domínio norte-americano e afirmava a rebeldia dos cubanos como estratégia vitoriosa na conquista da libertação política e econômica da ilha.
Na América Latina, os impactos da revolução, como demonstra Alberto Aggio[1], impulsionaram a formação de uma cultura revolucionária característica do continente. Nessa imaginação revolucionária há uma cisão entre reforma e revolução que, além de fixar o caminho insurrecional como paradigma, estabelece o Terceiro Mundo e a própria América Latina como novos polos revolucionários diante da estagnação política da URSS.
Em termos políticos, essa cisão promoveu rearranjos nas esquerdas de diversos países. Contrapondo-se à necessidade de uma etapa democrático-burguesa como antessala do socialismo, a leitura cubana orientou o rompimento de parcela das esquerdas com as burguesias nacionais e os partidos comunistas. No continente dilacerado pelo imperialismo, a violência revolucionária apareceu como a possibilidade de redenção e liberdade.
Nas décadas seguintes, a retórica heroica da revolução conviveu com as dificuldades internas e as necessidades de posicionamento político no intrincado xadrez da Guerra Fria. Por um lado, o modelo revolucionário cubano, orientado por uma perspectiva de libertação nacional impulsionada pela rebeldia guerrilheira, se distanciava da estrutura partidária soviética. Por outro, frente às ameaças norte-americanas e ao embargo econômico, Havana buscou estabelecer relação de maior aproximação e segurança com Moscou.
Internamente, as propostas de uma revolução afastada dos dogmatismos e da excessiva centralização do poder logo desapareceram. Conforme demonstra Silvia Cézar Miskulin[2], as posturas autoritárias do regime em relação à intelectualidade cubana foram estabelecidas nos primeiros anos da revolução, alguns anos antes do célebre caso Padilla. Concomitantemente, como demarca Claudia Hilb[3], o voluntarismo e a expectativa do estabelecimento de profundas transformações históricas orientaram a produção de um poder centralizado no Estado e na figura de seu líder.
Nesse sentido, as realizações que sustentam o imaginário da revolução cubana, a exemplo das políticas públicas nas áreas de educação e saúde, são indissociáveis dessa estrutura autoritária e planificada construída nas décadas subsequentes à revolução. Com o desaparecimento da URSS, para além dos problemas internos, o regime cubano revela com mais profundidade seu caráter insular. Não fortuitamente, protestos de intensidade semelhante aos atuais ocorreram na ilha em 1994, logo após a debacle soviética.
Portanto, a defesa da revolução cubana parte de uma dissociação que, ao enfocar o desenvolvimento social da ilha, encobre as fragilidades desse sistema social e trata os protestos contra o desabastecimento e a morosidade da vacinação como manifestações de espírito contrarrevolucionário. Mais grave, essa dissociação guarda incômodo silêncio em relação à persistência de um regime ditatorial, terminando por legitimar o autoritarismo e o velho paradigma insurrecional.
Distante da rebeldia dos barbudos, o regime revolucionário cubano, permanentemente ancorado nos dilemas políticos do século XX, é uma imagem opaca e esmorecida das utopias latino-americanas que teimam em mobilizar determinados setores das esquerdas do continente, entravando o enfrentamento das novas questões políticas, econômicas e sociais dessas primeiras décadas do século XXI.
[1] AGGIO, Alberto. A teoria pura da revolução. SP: O Estado da Arte, 2021. Disponível em: https://estadodaarte.estadao.com.br/teoria-pura-revolucao-aggio-hd/
[2] MISKULIN, Silvia Cezar. Os intelectuais cubanos a política cultural da revolução (1961-1973). SP: Alameda, 2009.
[3] HILB, Claudia. Silêncio Cuba: a esquerda democrática diante do regime da revolução cubana. SP: Paz e Terra, 2010.

* Marcus Vinícius Furtado é pós-doutorando em História pela Unesp-Franca. Publicou os livros Em um rabo de foguete: trauma e cultura política em Ferreira Gullar e A arquitetura fractal de Antonio Gramsci: História e política nos Cadernos do Cárcere.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de setembro (35ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
RPD 35 || Autores - Edição de Setembro/2021
Jairo Nicolau
Entrevistado especial da edição número 35 da Revista Política Democrática Online (Setembro/2021), Jairo Nicolau é cientista político. É professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV). Mestre e doutor em Ciências Políticas no Iuperj, com pós-doutorado na Universidade de Oxford e no King’s Brazil Institute, é autor de vários livros sobre a política brasileira, como História do Voto no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002 e Sistemas Eleitorais. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. O último deles, publicado já durante a epidemia, é “O Brasil dobrou à direita: Uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018”.

Caetano Araújo
Graduado em Sociologia pela Universidade de Brasília (1976), mestre (1980) e doutor (1992) em Sociologia pela mesma instituição de ensino, é um dos entrevistadores do cientista político Jairo Nicolau. Atualmente, é diretor-geral da FAP e consultor legislativo do Senado Federal. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Teoria Sociológica e Sociologia Política.

Arlindo Fernandes de Oliveira
É autor do artigo O que se pode esperar de uma CPI e um dos entrevistadores do cientista político Jairo Nicolau. É advogado, especialista em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Público, IDP, especialista em Ciência Política pela Universidade de Brasília, UnB, bacharel em direito pelo Uniceub. Foi assessor da Câmara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte (1984-1092), analista judiciário do Supremo Tribunal Federal (1992-1996) e assessor da Casa Civil da Presidência da República (1995). Professor de Direito Eleitoral no Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, desde 2004. Desde 1996, consultor legislativo do Senado Federal, Núcleo de Direito, Área de Direito Constitucional, Eleitoral e Processo Legislativo.

André Amado
Um dos entrevistadores do cientista político Jairo Nicolau, também é autor do artigo A construção de um personagem. É escritor, pesquisador, embaixador aposentado e diretor da revista Política Democrática Online. É autor de diversos livros, entre eles, A história de detetives e a ficção de Luiz Alfredo Garcia-Roza.

Cleomar Almeida
Autor da reportagem especial Do prenúncio à nova tragédia – Caso Cinemateca confirma descaso com cultura. Graduado em jornalismo, produziu conteúdo para Folha de S. Paulo, El País, Estadão e Revista Ensino Superior, como colaborador, além de ter sido repórter e colunista do O Popular (Goiânia). Recebeu menção honrosa do 34° Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos e venceu prêmios de jornalismo de instituições como TRT, OAB, Detran e UFG. Atualmente, é coordenador de publicações da FAP.

Otávio Santana do Rêgo Barros
Autor do artigo Relações entre civis e militares, uma reflexão, é general de Divisão do Exército Brasileiro (R1). Doutor em Ciências Militares, foi porta-voz da Presidência da República (2019-2020). Comandou, no Rio de Janeiro, a força de pacificação nos complexos do Alemão e da Penha e a segurança da Rio+20. Foi Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército.

Alberto Aggio
Autor do artigo "Que país é esse?". É historiador, professor titular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e responsável pelo Blog Horizontes Democráticos.

Antônio Carlos de Medeiros
Autor do artigo O Congresso Nacional sob escrutínio. É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science.

Sérgio Denicoli
É autor do artigo Já é 2022 na internet. É pós-doutor em Comunicação pela Universidade do Minho (Portugal) e Westminster University (Inglaterra), e também pela Universidade Federal Fluminense. Autor dos livros “TV digital: sistemas, conceitos e tecnologias”, e “Digital Communication Policies in the Information Society Promotion Stage”. Foi professor na Universidade do Minho, Universidade Lusófona do Porto e Universidade Federal Fluminense. Atualmente é sócio-diretor da AP Exata, empresa que atua na área de big data e inteligência artificial.

Valdir Oliveira
Autor do artigo Retomada da economia na tempestade perfeita, é superintendente do Sebrae no DF. Foi secretário de Desenvolvimento Econômico do governo de Rodrigo Rollemberg (PSB).

Leonardo Ribeiro
Autor do artigo Um meteoro no país das pedaladas, é analista do Senado Federal e especialista em contas públicas. Foi pesquisador visitante da Victoria University, Melbourne, Austrália.

JCaesar
Autor da charge da Revista Política Democrática Online, é o pseudônimo do jornalista, sociólogo e cartunista Júlio César Cardoso de Barros. Foi chargista e cronista carnavalesco do Notícias Populares, checador de informação, gerente de produção editorial, secretário de redação e editor sênior da VEJA. É autor da charge publicada pela Revista Política Democrática Online.

Marcus Vinícius Furtado
É pós-doutorando em História pela Unesp-Franca e autor do artigo O que resta ainda por dizer sobre Cuba. Publicou os livros Em um rabo de foguete: trauma e cultura política em Ferreira Gullar e A arquitetura fractal de Antonio Gramsci: História e política nos Cadernos do Cárcere.

Lilia Lustosa
Autora do artigo A poética política de Glauber, é formada em Publicidade, especialista em Marketing, mestre e doutora em História e Estética do Cinema pela Universidade de Lausanne, França.

Henrique Brandão
Jornalista e escritor, é autor do artigo Giocondo, um comunista abnegado e gentil.
RPD 35 || Antonio Carlos de Medeiros: O Congresso Nacional sob escrutínio
Varejo político desvirtua o papel da Câmara, que não representa adequadamente o povo. Senado falha em atuar na representação dos Estados
A sociedade brasileira mantém avaliação negativa dos políticos e do Congresso Nacional. O acordo político do governo Bolsonaro com o Centrão estimulou o protagonismo do Congresso. Mas contribuiu para a avaliação negativa dos políticos. O acordo resultou no aumento vertiginoso das emendas de parlamentares e dos fundos partidário e eleitoral.
Tudo somado, o Orçamento da União de 2022 destinará em torno de R$ 40 bilhões aos partidos e aos parlamentares. A sociedade reage. E joga, outra vez, luz sobre o desempenho e a imagem do Congresso. O que esperar do Congresso? A crise ética ainda é resultante da nossa herança patrimonialista? Nosso sistema híbrido de governo - presidencialista-parlamentarista - se exauriu? O pacto social da Constituição de 1988 chegou ao fim?
A questão central é que nem a Câmara Federal representa adequadamente o povo, nem o Senado da República opera bem para representar o território, isto é, os Estados. Os deputados federais viraram “vereadores federais”. E os senadores, ao deixarem de ter papel apenas revisor, tornaram-se um misto de deputados e vereadores. As funções precípuas da Câmara e do Senado estão apequenadas e desvirtuadas. Embora eles tenham muito poder, o varejo político desorganiza a possibilidade de atuação estratégica e efetiva. Predomina a pequena política do clientelismo, do corporativismo, do varejo, dos arranjos, e tudo mais que a opinião pública condena. Tudo funciona para a manutenção e renovação dos mandatos dos parlamentares. Pouco de grande política. Muito da pequena política. São necessárias reformas políticas que resgatem o papel da Câmara como representante direta dos cidadãos e o papel do Senado como casa revisora representante dos Estados.
O Senado trabalha como se fosse uma Câmara dos Deputados. Já a Câmara, como fruto das anomalias criadas pelo Pacote de abril de 1977 e pela Constituição de 1988, teve o número de vagas para Estados com população pequena inflados artificialmente. Criou-se um problema estrutural de superrepresentação dos estados menores e subrepresentação dos estados maiores. O Pacote reduziu o poder político de São Paulo e dos estados mais urbanizados. Alvejou a democracia representativa.
As reformas políticas que estão em pauta não vão contribuir para o resgate do Congresso Nacional. São retrocessos democráticos. As questões que precisam ser atacadas são de outra natureza – começando pelo sistema híbrido de governo. O resgate da dimensão republicana da democracia brasileira requer reformas que promovam legitimidade na delegação e consensualidade no exercício do poder. Com a atual forma de funcionamento do Congresso, não se produz nem legitimidade da representação política (os políticos eleitos), nem consensualidade no exercício do poder (governança).
Sem incorrer num panpoliticismo que pretenda forjar a realidade à base de “golpes de lei”, é necessário desencadear uma seqüência de mudanças institucionais articuladas entre si, para resgatar o papel do Congresso e fazer avançar a democracia brasileira. Seguem, aqui, de forma esquemática e como contribuição ao debate, algumas propostas factíveis.
Primeiro, enquanto se discute se o Brasil vai ou não implantar o sistema distrital misto, é possível melhorar a representatividade do sistema eleitoral brasileiro pela simples alteração do sistema de redistribuição de sobras, mudando-se do sistema D´Hondt para o sistema Saint-League, caso as coligações voltem a ser permitidas. O Saint-League aumenta o denominador do cálculo da distribuição de sobras, estimulando os pequenos partidos a concorrerem sozinhos às eleições.
Segundo, a melhoria da representatividade passa também pela adequada representação dos estados. Isto pode acontecer se a redistribuição do número de vagas destinadas a cada estado na Câmara Federal devolver o valor do índice de Gini ao patamar de 1950, ou seja, à escala próxima ao intervalo entre .24 e .35. Isto tornaria mais proporcional e legítima a formação da Câmara Federal.
Simulei que limites mínimos e máximos de seis e 70 deputados por estado, respectivamente, permitiriam melhor equilíbrio, assumindo a proposta original da Comissão Afonso Arinos na Constituinte de 1988, que reduzia para 420 o total de deputados na Câmara. Com esses dados, chega-se a um índice de Gini de .3347.
Terceiro, é necessário promover a limpeza da pauta de problemas da Câmara Federal, retirando matérias regionais típicas de assembléias legislativas estaduais, desde que não se fira o princípio federalista. Isto pode ser feito por iniciativas infraconstitucionais e permitiriam a melhoria da qualidade da ação dos congressistas.
Por último, é importante repaginar o formato do bicameralismo brasileiro, para a recuperação do equilíbrio bicameral. As regras atuais tornam o Senado uma Câmara de Deputados, deixando de ser apenas uma casa revisora e representante do território, e não do povo.
O Congresso Nacional não cumpre bem as três grandes funções dos Parlamentos na democracia representativa: a iniciativa de leis; a fiscalização do Executivo; e a formação e renovação de elites e lideranças políticas. Esta baixa relevância, apesar seu poder atual, é disruptiva para a democracia brasileira.
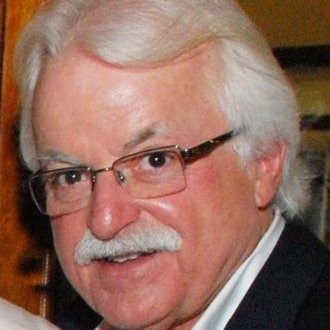
* Antonio Carlos de Medeiros é pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de setembro (35ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
RPD 35 || Reportagem especial: Do prenúncio à nova tragédia - Caso Cinemateca confirma descaso com cultura
Incêndio mostra, na prática, reflexos da postura do governo do presidente Jair Bolsonaro com o setor no país
Cleomar Almeida, da equipe da FAP
Dois anos e dez meses separaram o prenúncio do risco de mais descaso com a cultura no Brasil e a tragédia do recente incêndio que destruiu parte da Cinemateca Brasileira, cujos prejuízos, ainda imensuráveis, são alvo de novas investigações do Ministério Público Federal (MPF), em São Paulo. Instituições e representantes do setor cultural cobram a responsabilização do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Em setembro de 2018, ainda candidato à presidência, Bolsonaro sinalizou com seu descaso para a cultura, após o incêndio que atingiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro. “E daí?”, retrucou, na época, ao ser questionado sobre o maior desastre que arruinou o patrimônio científico e histórico do país. “Já está feito, já pegou fogo, quer que eu faça o quê?", respondeu à imprensa.
Depois de 15 dias do mais recente incêndio na história da Cinemateca brasileira, registrado em 29 de julho deste ano, o governo Bolsonaro seguiu na ofensiva. No último mês, anunciou demissões de técnicos da instituição, que preserva o mais rico acervo cinematográfico do país, com mais de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de roteiros, fotos, cartazes e livros relacionados ao cinema. O fogo fez parte do teto do galpão desabar, e o prédio foi interditado.
No entanto, a sede da Cinemateca estava fechada desde agosto de 2020, quando o secretário especial da Cultura, Mário Frias, tomou as chaves do local com escolta policial. Agora, ele tornou-se alvo de uma queixa-crime apresentada pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados por causa do incêndio, que também é investigado pela Polícia Federal.

“O incêndio foi criminoso, não porque tenham botado fogo, mas pelo abandono da Cinemateca, vítima do desejo político de destruição da memória, da criatividade e da crítica. Arquivos de filmes são incendiários na essência de suas materialidades, principalmente de filmes antigos, ainda em nitrato. Deixar a Cinemateca sem funcionários é um grande crime”, disse o escritor e cineasta João Batista de Andrade.
O cineasta ressaltou a “queda brutal nos investimentos culturais”. “No cinema, por exemplo, há milhões de reais paralisados na Ancine, a agência reguladora e financiadora do cinema no Brasil. Enquanto isso muitos filmes em produção estão paralisados e uma infinidade de projetos sem viabilidade previsível. Destruir a cultura é um projeto nefasto de poder. É o que estamos vivendo”, criticou ele.
Cobrança
Em 2020, por exemplo, o MPF cobrou explicações da Secretaria Especial de Cultura sobre a falta de repasses orçamentários à Cinemateca Brasileira. O contrato entre o Ministério da Educação e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp) chegou a ser suspenso porque o governo não repassou nenhuma parcela dos R$ 12 milhões previstos no orçamento para a entidade gerir o local. Funcionários tiveram salários atrasados.
Diante da gravidade da situação, o MPF ajuizou, em julho do ano passado, ação civil pública e apontou que o grande problema foi a má transição na gestão da Cinemateca, de 2019 para 2020: encerrou-se o contrato de gestão da Acerp sem a União se responsabilizar pela continuidade nos trabalhos técnicos internos da Cinemateca, assumindo-os diretamente ou por outro ente gestor.
Apesar de ter saído acordada em agosto do ano passado, após o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) deferir recurso do MPF, essa transição ainda está sendo implementada pela União. A promessa é de que seja firmado um novo contrato de gestão.
O procurador da República Gustavo Torres Soares avaliou a situação como preocupante e disse que “a Cinemateca Brasileira corre sério e iminente risco de dano irreparável por omissão e abandono do governo federal”, responsável pela manutenção e preservação dela.
“Infelizmente, também é público e notório que, nos últimos anos, em razão da omissão na gestão de bens culturais, históricos e turísticos pelo Poder Público, a sociedade brasileira sofreu a perda de inúmeros bens materiais e imateriais dessa natureza”, destacou o procurador da República.

“Política destruidora”
Professor da Fundação Armando Alvares Penteado e doutor em comunicação pela Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), Martin Cezar Feijó afirmou que “o caso da cinemateca é o mais flagrante de uma política destruidora”. “A cultura representa a diversidade inaceitável para um projeto que se pretende único: autoritarismo”, acentuou.
“A cultura é sempre subversiva. Fazer alusão à queima de livros do nazismo não é desproposital nem retórica. Ela é concreta. Estamos vivendo um desmonte da cultura, da política do audiovisual, da educação e da ciência”, acrescentou o professor.
O secretário de cultura do Governo do Distrito Federal (GDF), Bartolomeu Rodrigues, afirmou que “o desmonte da cultura não é um fenômeno isolado do governo Bolsonaro”. “No governo Bolsonaro, isso ficou mais visível, mais latente. Ele extinguiu o Ministério da Cultura, e organizações importantes estão hoje tecnicamente impossibilitadas de fazer alguma coisa pela cultura nacional”, observou, ao lembrar outros episódios de incêndio na Cinemateca Brasileira.
Antes deste ano, o fogo já atingiu o local pelo menos outras quatro vezes: em 1957, 1969, 1982 e 2016, sempre perdendo entre 1.000 e 2.000 fitas em cada. No primeiro, quase todo o acervo foi perdido. O MPF e a Polícia Federal ainda não finalizaram o levantamento exato do estrago provocado pelo incêndio neste ano na cinemateca.
A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos nos próximos meses. Depois disso, o MPF vai analisar se pedirá à Justiça a responsabilização de possíveis culpados tanto no âmbito cível quanto na esfera criminal.

Governo enfrenta críticas por causa de novo edital
Depois da inércia administrativa que levou ao incêndio na Cinemateca Brasileira, o governo federal lançou edital para contratação de organização social habilitada a gerir o local que tem o maior acervo cinematográfico do país, pelo valor de R$ 10 milhões anuais. A Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA) diz que o valor é menos do que a metade do necessário.
Presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, Débora Butruce já se manifesta há anos contra o valor reservado no orçamento do governo para manter as atividades. Segundo ela, o montante adequado para executar bem todas as atividades no local é de R$22,5 milhões.
As propostas poderão ser enviadas até o próximo dia 16, mas a publicação do resultado definitivo está prevista para 18 de novembro. A Comissão Técnica é composta por servidores da Secretaria Especial de Cultura, da Secretaria Nacional do Audiovisual, da Agência Nacional do Cinema e do Instituto Brasileiro de Museus, designados pela Secretaria Executiva do Ministério do Turismo.
Em 2020, o governo já havia sofrido críticas após lançar proposta com valor de R$ 12 milhões anuais para a Cinemateca Brasileira. "Esse edital feito a toque de caixa nos dá medo. Quem vai assumir isso aqui?", disse a pesquisadora Eloá Chouzal, uma das organizadoras de manifestações em favor da cinemateca.
Em maio daquele ano, a direção da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), que já chegou a ter repasses atrasados por parte do governo pela gestão da cinemateca, chegou à secretaria para tentar negociar um novo contrato, em meio a um quebra-cabeças que colocou o local como moeda de troca em mesa de negociações.
Naquela época, a direção da Cinemateca foi prometida pelo presidente Jair Bolsonaro a Regina Duarte após sua demissão da Secretaria Especial da Cultura. A então secretária sofreu semanas de fritura antes de ser demitida depois de ficar menos de três meses no cargo.
A saída de Regina foi costurada pela deputada federal Carla Zambelli, que chegou a dizer que a nomeação da atriz para a Cinemateca dependeria só de questões burocráticas.
Com a hipótese de rompimento do contrato de gestão atual e a falta de recursos e de um plano para a Cinemateca por parte da secretaria, o cargo prometido a Regina tem se revelado cada vez mais incerto.

* Cleomar Almeida é graduado em jornalismo, produziu conteúdo para Folha de S. Paulo, El País, Estadão e Revista Ensino Superior, como colaborador, além de ter sido repórter e colunista do O Popular (Goiânia). Recebeu menção honrosa do 34° Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos e venceu prêmios de jornalismo de instituições como TRT, OAB, Detran e UFG. Atualmente, é coordenador de publicações da FAP.
RPD 35 || Henrique Brandão: Giocondo, um comunista abnegado e gentil
Documentário sobre o histórico militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), de Vladimir Carvalho, já está à disposição do grande público no NOW, da NET
Já se encontra disponível no Now o documentário “Giocondo - O Ilustre clandestino”, do veterano cineasta Vladimir Carvalho, um dos mais representativos documentaristas brasileiros. Narra a vida de Giocondo Dias, histórico militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB).
O filme mostra a participação de Giocondo em momentos decisivos da política dos comunistas: o levante militar de 1935, no Rio Grande do Norte, do qual foi o principal líder; o breve período da legalidade pós-Segunda Guerra (1945/47), quando o PCB elegeu 14 deputados federais e um senador (Luiz Carlos Prestes); a luta contra a ditadura e a política de frente democrática contra o regime militar fascista, em divergência com as forças de esquerda que defendiam a resistência armada; a campanha pela legalidade do PCB, nos anos de 1980.
A trajetória de Giocondo se confunde com a própria história do velho Partidão. Cabo Dias, como era conhecido por sua patente militar, viveu a maior parte da existência na clandestinidade, a serviço da causa em que acreditava. Não é para qualquer um. É preciso a fibra dos fortes e a abnegação dos convictos para suportar durante tanto tempo as privações de uma vida clandestina.
Segundo o diretor Vladimir Carvalho, o documentário levou dois anos para ser realizado: “assumi a produção desse filme e fiquei dois anos ralando. É um perfil em segunda-mão, porque é visto pelos raros contemporâneos do Giocondo Dias”, disse o cineasta, em entrevista para a “Agência Brasília”, em 2019, quando o longa foi exibido no encerramento do Festival de Brasília.
De fato, o filme se vale muito do depoimento de quem conviveu com Giocondo. E isso tem uma razão de ser. Cuidadoso, sempre atuando com extrema discrição, é natural que não exista quase nada de imagens de arquivos dos tempos em que Giocondo atuava na clandestinidade.

É por meio de um mosaico de entrevistas com ex-companheiros de organização que emerge a figura de um dedicado militante comunista, rígido nas normas de segurança, mas doce e gentil no convívio pessoal.
Em um emocionado depoimento, sua filha, Ana Maria Dias, fala dos encontros esporádicos com o pai, sempre cercados de extrema cautela para não comprometer a segurança. Uma situação difícil para os dois. Não é fácil abdicar do convívio familiar.
Dois momentos se destacam no documentário: o primeiro é o perfil que Jorge Amado faz de Giocondo no livro “Navegação de Cabotagem”, onde o trata por Neném – apelido cunhado pela mãe de Giocondo – do tempo em que ambos, nascidos na Bahia, agitavam as ruas de Salvador. É uma narrativa carinhosa. Jorge Amado revela que um dos personagens de seu romance, “Tenda dos Milagres”, foi inspirado no amigo comunista: “o coloquei em uma tribuna de comício durante a guerra, falando em nome dos trabalhadores”.
O outro trecho marcante do filme é a descrição, em detalhes, da retirada clandestina, no auge da ditadura militar, de Giocondo do Brasil. Prestes já estava em Moscou desde o início dos anos de 1970. O cerco da repressão havia apertado sobre os dirigentes do PCB. Muitos, inclusive, caíram e até hoje estão desaparecidos.
Por sugestão de José Salles (membro do Comitê Central), que se encontrava na União Soviética, montou-se uma complexa operação que envolveu comunistas brasileiros e argentinos, além de dirigentes da antiga URSS. Os depoimentos relatam em minúcias o vai e vem dos procedimentos que acabaram por levar Giocondo a Moscou, em 1976. Em todo o processo, o cabo Dias manteve-se sereno e disciplinado, preocupado com a segurança dos demais envolvidos.
Vários depoimentos expõem as divergências internas, no exílio, entre os membros do Partidão. Nesse cenário, Giocondo se impõe por sua capacidade de dialogar, qualidade destacada por todos. Soube usá-la com maestria, construindo pontes entre as correntes políticas do partido. Acabou sendo um dos formuladores e porta-voz da política de frente ampla democrática que o Partidão preconizou na luta contra a ditadura. Sua habilidade de ouvir os outros terminou por levá-lo à Secretaria-geral do PCB, em substituição a Luiz Carlos Prestes.
“Giocondo – O ilustre desconhecido” é um filme importante, pois ajuda a resgatar uma personalidade política que, por seus traços pessoais avesso aos holofotes, corria o risco de permanecer na penumbra.
O PCB é a mais antiga organização comunista do país. Ano que vem, será o ano de seu centenário. Com certeza, Giocondo Dias será lembrado como uma das figuras decisivas na construção da bela trajetória de lutas dos comunistas.

* Henrique Brandão é jornalista e escritor.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de setembro (35ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
RPD 35 || Editorial: O dia seguinte
Alimentada por declarações sucessivas do Presidente da República e alguns de seus fiéis seguidores, a expectativa do que acontecerá em 7 de setembro domina o debate político. Afinal, cidadãos são convocados para protagonizar um momento de virada, capaz de conduzir os Poderes Legislativo e Judiciário a seus “devidos” lugares. Alguns dos chamados difundidos nas redes sociais apelam, inclusive, para a ruptura institucional, o escape do quadrado da Constituição, se as reivindicações dos manifestantes não forem consideradas.
A radicalização verbal das convocatórias governistas deve ser entendida como uma tentativa desesperada de reverter um cenário completamente desfavorável. A crise econômica e os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito atuam simultaneamente para destruir a aprovação do governo junto ao eleitorado. A progressão da crise e a publicidade das responsabilidades dos governantes sobre ela fortalecem a hipótese de abreviação do mandato presidencial. O Poder Judiciário já montou seu alçapão, cinco inquéritos em curso que podem concluir pela perda de mandato ou pela inelegibilidade do primeiro mandatário. No Poder Legislativo, prevalece, até agora, a opção pela espera, a aposta nas eleições como via preferencial de substituição do governo.
Na verdade, desde os tempos dos trezentos que se revelaram trinta, as manifestações governistas têm demonstrado extrema dificuldade em trazer pessoas para as ruas. O esforço de mobilização, contudo, parece agora mais robusto. Religiosos fundamentalistas, agricultores imediatistas, adoradores das armas de fogo, autoritários de todos os quadrantes dão mostras de estar empenhados em ocupar as ruas no dia sete, principalmente em São Paulo e Brasília.
Avaliar previamente o grau de sucesso que esse movimento pode alcançar é tarefa difícil. No entanto, os indicadores do êxito, na perspectiva dos organizadores são evidentes. Qualquer fatia a mais de manifestantes nas ruas será usada como argumento contrário à queda da popularidade do governo junto ao eleitorado. O número, o volume, o impacto visual das imagens que ocuparão a mídia, portanto, importam.
Importa também, a julgar pelo tom agressivo de algumas das convocatórias, o grau de desordem que a manifestação será capaz de provocar. A relação é direta: quanto maior o tumulto, maior a fragilidade de governadores e dos Poderes alvo da ira dos manifestantes. Mais combustível, portanto, para as demandas de ordem, pela via do fortalecimento dos poderes presidenciais.
A aposta é de alto risco, até porque deixa à vista de todos o custo da permanência do Presidente no cargo até o fim de seu mandato. Cabe às forças do campo democrático persistir na defesa das instituições, no trabalho de convergência, na construção de um acordo amplo em torno da retirada do Presidente pelos caminhos previstos na Constituição, da garantia das eleições de 2022, bem como do respeito a seus resultados.
O governo retarda a internet nas escolas
O Senado aprovou um projeto que mandava o governo aplicar R$ 3,5 bilhões para assegurar o acesso dos alunos de escolas públicas à internet. Bolsonaro vetou a iniciativa
Elio Gaspari / O Globo
Um governo pode ter uma perna no atraso, outra na malandragem e a terceira em otras cositas más. O de Bolsonaro tem todas.
O Senado aprovou um projeto da Câmara que mandava o governo aplicar R$ 3,5 bilhões do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para assegurar o acesso dos alunos de escolas públicas à internet. Bolsonaro vetou a iniciativa. Era o jogo jogado, pois é atribuição do presidente da República vetar decisões do Congresso. Jogando o jogo, o Congresso derrubou o veto de Bolsonaro, e a lei foi promulgada. Sempre dentro do quadrado da Constituição, o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Perdeu.
Até aí, movia-se a perna do atraso de um governo que reluta em aplicar o dinheiro do FUST para levar a internet às escolas públicas durante uma pandemia. (A rede privada de ensino, quando teve meios, adaptou-se.)
Na semana passada, moveu-se a perna da malandragem. Um dia antes do fim do prazo dado pelo Supremo para que o governo se mexesse, Bolsonaro baixou uma Medida Provisória adiando o investimento de R$ 3,5 bilhões. Chutou a bola para cima, pois a MP vigorará por 120 dias, a menos que seja aceita pelo Congresso.
Passou-se quase um ano, e as escolas públicas não receberam um tostão. Alguém poderia argumentar que o governo tenta segurar as despesas da Viúva e uma conta de R$ 3,5 bilhões é salgada. Nessa hora, olhando-se direito, vê-se a terceira perna do governo.
Em dezembro de 2019 o repórter Aguirre Talento mostrou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) havia soltado um edital que previa um gasto de R$ 3 bilhões para comprar equipamentos eletrônicos para a rede pública de ensino. Em tese, era uma iniciativa que melhoraria a conexão dos colégios com a internet. Na prática, a Controladoria-Geral da União viu que havia otras cositas más. Uma só escola de Minas Gerais receberia 30.030 laptops para seus 255 alunos (117,76 para cada um). A gracinha do esbanjamento repetia-se em 355 outros colégios. Além disso, o edital parecia viciado para beneficiar fornecedores afortunados.
Passou-se mais de um ano da exposição do jabuti, três novos ministros ocuparam o MEC, o FNDE trocou várias vezes de presidente, e até hoje não se sabe quem botou o jabuti no edital.
Azararam Costa e Silva
Um sábio que pesquisa a história do acidente vascular cerebral do presidente Costa em Silva suspeitava há tempo que ele morreu em dezembro de 1969, entre outros fatores, pela depressão em que caiu porque era tratado como uma criança. As pessoas falavam com ele como se a sua percepção tivesse sido lesada, quando tinha perdido movimentos e a capacidade de se expressar, mas sabia o que estava acontecendo.
A sabedoria convencional dizia que o AVC, uma vez iniciado, teria uma progressão inevitável. Assim, durante quatro dias, ele perdeu progressivamente a fala e os movimentos do lado direito do corpo. Ele teve uma isquemia, que é uma obstrução da circulação sanguínea no cérebro. (O derrame é o contrário, com o rompimento de um vaso.)
Hoje, uma vez diagnosticadas a tempo, as isquemias cerebrais podem ser tratadas com anticoagulantes.
Um artigo científico informa que em 1958, onze anos antes do AVC de Costa e Silva, o neurologista canadense Miller Fisher, em Boston, tratava isquemias com anticoagulantes. No Brasil, o fatalismo da progressão inevitável foi aceito ainda por muitos anos.
O presidente perdeu momentaneamente a fala no dia 27 de agosto. Recuperou-a, e voltou a perdê-la de vez na madrugada do dia 29, quando ainda conseguiu se expressar por meio de um bilhete.
O pelotão palaciano comandava o major médico que cuidava do paciente e levou-o para o Rio. Lá, ele foi examinado pelo neurologista Abraham Ackerman. Era tarde.
No dia seguinte, o marechal perdeu a capacidade de se expressar.
Se Costa e Silva estivesse em Boston no dia 27, seu destino teria sido outro.
Como ele estava em Pindorama, o pelotão palaciano blindou-o, escondeu a gravidade do caso, depôs o vice-presidente Pedro Aleixo e entregou o poder a uma junta militar composta pelos três ministros militares. Ela governou o país por um mês. Em 1988, o deputado Ulysses Guimarães chamou-os publicamente de “Os Três Patetas”. Quinze anos antes, o general Ernesto Geisel usava a mesma expressão, privadamente.
Alexandre e Barroso
Bolsonaro dá a impressão de que está metido numa briga com o ministro Luís Roberto Barroso, mas sabe que sua encrenca é com o ministro Alexandre de Moraes.
Barroso chegou ao Supremo vindo da sua banca de advocacia. A carreira de Moraes foi outra: ele veio do Ministério Público e foi secretário de Segurança de São Paulo.
Um aprendeu a defender seus clientes. O outro aprendeu a baixar o chanfalho em quem viola a lei.
Paulo Bolsonaro
O professor Delfim Netto está bonzinho. Com 14,8 milhões de desempregados no portfólio, o ministro Paulo Guedes resolveu atacar o IBGE, dizendo que suas estatísticas ainda estão “na idade da pedra lascada”. Delfim defendeu a instituição e disse que torcia para que a fala de Guedes “tenha sido um infeliz lapso verbal”.
Não foi. Tratou-se de um caso de contágio bolsonarista, semelhante aos lances do “vagabundos” do STF de Abraham Weintraub, do “pária” de Ernesto Araújo e da “boiada” de Ricardo Salles.
Paulo Guedes é ministro da Economia há mais de dois anos e não notou que convivia com um IBGE de Flintstones. Pior: levou para a presidência do instituto a economista Susana Cordeiro Guerra, doutora pelo MIT, e deixou-a ir embora.
O golpe, em 1961
O Brasil era governado por um tatarana que armava um golpe. As fake news da época eram tenebrosas.
No dia 9 de agosto de 1961, Jânio Quadros pediu ao Conselho de Segurança Nacional que examinasse um material, “tendo em vista a reunião ministerial referente às Guianas”. Era urgente, pois Jânio via ali um “intenso trabalho autonomista ou de emancipação nacional, com a presença de fortes correntes de esquerda, algumas, reconhecidamente, comunistas”.
Na chefia do gabinete da Secretaria Geral do Conselho, o coronel Golbery do Couto e Silva colecionou os seguintes informes, “cujos graus de confiança ainda não foi possível avaliar”:
“Informe nº 5: Pelo barco de pesca Z-189 desembarcaram em Amaralina, BA, cerca de 22 pessoas, trazidas por um submarino desconhecido, ali observado nestes últimos dias, o desembarque ocorreu em fins de julho.”
“Informe nº 6: Durante o corrente ano chegaram ao Brasil cerca de dois mil comunistas, da China Vermelha, técnicos em guerrilhas”.
Aziz disse tudo
O senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, disse tudo, ao duvidar do que dizia o tenente-coronel da reserva Marcelo Blanco, ex-integrante do pelotão levado pelo general Eduardo Pazuello para o Ministério da Saúde:
“Aqui não tem otário”.
Fonte: O Globo
https://oglobo.globo.com/politica/o-governo-retarda-internet-nas-escolas-25145799
Cora Rónai: Somos todos idiotas
Sendo uma das idiotas que não saem de casa, na gentil descrição do senhor Presidente da República, tenho tido muito tempo para pensar na vida; o que me leva, invariavelmente, a concluir que, num mundo de idiotas, o melhor a fazer é não pensar.
Todos nós, idiotas, estamos cansados. Do isolamento e das restrições da pandemia, da solidão e da monotonia, mas, sobretudo, das notícias que nos chegam a respeito dos outros idiotas, aqueles que se rebelam contra as máscaras, não respeitam distanciamento social e acham que vírus se combate no grito.
Eles não aprenderam que, além dos cientistas que desenvolvem vacinas, ninguém pode fazer nada de concreto contra uma pandemia.
Nós idiotas que ficamos em casa fazemos o possível para evitar que o vírus circule. É pouco, de fato, mas é o que podemos fazer. Ficar em casa quando se pode ficar em casa não é desdouro nem falta de coragem, é consciência social: quanto menos gente houver nas ruas menos o vírus estará em circulação e menos pessoas serão contaminadas.
Não parece difícil de explicar, mas, pelo visto, é impossível de entender. Há alguma mutação genética ou ausência de atividade cerebral que impede que os idiotas, aqueles, compreendam essa verdade basilar. Um dia eles ainda vão ser estudados pela Ciência.
A nossa idiotice de isolados é um sentimento tingido pela melancolia, intenso mas inofensivo. Passamos os dias trabalhando, lendo, cozinhando, lavando louça, participando de lives, cuidando de plantas e de bichos, refletindo e torcendo para que haja vacina logo para todo mundo.
Enquanto isso o idiota lá desdenha das máscaras, aglomera, voa de helicóptero, faz churrasco, anda de moto, cavalga pela Esplanada dos Ministérios e oferece ao mundo o espetáculo da sua estupidez relinchante e orgulhosa de si mesma.
Genocida.
______________
Desde os tempos em que trabalhei em Brasília, numa outra encarnação, eu já sabia que educação, caráter e hombridade não são requisitos básicos para assumir cargos importantes na administração pública. Mas eu ainda guardava uma ilusão solitária, e imaginava que era preciso ter um mínimo de inteligência e de sofisticação intelectual para ser Ministro das Relações Exteriores.
_______________
A Mauritânia fica na costa africana, ao Norte, logo abaixo do Marrocos e colada à Argélia, em pleno Saara: sua capital Nouakchott, com cerca de um milhão de habitantes, é a maior cidade do deserto.
Eu não sabia disso, e não foi por falta de interesse na região, porque antes da chegada do Exército Islâmico ao Mali cheguei a fazer planos de viajar para o país, ali ao lado. Eu também não sabia que a Mauritânia só aboliu a escravidão oficialmente em 1981 e que conserva o antigo hábito berbere de engordar as mulheres: meninas com 8 ou 9 anos são obrigadas a beber leite de camelo aos litros e, aos 12, já são obesas de 30 anos.
Como idiota que sou, tenho fugido da vida real mergulhando em documentários, e foi no canal Tracks, no YouTube, que encontrei uma série holandesa sobre os países do Saara. Ela é apresentada por Bram Vermeulen, e está em inglês; há opção de legendas automáticas. O Tracks é um aglutinador de conteúdo que reúne documentários sobre o mundo todo realizados por emissoras de diversos países, e tem uma coleção extraordinária de vídeos.
Fonte:
O Globo
https://oglobo.globo.com/cultura/somos-todos-idiotas-25025013

















