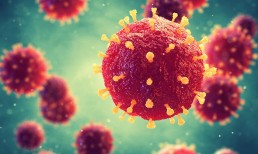Hélio Schwartsman
Hélio Schwartsman: estelionatos eleitorais
Mentiras eleitorais de Dilma estavam expostas poucas semanas após o pleito, e as de Bolsonaro foram aparecendo aos poucos
Com o arremedo de reforma administrativa apresentado pelo governo, o estelionato eleitoral perpetrado pelo presidente Jair Bolsonaro é maior até do que o cometido por Dilma Rousseff.
Enquanto as antinomias dilmescas ficaram mais ou menos restritas à economia, as do capitão reformado dizem respeito a praticamente todos os eixos de sua campanha. Ele, afinal, renegou as três bandeiras que o elegeram: o rompimento com a velha política, a luta contra a corrupção e a reforma liberal do Estado.
A diferença é que as mentiras eleitorais da petista ficaram escancaradas poucas semanas depois do pleito, já as do militar foram aparecendo aos poucos, diluídas em um ano e meio de administração. E, quando as coisas acontecem paulatinamente, as pessoas se acostumam com tudo, até com a sideral cifra de mil mortos por dia registrada no auge da epidemia de Covid-19, outro fracasso da atual gestão.
Também relevante para a popularidade é que, enquanto Dilma presidiu a uma transição da bonança para a recessão, Bolsonaro assumiu o comando já numa situação de penúria e não foi capaz de promover um crescimento perceptível. O primeiro quadro, mas não o segundo, leva a um sentimento de perda que não raro resulta em revolta contra o governante.
É aqui que nos deparamos com o que pode ser uma armadilha para Bolsonaro. O Brasil foi eficaz —alguns diriam pródigo— em promover um programa emergencial de renda para as famílias, que evitou a explosão social nas quarentenas. Mas não foi tão bem na ajuda às empresas, muitas das quais, especialmente as pequenas, não sobreviverão. E, se não houver postos de trabalho para assegurar renda à população depois que o auxílio emergencial acabar, poderemos ter problemas sérios, com grande potencial de impacto sobre a popularidade presidencial.
A inflação de alimentos, outro fator conhecido de revolta, que já dá as caras, tampouco ajuda Bolsonaro.
Hélio Schwartsman: A vacina deve ser obrigatória?
Hoje vou dar razão parcial a Bolsonaro, apesar de a frase dele ser materialmente falsa e epidemiologicamente inoportuna
Hoje vou dar razão parcial ao presidente Jair Bolsonaro. Vários comentaristas bateram forte nele por ter afirmado que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”, referindo-se a um futuro imunizante contra a Covid-19. A frase tem dois problemas. Ela é materialmente falsa e epidemiologicamente inoportuna.
É inoportuna porque um presidente da República jamais deveria fazer declarações sobre saúde pública que não fossem no sentido de promover o comportamento mais recomendável, que, no caso, é o de vacinar-se. E é falsa porque a legislação, incluindo uma peça que o próprio Bolsonaro assinou alguns meses atrás, autoriza o Estado a determinar vacinações compulsórias. Aliás, o propósito mesmo de leis de emergência sanitária é limitar e até retirar direitos para combater epidemias.
Penso, porém, que o presidente tem razão ao não abraçar imediatamente a obrigatoriedade da imunização. O ponto é que vacinar um adulto supostamente competente contra sua vontade é uma violência, que só deve ser empregada em último caso, isto é, se for estritamente necessário para pôr um fim à epidemia.
E só saberemos se será necessário —e em qual dose— quando conhecermos mais sobre a vacina, particularmente sua eficácia em evitar infecções e as situações para as quais está contraindicada. Se ela for boa (apresentar alta eficiência e poucas reações adversas mesmo em populações sensíveis), nós não precisaremos vacinar mais do que 70% ou 80% para obter a imunidade de rebanho, hipótese em que não valeria a pena forçar ninguém a aceitar uma intervenção médica que não deseja. Vale lembrar que, pelo Datafolha, apenas 9% recusariam a vacina.
No mais, antes de mandar a polícia buscar antivaxxers em suas casas, existem medidas menos drásticas que podem revelar-se efetivas, como exigir um certificado de vacinação para frequentar certos lugares ou desempenhar determinadas atividades.
Hélio Schwartsman: Na pandemia, Jair age como um tecelão de oxímoros
Não surpreende que Bolsonaro aja como Bolsonaro
No dia em que o Brasil contabilizava 115 mil mortes por Covid-19 —o que representa uma taxa de óbitos por 100 mil habitantes 47 vezes maior que a do vizinho Uruguai—, Jair Bolsonaro promoveu um evento em que arrebanhou ministros e alguns médicos para juntos enaltecerem a cloroquina. O nome escolhido para a cerimônia foi "Brasil vencendo a Covid-19".
É genial. Com essa, Bolsonaro conquistou um lugar no panteão dos oximoristas, as pessoas que criam nomes ou expressões que aglutinam conceitos contraditórios ou absurdos. Meu exemplo favorito é o Sacro Império Romano Germânico (a designação dada ao mosaico de Estados alemães que conviveram entre 963 e 1806), que, como observou Voltaire, não era sacro, nem era um império e também não era romano. Ao menos era germânico. Uma lista mais tradicional de oxímoros inclui: silêncio eloquente, instante eterno, crescimento negativo e inteligência militar.
Contradições à parte, não surpreende que Bolsonaro aja como Bolsonaro. O que me preocupa mais é que existam médicos que aceitam participar de uma pantomima eleitoreira que nega o método científico pelo qual a medicina deveria se pautar.
De fevereiro até abril, fazia sentido depositar esperanças na cloroquina. Havia uma hipótese teórica a justificar sua ação contra a Covid-19 e alguns trabalhos indicando efetividade. Mas a ciência fez o que tinha de fazer e procedeu a testes mais rigorosos. Nunca uma droga foi alvo de tanta pesquisa.
E a conclusão a que se chegou é a de que nem a cloroquina nem a hidroxicloroquina são fármacos muito úteis contra a doença (ainda não dá para descartar que produzam efeitos muito modestos) e ainda trazem o risco de danos colaterais, que se tornam uma certeza se distribuídos a grandes populações.
O médico que não aceita os resultados de ensaios clínicos controlados não entendeu como a medicina se relaciona com o método científico.
Hélio Schwartsman: Guedes subiu no telhado?
O ministro tolera certo nível de pressão do chefe, mas deve haver linha vermelha além da qual ele não vai
Nada indica que Paulo Guedes deixará o governo nos próximos dias. Ele parece ter assimilado bem a patada pública que o presidente Jair Bolsonaro lhe desferiu. Mas a contradição fundamental não irá embora. O objetivo do equilíbrio fiscal, do qual Guedes é um emblema, não é facilmente conciliável com a ideia de engordar programas sociais permanentes para ajudar o presidente numa eventual reeleição.
Meu palpite é que Guedes e o teto de gastos é que irão embora. O ministro tolera certo nível de pressão do chefe, mas deve haver uma linha vermelha além da qual ele não vai. Não estou seguro de que o capitão reformado se conformará à zona de conforto do ministro.
Bolsonaro, embora já tenha dito que o Bolsa Família era um jeito de comprar o voto do “idiota” e assegurado que não recorreria a esse tipo de expediente, sentiu o gostinho de surfar na popularidade que programas assistenciais propiciam ao governante sob o qual se materializam e quer criar um para chamar de seu, o Renda Brasil.
Não acho que seja tão simples. O que conferiu bons índices de aprovação ao presidente foi a ajuda emergencial, que vai de R$ 600 a R$ 1.200. E o próprio Bolsonaro já reconheceu que isso não pode ser mantido. Muito em breve esse auxílio será interrompido. Mesmo que a equipe econômica encontre uma fórmula para assegurar um Renda Brasil de R$ 300, estamos falando de um programa de valor substancialmente menor e que atingirá muito menos beneficiários do que os que hoje recebem a ajuda de emergência. Como as pessoas irão reagir?
De um modo geral, o cérebro responde com mais intensidade a perdas do que a ganhos. Embora estejamos navegando em terra incógnita eu não me surpreenderei com uma onda de mau humor em relação ao governo, em especial porque é difícil vislumbrar um cenário em que a economia pós-pandêmica cresça com tanto vigor que compense o fim da ajuda de emergência.
Hélio Schwartsman: As regras do jogo
No país da gambiarra, nem o Legislativo tem apreço pela previsibilidade das regras
O forte da democracia não é assegurar a escolha de líderes competentes, do que dão testemunho Jair Bolsonaro e Donald Trump, para ficarmos em dois casos gritantes e recentes. É sempre possível comprar os eleitores com programas populistas ou iludi-los com promessas falsas. E isso não é uma falha circunstancial, mas uma característica do sistema. Não dá para livrar-se dela sem se livrar da própria democracia.
Ainda assim, ela é o melhor regime político de que se tem notícia. A aparente contradição se dissolve quando analisamos o pacote de instituições que costumam acompanhar as democracias. Falo de coisas como livre iniciativa, liberdade de expressão, Judiciário independente e previsibilidade das regras do jogo.
É sobre este último item que gostaria de me deter. Um dos mecanismos pelos quais sociedades democráticas tendem a ser mais prósperas que regimes arbitrários é que elas dão aos cidadãos segurança para investir esforços e economias em atividades produtivas. Se eu sei que o soberano não vai amanhã mudar as regras do jogo e se apropriar do que é meu, construo uma fábrica; se acho que ele vai criar problemas, converto tudo em diamantes com os quais posso fugir.
É claro que regras não precisam ser eternas. Elas existem para nos servir, e não nós a elas. Mas previsibilidade não é imutabilidade. Regras podem e devem ser atualizadas para acompanhar a realidade, mas sempre seguindo princípios de impessoalidade, publicidade e anterioridade, que assegurem que ninguém seja pego de calças curtas.
Não acho particularmente boa a regra que impede os presidentes da Câmara e do Senado de buscar reeleição na mesma legislatura, mas é óbvio que eventuais mudanças só poderiam valer para ocupantes futuros desses cargos, não para os atuais. Se nem o Legislativo tem apreço pela previsibilidade das regras, seria melhor decretar de vez que o Brasil é o país da gambiarra.
Hélio Schwartsman: Supervisão teológica
Pior do que igreja fazer campanha para político é o Estado decidir o que cada igreja pode defender
O abuso do poder religioso deve ser coibido em eleições? O TSE julga uma ação no curso da qual poderá ampliar o conceito de abuso de autoridade para abarcar igrejas. Se a tese proposta pelo ministro Edson Fachin sair vitoriosa, políticos eleitos com uma mãozinha de clérigos poderão ter seus mandatos cassados.
Não sou o melhor amigo das religiões, mas a inovação sugerida por Fachin me parece inoportuna e perigosa. Ela limitaria em demasia não só a liberdade de expressão mas também a de crença religiosa.
Já fui proprietário de uma igreja, a Igreja Heliocêntrica do Sagrado EvangÉlio (IHSE). Era um bom negócio. Criá-la não custou mais do que algumas centenas de reais e sua existência permitia-me fazer aplicações financeiras livres de impostos, entre outras vantagens. Como o propósito de minha aventura sacerdotal não era enriquecer nem usar drogas legalmente (outra das vantagens), mas demonstrar, numa reportagem, quão fácil é usar a religião para livrar-se de impostos, acabei fechando a IHSE.
A legislação brasileira proíbe o poder público de negar registro a qualquer instituição religiosa cujos estatutos não afrontem nenhuma lei e sigam uma estrutura semelhante à das associações civis.
Não era o caso da IHSE, mas eu poderia ter estabelecido como princípio único do credo heliocêntrico o “não votarás para presidente em ninguém cujo sobrenome não comece com a letra b e termine com o”.
Seria um mandamento esdrúxulo, mas totalmente dentro da lei. Nesse caso, a aplicação da regra proposta por Fachin impediria a igreja de cumprir seu único desígnio, situação a meu ver incompatível com a da liberdade de crença assegurada pela Constituição (a Carta não afirma que a crença precisa fazer sentido).
Ainda pior do que igrejas fazendo campanha para políticos é o Estado se arrogando o direito de exercer supervisão teológica e decidir o que cada igreja pode ou não defender.
Hélio Schwartsman: Máscaras ferem a liberdade?
Apesar da defesa da soberania do indivíduo, o princípio do dano remete ao uso da proteção
A direita global busca fundamentar sua oposição ao uso de máscaras e de medidas de distanciamento social numa suposta defesa da liberdade. Para essa turma, as restrições impostas por governos para controlar a pandemia violam o direito do indivíduo de dispor sobre si mesmo. Faz sentido?
Um autor insuspeito de pendores autoritários é John Stuart Mill, que escreveu “On Liberty” (1859), até hoje uma das mais eloquentes defesas da liberdade. Mill não deixava barato: “Na parte que concerne apenas a ele mesmo [o indivíduo], à sua independência, o direito é absoluto. Sobre si mesmo, o seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano”.
Mas Mill não era tolo. Não teve dificuldades para ver que a liberdade, posta em grau superlativo, entraria em choque não só com outros direitos relevantes mas também com as liberdades de outros indivíduos. Impôs, portanto, um limite a essa liberdade: o princípio do dano.
Para o filósofo, “a única situação em que o poder pode justificadamente ser exercido contra a vontade de qualquer membro de uma comunidade civilizada é para prevenir dano a outros”. “Dano” (“harm”) é uma palavra meio vaga, mas, ao utilizá-la, Mill tinha em mente perigos físicos concretos e iminentes e não meras percepções de ofensa.
Resta determinar se as restrições sanitárias satisfazem ao princípio do dano. Em minha modesta opinião, satisfazem. Acho até que constituiriam um exemplo que o próprio Mill usaria.
Uma das características do Sars-CoV-2, afinal, é a de ser um vírus facilmente transmissível mesmo em fase pré-sintomática ou assintomática. Isso significa que qualquer um pode ser portador invisível da moléstia e contaminar outros através de perdigotos e aerossóis. Para uma fração dos infectados, a doença revela-se fatal. Máscaras e distanciamento, embora não eliminem o risco de contágio, o reduzem. No meu entender, é algo que devemos a nossos semelhantes.
Hélio Schwartsman: A vacina
Esperar o fármaco parece ser o melhor roteiro, mas será que sua chegada representará o fim de nossos problemas?
Nossa esperança de controle da pandemia de Covid-19 agora recai sobre a vacina. O novo mantra é que devemos aguentar por mais alguns meses sob a versão degenerada de normalidade que conseguimos criar até que o imunizante esteja disponível e todos possamos regressar à normalidade normal.
Esse parece ser mesmo o melhor roteiro. Mas será que a chegada da vacina representará o fim de nossos problemas? Infelizmente, não é tão simples. E nem estou falando da dificuldade logística de produzir bilhões de doses de um imunizante, distribuí-las e aplicá-las em populações que talvez resistam à ideia.
Muito do efeito que a vacinação terá sobre a pandemia depende das características do produto. O fator mais sensível é a eficácia. Não será nenhuma surpresa se uma vacina desenvolvida às pressas não se revelar muito boa. Suponhamos que ela tenha uma eficácia de 40%.
Já seria uma inestimável ajuda na contenção da epidemia, mas não é o bastante para que cada indivíduo vacinado se sinta seguro para retomar plenamente as atividades. A crise poderia não acabar tão cedo para setores como os de restaurantes, entretenimento e turismo.
Às vezes, o fármaco é melhor para prevenir formas agravadas da doença do que o contágio propriamente dito. Seria ótimo para reduzir a mortandade da Covid-19, mas não nos livraria de lidar com surtos da doença. A proteção de uma vacina também pode variar conforme o grupo a que é aplicada. Há imunizantes que não funcionam tão bem para idosos, outros que falham mais com obesos etc.
O lado bom da história é que nunca antes cientistas, empresas e governos se esforçaram tanto para desenvolver uma vacina. Há seis delas na fase 3 de testes e várias outras a caminho. Não é inverossímil que, no próximo ano, tenhamos uma dezena de produtos utilizáveis, o que ampliaria bastante a chance de oferecer alguma proteção a indivíduos com todos os perfis de risco.
Hélio Schwartsman: Bolsonaro tem futuro?
Depender do centrão é arriscado, e manter novos simpatizantes requer manter programas de renda
O número de mortos pela Covid-19 não para de aumentar no Brasil, mas isso não parece ter afetado muito a popularidade do negacionista Jair Bolsonaro. A descoberta de novos cheques de Fabrício Queiroz para a mulher do presidente, que, em condições normais, derrubaria um governante —Collor caiu por muito menos—, não bastou nem sequer para convencer Rodrigo Maia a pôr em tramitação algum dos muitos pedidos de impeachment que dormitam em seu escaninho. Nem a reportagem da revista Piauí que conta como Bolsonaro quase atentou contra o STF reverberou como deveria.
O que está acontecendo? Ficamos tão acostumados com os desatinos presidenciais que perdemos a capacidade de nos indignar com eles? É claro que a habituação, o processo psicológico que faz com que seres humanos se acostumem com quase qualquer coisa, até a viver num campo de concentração, está dando a sua contribuição para a normalização de Bolsonaro, mas acho importante frisar que nem o presidente nem seus apoiadores são os mesmos de alguns meses atrás. Houve mudanças tectônicas na paisagem política.
O fato mais notável é que Bolsonaro abandonou o discurso antiestablishment para tornar-se refém do centrão. Sua base também sofreu abalos. Ele conserva a devoção de uns 15% dos eleitores, cujos cérebros são invulneráveis à realidade, mas perdeu apoio entre os mais ricos e escolarizados, que foi compensado pela incorporação de beneficiários dos programas emergenciais. O detalhe irônico é que o governo inicialmente se opôs a esses programas, que teve de engolir por imposição dos parlamentares.
O novo arranjo dá sobrevida a Bolsonaro, mas talvez não um futuro. Depender do centrão, como bem sabe Dilma Rousseff, é arriscado. Já a manutenção do novo contingente de simpatizantes requer a continuação de generosos programas de renda até 2022. Não é óbvio de onde Bolsonaro possa tirar dinheiro para isso.
Hélio Schwartsman: A Lava Jato morreu?
A correção dos excessos da força-tarefa não pode se transformar num movimento pró-impunidade
Nós gostamos de xingar corruptos e amaldiçoar a corrupção, mas ela é a segunda melhor forma de organização da sociedade. É obviamente menos eficiente do que um sistema no qual tudo funcione direitinho, segundo regras impessoais previamente estabelecidas, mas é superior a um regime no qual empreendimentos e a prestação de serviços possam ser bloqueados apenas pelo capricho de autoridades ou, ainda pior, um no qual as “concorrências” e outras disputas se resolvam à bala. É por ser razoavelmente eficaz —e lucrativa para gente influente— que é tão difícil acabar com ela.
A Lava Jato foi uma tentativa de fazer com que o Brasil passasse do estágio da corrupção disseminada, que marca os países menos desenvolvidos, para um em que ela fosse mais contida. É um objetivo importante, que foi em alguma medida cumprido. Bilhões de reais desviados foram restituídos aos cofres públicos e dezenas de políticos e empresários, que já nos acostumáramos a ver como intocáveis, foram julgados e condenados.
Não há, porém, como defender os erros cometidos pela força-tarefa de Curitiba e pelo ex-juiz Sergio Moro, que, em várias ocasiões, desvirtuaram a interpretação da lei para alcançar seus propósitos condenatórios. Penso que há elementos para anular algumas das sentenças do braço curitibano da operação.
É preciso, porém, muito cuidado para que a necessária correção dos excessos da Lava Jato não se transforme num movimento pró-impunidade. A situação de delicado equilíbrio em que vivíamos no último ano, em que um STF dividido arbitrava as questões ora para um lado, ora para outro, pode ter sido rompida agora que a Procuradoria-Geral da República passou a combater mais abertamente a Lava Jato.
O Brasil já desperdiçou tantas oportunidades que é muito possível que não consigamos mais escapar à chamada armadilha da renda média. Espero que o mesmo não ocorra em relação à corrupção.
Hélio Schwartsman: Estupro jurisdicional
É fácil ver que o caminho escolhido por Alexandre de Moraes, no caso das fake news, não passa no teste kantiano da universalização da regra
É preocupante a pretensão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de fazer com que suas decisões no chamado inquérito das fake news valham não apenas para a operação brasileira de empresas como Facebook e Twitter mas também para a internacional. Aqui, o ministro extrapola sua jurisdição e o faz com um viés autoritário.
É fácil ver que o caminho escolhido por Moraes não passa no teste kantiano da universalização da regra.
Em vários países da África e do Oriente Médio, a homossexualidade é crime. Se juízes dessas nações podem estender sua jurisdição para aplicativos sediados no exterior, então teríamos de aceitar como legítima a ordem de um magistrado da Arábia Saudita para derrubar sites americanos de pornografia e de encontros. A moral prevalecente na internet seria a da mais retrógrada das nações.
Obviamente, esse raciocínio não vale apenas para questões relativas a sexo, aplicando-se também a opiniões políticas, estudos científicos, peças artísticas etc. Se é o Taleban que está no poder no Afeganistão, então até o site do Louvre poderia ser censurado, já que traz imagens de estátuas que, na interpretação das autoridades judiciais daquele país, seriam ilegais.
Não há dúvida de que certas fake news e radicalismos, incluindo falas de bolsonaristas, são socialmente nocivos. Por vezes, constituem crimes, que podem e devem ser combatidos. Se a ofensa for séria o suficiente, será um ilícito em qualquer nação, abrindo caminho para a cooperação judicial entre países.
Caso contrário, acabarão prevalecendo as normas das nações mais liberais, pois é nelas que as empresas globais de internet tendem a estabelecer-se. E esse é um dos milagres da rede. Ela cria uma espécie de concorrência entre legislações nacionais capaz de gerar um círculo virtuoso de promoção da liberdade e do cosmopolitismo. A pretensão de Moraes de enquadrar o Facebook é a negação disso.
Hélio Schwartsman: A catástrofe
Obras como a de Richard Horton é com o que de melhor podemos contar na pandemia
Richard Horton é o editor-chefe do periódico médico britânico “The Lancet”, no qual foram publicados alguns dos mais importantes estudos sobre a Covid-19. Se há alguém que acompanhou de perto e em detalhe o surgimento e a evolução da pandemia, é ele. É dessa posição privilegiada que ele escreveu “The Covid-19 Catastrophe”, um dos primeiros “instant books” sobre a epidemia.
A principal vantagem desse tipo de obra é que ajuda a organizar o caos. Se o jornalismo é o primeiro rascunho da história, os “instant books” são sua versão ampliada e passada a limpo. Oferecem um relato mais ordenado e holístico de eventos ainda em andamento.
Para Horton, o mundo falhou, daí o termo “catástrofe” que consta do título do livro. Os riscos de uma pandemia viral são conhecidos pelo menos desde os anos 80, com a eclosão da Aids. Ainda assim, fizemos pouco para aprimorar a vigilância epidemiológica, que, para funcionar, precisa ser uma iniciativa global e não de nações isoladas.
E, se o mundo inteiro errou, o fracasso é ainda mais vexaminoso para alguns países ricos, normalmente funcionais e cientificamente avançados, como os EUA e o Reino Unido. Eles tiveram o privilégio de observar antes o que aconteceu na China e em algumas regiões da Europa e, ainda assim, preferiram não acreditar no que estava por vir e não se prepararam adequadamente para enfrentar a doença.
Horton tenta encontrar as razões para tantas falhas e apontar caminhos para melhorarmos. Nada de revolucionário, apenas mudanças de bom senso.
O ponto fraco de livros instantâneos reside justamente no fato de que os acontecimentos ainda estão em curso. Horton entregou os originais no fim de maio e há coisas no livro que já ficaram velhas. Seja como for, até que a Covid-19 se torne oficialmente um evento pretérito e objeto de estudo de historiadores, obras como a de Horton é com o que de melhor podemos contar.