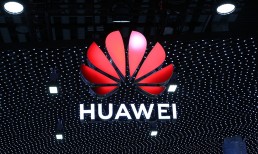governo bolsoanro
Mariliz Pereira Jorge: Rodrigo Maia conivente
Ele continua meditando sobre uma pilha de mais de 60 pedidos de impedimento
Rodrigo Maia acordou do coma. Só isso explica suas últimas declarações. O presidente da Câmara descobriu que Bolsonaro é "covarde", que tem "culpa" pelas 200 mil mortes causadas pela Covid-19 e que a demora da vacina pode levar o presidente a sofrer um "processo de impeachment muito duro".
Já sabemos disso, mas e aí? Elevar o tom enquanto limpa as gavetas para o seu sucessor tem o mesmo efeito das notas de repúdio escritas por ele às dezenas nos dois últimos anos, diante das atrocidades ditas e cometidas por Bolsonaro.
Maia continua meditando sobre uma pilha de mais de 60 pedidos de impedimento de Bolsonaro. Questionado sobre a celeridade com que um processo poderia ser julgado nos EUA contra Trump, disse que o cenário é mais "fácil" porque o americano passou dos "limites". Pelas minhas contas, Bolsonaro ultrapassou essa barreira no primeiro ano de mandato.
Jair é culpado pelo rastro de destruição que a Covid-19 tem deixado no país e também pelas mortes que seriam evitadas se a vacinação já estivesse em andamento. Não é novidade para ninguém. Nem aqui nem na China. No começo da pandemia, a revista The Atlantic o elegeu líder mundial do "movimento negacionista do coronavírus". Nesta quarta (13), ele foi acusado de tentar sabotar medidas de combate à crise pela Human Rights Watch.
Bolsonaro é culpado, mas não é o único. Fosse o ditador que ele pretende ser, carregaria essa cruz sozinho nos livros de história, mas essa conta é também do Congresso, de Rodrigo Maia, da oposição, que só é boa mesmo em produzir hashtags.
A única instituição que funciona no Brasil é o funk. Na falta de uma campanha de vacinação, que já deveria estar na rua, viralizou nas redes o hit Bum Bum Tam Tam, em alusão ao instituto paulista. A trilha sonora já temos. Se as instituições funcionarem, teremos vacina e o presidente impichado. É querer demais?
Baleia Rossi: Câmara livre
Parlamento tem de ser independente para estar à altura de suas missões
A Câmara dos Deputados precisa ser independente. Essa sentença já foi repetida a ponto de ter ganhado a condição de aforismo. Está no discurso de todos — inclusive daqueles a quem não interessa que a Casa seja independente. Como tudo que é dado como certo, o conceito parece ter se perdido. É necessário que fique claro por que onze partidos representando 54% dos deputados se uniram em torno dessa ideia e de uma candidatura única para a presidência da Câmara.
O Parlamento tem de ser independente para estar à altura de suas missões. A mais óbvia, a de legislar, deve ser cumprida com autonomia, mas também em harmonia com o Executivo e o Judiciário. As demais tarefas exigem um distanciamento maior dos outros poderes.
É atribuição do Parlamento fiscalizar o Executivo. A Câmara tem, inclusive, uma comissão permanente para monitorar os gastos federais. A função de vigilância desaparece se a direção da Câmara for subserviente ao governo.
A Câmara é o espaço de representação da sociedade. Quanto mais setores da população abriga, mais legitimidade tem. Por isso, não é espaço para vencedores e derrotados. Ao contrário, é onde forças antagônicas são impelidas a dialogar e buscar consenso.
O Brasil enfrenta um momento crucial de sua história. A maior crise econômica já registrada foi sucedida pela devastação da pandemia de Covid-19. Ainda é impossível aquilatar a devastação de vidas e famílias, empregos e renda, empresas e contas públicas, aspirações e esperanças.
Com responsabilidade, condução forte e segura, a atual direção da Câmara liderou a criação do auxílio emergencial de R$ 600, da PEC de Guerra e o auxílio aos estados e municípios. Essas conquistas aplacaram parte da destruição causada pela pandemia. Mas as crises sanitária e econômica continuam.
É necessário criar novos consensos para superar a situação dramática que vivemos. Os brasileiros devem ter acesso às soluções da ciência para retomar o crescimento econômico e a redução das desigualdades. Legislativo, Executivo e Judiciário precisam buscar a harmonia, não subjugar o outro.
A Câmara deve defender a Constituição e as liberdades individuais. Combater o extremismo, a discriminação e violência de todas as espécies. Buscar alternativas à perda de renda dos mais pobres enquanto durar a pandemia, sem descuidar das contas públicas.
Os deputados têm mostrado ano após ano estar à altura do seu papel. Não se esquivaram de decisões difíceis. É injusto tentar nivelar o Parlamento por baixo, lhe imputar traições e negociações subalternas. Beira a injúria e desvaloriza os parlamentares e seus mandatos.
O centro democrático e a esquerda democrática constituíram uma frente ampla em defesa da Câmara. Um grupo tão grande, claro, é heterogêneo. Essa é uma de suas virtudes, e não uma fraqueza. Afinal, uma das belezas da democracia é respeitar quem pensa diferente.
A frente ampla é o oposto de sectarismos e de exclusão. É união, concessão e apoio mútuo. As conversas com outros partidos prosseguem. Esperamos receber novos parceiros em breve. A Câmara é de todos e cumprirá sua missão se todos os eleitos exercerem seus mandatos com liberdade, independência e autonomia.
*Baleia Rossi é deputado federal (MDB-SP)
Ascânio Seleme: Contaminando Eduardo Paes
Correr para o colo de Bolsonaro foi um tremendo erro de cálculo político
Reza o manual das boas maneiras políticas que se devem dar pelo menos cem dias antes de criticar mais duramente um governante recém-eleito. Até mesmo o bispo Marcelo Crivella mereceu essa deferência quando iniciou seu ruinoso mandato como prefeito do Rio há quatro anos. Eduardo Paes recebeu a mesma benevolência ao assumir pela primeira vez a prefeitura. Talvez merecesse igual cuidado agora, apesar de ser um gato já bem escaldado. Mas não. Desta vez não dá para esperar o fim da “lua de mel”.
Primeiro. Como pode um prefeito que vem do campo democrático correr, antes mesmo de tomar posse, para o colo do presidente Jair Bolsonaro? Claro que Paes sabia muito bem que estava tratando com um homem perigoso, instável, que gera permanente risco para as instituições. Um presidente que apenas continua na cadeira porque os líderes que temos no Congresso são os que já vimos e sobre os quais já falamos. O presidente a que Paes se alinhou cometeu mais de uma dúzia de crimes de responsabilidade.
O prefeito vai dizer, e já disse antes, que precisa governar e fazer entendimentos em favor do Rio, do povo do Rio. Claro, mas para isto existem os canais tradicionais. Entendimentos se fazem pelos diversos mecanismos de interlocução entre os municípios e a União. Pelos secretários com ministros, por entidades municipais e federais, com os instrumentos que permeiam as diversas camadas de poder, formando pontes entre as instâncias. O prefeito não precisava pedir a bênção do presidente. Não precisava, não devia e de nada adiantará o gesto prematuro.
Se puxar o saco do presidente adiantasse, o abilolado bispo Crivella teria feito uma boa gestão, com dois anos cheio de dinheiro e projetos. E, se não fosse reeleito diante da “bonança”, pelo menos não deixaria um rombo de R$ 10 bilhões. Correr para o colo de Bolsonaro não foi apenas um tiro n’água. Foi um tremendo erro de cálculo político de Paes. Na terça passada, Bolsonaro disse que “o Brasil está quebrado” e que não pode fazer mais nada. A frase poderia ser lida assim: “Não adianta ninguém vir aqui me bajular, porque não tem dinheiro”.
Ainda durante a campanha, o então candidato afirmou, numa reunião virtual com dirigentes da Associação Comercial do Rio, que aqueles que o consideravam um bom gestor veriam que ele é “melhor ainda na articulação política”. Segundo reportagem do “Valor Econômico” do dia 5 de novembro do ano passado, ele destacou que o encontro se devia a sua “astúcia política”. Pois o astuto Eduardo Paes não esperou a posse para colar sua imagem na do homem que pisa sobre as instituições democráticas, despreza a vida humana e debocha da tortura.
Ao sair do encontro de uma hora com Bolsonaro, no dia 15 de dezembro, Paes disse que a “conversa foi muito agradável” e afirmou que seria um parceiro do presidente no Rio. Aproveitou e bancou seu porta-voz, anunciando uma MP que liberaria (?) R$ 20 bilhões para a compra de vacinas. E disse que o Rio queria ser a “vanguarda” da vacinação. Bobagem. Depois da posse, avisou que não fará nada e seguirá o plano de Bolsonaro. Quer dizer, o Rio não será vanguarda de coisa nenhuma, ao contrário.
É grave, mas tem mais. Na segunda-feira, num movimento típico do negacionismo bolsonarista, a prefeitura anunciou que vai fechar para carros as pistas da orla nos fins de semana. Para explicar a medida que nenhum infectologista entendeu, garantiu que ela foi “respaldada” pela Secretaria municipal de Saúde. Sim, e daí? Em seguida, inventou que a proibição de lazer na orla levou as pessoas a se aglomerarem nos calçadões. E fez gracinha, ao dizer que tem ainda de levar em conta “questões ligadas à saúde mental” das pessoas.
Embora seja tão letal quanto o coronavírus, o bolsonarismo é eliminado sem vacina. Basta um pouco de bom senso e um passo atrás. Mas tem que ser rápido, se não a doença entranha e gruda. Paes ainda pode ser descontaminado.
Pedro Fernando Nery: O que é que a OCDE tem?
Hoje, a organização parece uma rede de informação sobre boas políticas públicas
O Brasil entra nesta década com a expectativa de ingressar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nos últimos dias, um de seus diretores pontuou que o ingresso é questão de tempo, e o governo brasileiro afirmou que espera para este 2021 a carta-convite da organização. Em dezembro, a OCDE lançou seu relatório bienal sobre o Brasil – uma competente análise do País que também permite nos comparar com seus 37 países-membros, a maioria de elevado desenvolvimento humano. O que fazemos diferente deles?
Em primeiro lugar, é preciso desmistificar a OCDE como o “clube dos países ricos”. Em décadas recentes, a organização se abriu para países do Leste Europeu, dos Bálticos e da América Latina. O México aderiu em 1994, o Chile em 2010 e a Colômbia em 2020 – a Costa Rica já foi convidada. A entidade parece hoje fundamentalmente uma rede de informação sobre boas políticas públicas. Embora tachada de neoliberal em alguns círculos da academia brasileira, suas (muitas) publicações tratam da inclusão social à mudança climática.
Voltando então ao exercício proposto: como a atuação do Estado brasileiro se compara com a dos países da OCDE?
O gasto do governo está em linha com a média do bloco (há muitos países que gastam mais, há muitos países que gastam menos). Mas a composição do gasto – e da arrecadação de tributos que o financia – destoa. O gasto com servidores é maior no Brasil. Em especial, é bem maior o prêmio salarial no serviço público (diferença da remuneração em relação a trabalhadores da iniciativa privada) – principalmente para os servidores federais.
Na composição da carga tributária, na OCDE a tributação direta é maior: em geral tributamos menos a renda e mais o consumo de produtos. Mas o que o relatório da OCDE chama mesmo a atenção é para o aumento ocorrido em anos recentes do gasto tributário no Brasil (renúncia de impostos). A entidade aponta que parte dessas vantagens a contribuintes que deixam de pagar a totalidade dos impostos seria regressiva (beneficia os mais ricos) e deletéria à produtividade da economia. Sugere, assim, que o Brasil promova uma reforma tributária para tornar nosso sistema mais justo e impulsionar a produtividade.
Ainda quanto à produtividade, os países da OCDE são claramente mais abertos ao comércio internacional, e praticam tarifas médias de importação bem menores. As barreiras no mercado de bens também são maiores no tocante à regulação por aqui: no indicador da entidade que mede exigências regulatórias, as nossas parecem excessivas na comparação. As barreiras protegeriam empresas de competição e limitariam o crescimento do PIB do País – além de prejudicarem o poder de compra dos mais pobres.
Já em outras áreas, parece faltar atuação do Estado. Consideremos a mobilidade intergeracional. Aqui se levariam nove gerações para que os descendentes de um cidadão que nasceu entre os 10% mais pobres chegasse à renda mediana do País (em média). Nos países nórdicos do grupo, são até três gerações. O hiato salarial entre homens e mulheres estaria bem acima da média do grupo (quatro vezes maior que o de países como Bélgica e Dinamarca). E patinamos nas chamadas políticas ativas de emprego (treinamento, intermediação de mão de obra) – muito mais robustas naqueles países.
A pobreza é naturalmente maior no Brasil, mas chama a atenção a sua distribuição entre diferentes grupos etários: ela se concentra muito mais nas crianças no Brasil do que na OCDE, que, por sua vez, desprotege mais os idosos. De fato, muitos países ali pagam benefícios para famílias com crianças, universais ou semiuniversais. Já a despesa brasileira com educação não é destoante, mas a sua capacidade de alcançar resultados é.
Ainda, a OCDE é pioneira na avaliação do bem-estar subjetivo das populações, com medida que se aproxima de uma quantificação de “felicidade” – talvez uma alternativa ao PIB como indicador de progresso. O Brasil não vai especialmente bem em nenhum dos componentes pesquisados e seria o pior do grupo quanto à segurança dos cidadãos.
Entrar no “clube dos países ricos” não vai deixar o Brasil rico. Tampouco há uma fórmula de sucesso na organização: mesmo os dados aqui expostos se referem a médias, que em alguns casos escondem grande diversidade entre os membros. Contudo, o ingresso na OCDE pode ajudar o Brasil a paulatinamente incorporar boas práticas em diversas áreas: fica a expectativa do aprendizado de como os países de maior desenvolvimento humano chegaram lá.
*DOUTOR EM ECONOMIA
Cristiano Romero: Por que o Brasil não é uma nação?
Fim do auxílio é demonstração de que não há contrato social
O jornalista e escritor Nelson Rodrigues escreveu que o Fla-Flu, o clássico dos clássicos, começou 40 minutos antes do nada. A hipérbole rodrigueana, usada para definir o caráter épico da rivalidade entre dois times de futebol, acabou sendo incorporada como síntese do antagonismo de ideias que caracteriza o debate dos problemas nacionais. Se a discussão de um tema relevante vira um Fla-Flu, é porque não há racionalidade, ou melhor, honestidade intelectual de uma ou das duas partes, uma forma de impedir mudanças que reduzam ou eliminem seus privilégios.
Numa sociedade profundamente desigual, marcada pela prática da escravidão (oficial, fator de acumulação de capital durante quase 400 anos, e dissimulada desde a abolição, em 1888), há poucos consensos, logo, não existe contrato social. Não há pacto social num país onde a maioria negra (56% da população) é discriminada pela minoria não negra.
Não há entendimento social se pouco menos de um quarto da população (50 milhões de pessoas) vive abaixo da linha de pobreza (com menos de dois dólares por dia), e todos conhecemos essa realidade há pelo menos quase 20 anos, afinal, graças a um dos poucos consensos de nossa história, criou-se nesse período um programa de transferência de renda para lidar com o problema - o Bolsa Família é excelente, cuida das consequências de políticas equivocadas que seguem provocando tanta miséria e desequilíbrio entre nós, brasileiros.
Não se pode falar em contrato social se metade dos adolescentes está fora do ensino secundário. Tampouco, é razoável afirmar que estejamos sob uma sociedade pactuada, uma vez que que 35 milhões de pessoas não possuem acesso à água tratada e 100 milhões (de uma população de 210 milhões) não têm coleta de esgotos. O pior: os números, compilados pelo Instituto Trata Brasil a partir de dados oficiais, referem-se apenas às cem maiores cidades.
Sem saneamento básico, não há saúde. Sem saúde, não há cidadania. Junte-se esta precariedade à outra (a baixa qualidade do ensino fundamental público), o que temos? Que futuro aguarda o país com a 5ª população do planeta, habitante do 4º maior território em terras contínuas?
Formadores de opinião espantam-se com a facilidade com que outras nações, não apenas as ricas, respondem prontamente a situações de emergência, como a enfrentada nesta pandemia. "Por que não conseguimos resolver rapidamente questões simples que afligem milhões de nossos compatriotas?", indagam-se os cidadãos de bem.
Não é preciso pensar muito para concluir que nossa dificuldade está no fato de o Brasil não ser uma nação - como a palavra "brasil" não significa coisa alguma (foi tirada de pau-brasil), seu significado depende da construção de uma nação, daí, a insistência do titular desta coluna em chamar este país de Ilha de Vera Cruz, a primeira denominação dada pelos invasores portugueses.
Numa nação, a distância entre ricos e pobres é muito menor, todos (ou quase todos) têm acesso às mesmas oportunidades, a maioria dos cidadãos compartilha dos mesmos valores culturais e aspirações, independentemente de sua renda e origem étnica.
Um exemplo do quão distante este território povoado por 210 milhões de viventes está de ser uma nação: o auxílio emergencial criado em abril para assegurar a sobrevivência de mais de 60 milhões de brasileiros, surpreendidos repentinamente pela parada súbita de seu ganha-pão nesta crise sanitária, expira em 31 de dezembro.
Amanhã, alguns milhões de brasileiros vão brindar a chegada de 2021 e da segunda década do século XXI com champagne e espumante, enquanto outros milhões dormirão sem saber como cuidar da família ou de si próprios no ano "novo". Para estes, 2020 não acaba nessa quinta-feira. Ademais, a segunda onda da covid-19, apesar do silêncio negligente das autoridades, já é uma realidade, cujos efeitos econômicos serão iguais ou piores que os do primeiro surto - não custa lembrar: por causa da pandemia, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve recuar algo em torno de 4,5%, segundo previsão da maioria dos analistas consultados pelo Banco Central.
Ora, virar o ano sem resolver esse grave problema é a prova inequívoca de que não só a classe política mas toda a sociedade não se importam com a crise humanitária que se avizinha. Onde estão os intelectuais das universidades públicas e fora dela, os sindicatos, as centrais sindicais sempre dispostas a parar o país em defesa os trabalhadores, as elites empresariais pensantes (das que só vivem às custas do Estado não se deve esperar nem cumprimento de “bom dia”), as lucrativas instituições financeiras que se "comoveram" tanto com o primeiro capítulo da tragédia pandêmica, os artistas que se mobilizaram para cuidar de seus pares em situação menos favorável, uma vez que o isolamento social lhes tirou a possibilidade de trabalhar? Cadê os manifestantes que foram às ruas em 2013 exigir educação e saúde públicas de qualidade?
No país onde não há carência de problemas a serem resolvidos, o tema mais controverso, o que inflama discursos, provoca cizânia, separa amigos de infância e resulta até em divórcio, não é o racismo estrutural, esta infâmia, ou a situação dos cidadãos sem-auxílio emergencial a partir de 1º de janeiro, mas a privatização, a venda de empresas estatais ao setor privado. Por que a classe média brasileira é tão suscetível à proposta de redução do Estado como produtor de bens e serviços?
Quando estourou o mega-escândalo de corrupção na Petrobras, em 2014, não demorou para que se promovesse um “abraço” na sede da estatal, no Rio. Não houve protesto contra as malfeitorias realizadas, responsáveis por desvio de recursos estimado em R$ 20 bilhões. Não houve sequer mobilização para que o acionista majoritário que nos representa na companhia - a União - melhorasse a governança da maior empresa do país. Por isso, leitor, duvide da palavra "estratégica" quando alguém defender as estatais.
Eliane Cantanhêde: O mundo dá voltas
Obscurantismo, negacionismo e terraplanismo estão passando. Bolsonaro é capaz de entender?
Uma pergunta envolta de desânimo se alastra pelos meios políticos e diplomáticos: Jair Bolsonaro vai dar um cavalo de pau na política externa para repor o Brasil nos trilhos, abrir um diálogo produtivo com os Estados Unidos de Joe Biden, reencontrar os parceiros tradicionais e retomar o pragmatismo, a tradição diplomática e a defesa dos interesses nacionais?
Assim como serão necessárias décadas para tentar recuperar nossas perdas na Amazônia e demais biomas, há também previsões nada otimistas sobre o tempo e as condições de Bolsonaro para liderar o recomeço da política externa. E assim como a culpa pelo desmanche do Meio Ambiente recai sobre o ministro Ricardo Salles, também a culpa pela política externa é jogada diretamente sobre o chanceler Ernesto Araújo. O responsável pelas políticas de governo, porém, é o presidente. Ministros só executam.
O que esperar de quem nomeia para o Meio Ambiente do Brasil um cidadão que jamais havia sequer pisado na Amazônia? E para o Itamaraty um embaixador júnior que escreve coisas sem nexo, muda de ideia de acordo com os ventos e compara Donald Trump a “Deus”, único capaz de salvar o Ocidente da China?
O governo Bolsonaro e, aliás, o próprio Bolsonaro, deram caneladas na China, França, Alemanha, Noruega, Argentina, Chile, Mundo Árabe... E jogaram todas as fichas não nos Estados Unidos, mas em Trump – que perdeu. Como em tudo, como na Saúde, que opera entre a vida e a morte, Bolsonaro não se deu por satisfeito e dobrou a aposta. Manteve-se firme e resolutamente trumpista e levou o Brasil a ser o último país do G20 (grupo das 20 maiores economias do mundo) a fazer o óbvio: reconhecer a vitória do democrata Joe Biden.
Os telegramas do embaixador brasileiro em Washington, Nestor Forster, divulgados pelo Estadão, mostram constrangedoramente que ele estava mais preocupado em falar o que Bolsonaro queria ouvir e em escrever o que Planalto e Itamaraty queriam ler, do que em relatar a realidade. Em live do Cebri, Celso Lafer disse que, se ainda fosse chanceler, demitiria o embaixador do cargo na hora. Forster, porém, é um coadjuvante, seguiu a linha do general Eduardo Pazuello de que “uns mandam, o outro obedece”. Apenas compactuou, mas não interferiu na realidade paralela de Bolsonaro e Araújo.
Com ou sem as 22 páginas papagaiando Trump, presidente e chanceler insistiriam na versão de “fraude”, “judicialização”, “guinadas”. Uma maluquice. Fica no ar: é possível recolocar a política externa no trilho do pragmatismo e do interesse nacional com Forster em Washington, Araújo no Itamaraty e Bolsonaro na Presidência? Mais: como corrigir a imagem do Brasil com Salles e o desastre ambiental?
Nunca a imagem do País esteve tão deteriorada entre governos, parlamentos, mídias, entidades e cidadãos do mundo inteiro. O chanceler tem de parar de achar bacana a posição de “pária internacional”, Bolsonaro tem de dar sinais para Biden, Eduardo Bolsonaro tem de torrar seu boné “Trump 2022”, todos têm de sentar com diplomatas, generais, políticos, acadêmicos e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para tentar entender o mundo, parar de atacar a China, voltar à racionalidade com Europa e vizinhos.
Biden já começou a mudar os EUA, a voltar ao Acordo de Paris e ao multilateralismo, a trocar retrocessos por avanços. É esse o caminho que o Brasil precisa fazer, abandonando as pisadas tortuosas de Trump e olhando para a frente. Não porque “um manda (os EUA) e outro obedece (o Brasil)”, mas porque os tempos de obscurantismo, terraplanismo e negacionismo estão passando. O difícil é acreditar que Bolsonaro, que chegou atrasado nas vacinas e na era Biden, esteja entendendo alguma coisa. Provavelmente, não. Nem quer.
Eugênio Bucci: Seu desaforista!
O novo Odorico leva o povo para o altar do sacrifício. Que morram muitos mais. E daí?
Em 1973 não havia liberdade de expressão no Brasil. A ditadura militar torturava dissidentes, exterminava guerrilheiros no Araguaia e tolhia a imprensa. Nas redações dos jornais, censores cortavam reportagens inteiras poucas horas antes de os cadernos começarem a ser impressos nas rotativas. Preencher os vazios abertos pela tesoura da repressão política era um tormento. Este jornal, O Estado de S. Paulo, encontrou uma solução heterodoxa: no lugar do material censurado, passou a publicar trechos de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Entre 2 de agosto de 1973 e 3 de janeiro de 1975, foram 655 inserções do épico lusitano nas páginas do Estado, conforme levantamento feito pelo jornalista José Maria Mayrink.
Pois no mesmo ano 1973, em meio a tantas trevas, entrou no ar uma criação primorosa do dramaturgo brasileiro Dias Gomes: O Bem-Amado. Sob a vigência da mordaça absoluta, O Bem-Amado estreou com a força de uma apoteose libertária e satírica. Era um contrassenso: como podia haver espaço na televisão para tamanha exuberância criativa, e tão crítica, sob uma tirania tão estupidamente violenta?
Dias Gomes era um autor de esquerda, com ligações históricas com o Partido Comunista, e dono de um talento assombroso. O protagonista que ele inventou para O Bem-Amado, Odorico Paraguaçu (interpretado pelo ator Paulo Gracindo), comandava com mão de ferro, sem nenhum constrangimento de ordem moral, a prefeitura da fictícia Sucupira. Odorico era um canalha corrupto e truculento que, sob o gênio de Dias Gomes, ganhava ares despudoradamente cômicos. Nisso residia seu carisma. Falastrão semianalfabeto, posava de orador erudito à custa de expressões incultas, mas empoladas, que proclamava em tons triunfais. Gostava de xingar os adversários de “desaforistas” e quando queria humilhar os subordinados dizia que eram “desapetrechados de inteligência”.
Se diante dos noticiários de TV a sociedade prestava silêncio obsequioso aos ditadores que se sucediam, diante da novela podia rir deles sem medo da cana. Graças a Odorico Paraguaçu, o país vilipendiado caçoava do arbítrio, da demagogia e da estultice. Foi um sucesso instantâneo e impune. Os homens da ditadura, que se viam como agentes “modernizantes” e “urbanos”, não percebiam que o prefeito de Sucupira, de feitio rural, regionalista, antiquado e ridículo, era o retrato escarrado deles mesmos. A ditadura era burra, tão burra que batia palmas para a televisão que a fazia de palhaça. Contrassenso total.
Odorico se impôs de tal maneira que nunca mais saiu de cartaz. A Rádio CBN andou usando diálogos da antiga novela para ilustrar a desconversa de políticos da vida real acusados de corrupção. Agora, nos dias que correm – embora corram sem sair do lugar –, recortes de cenas impagáveis viajam nas redes sociais para delícia dos públicos mais diversos,
As semelhanças com o presente são efetivamente cômicas, mas também estarrecem. Numa das cenas que hoje circulam nas redes, Odorico aparece conversando com seu assessor direto, o igualmente antológico Dirceu Borboleta, interpretado por Emiliano Queiroz. O assunto é uma epidemia que ameaça Sucupira. O prefeito armou uma tramoia para impedir que o dr. Leão (Jardel Filho), seu desafeto político, distribua a vacina. Dirceu não se conforma. Sabendo que Odorico vai interceptar o carregamento das vacinas do dr. Leão, interpela o chefe para expressar sua discordância exasperante.
Com a voz medrosa, em titubeios que vão e vêm, Borboleta empreende enorme esforço para externar seu protesto. Ele, sempre submisso, está quase fora de controle. Aquilo não pode ser. Dirceu se exalta. Como deixar sem proteção o povo de Sucupira?
O prefeito reage, impaciente: “E daí, seu Dirceu?”. Esse “e daí?” soa chocante. O espectador descobre que a pergunta retórica vem de entranhas imemoriais da política nacional. O “e daí?”, como expressão de desprezo pela vida, não é de hoje.
Dirceu não se cala. Tomado de furor cívico, aumenta a voz: haverá um “assassinato em massa, um genocídio”. Passa a mão direita sobre a manga da camisa no antebraço esquerdo, como se acometido de comichões, dizendo que isso lhe dá “até arrepio”.
Então Odorico se põe em brios patrióticos, ralha com o assessor e começa a explicar seu plano. Diz que não vai impedir a vacinação, mas apenas desviar o carregamento para o posto de saúde que planeja inaugurar na cidade. Aí, sim, entregará a salvação sanitária a todos e todas. O herói será ele, Odorico, e não o dr. Leão, esse tal “que está do outro lado, do lado da oposição”. Dirceu vai se resignando, vai se rendendo, compreende o plano e fica aliviado. De um jeito ou de outro, a vacina virá e, para ele, está bom assim.
É fato que hoje, na Sucupira Central, há um Odorico pior, assumidamente genocida, que quer exterminar a vacina da oposição sem ter nada para oferecer no lugar. O novo Odorico seguirá levando o próprio povo para o altar do sacrifício ritual. Que morram mais, muitos mais. “E daí?”.
Dias Gomes talvez tenha sido um humorista profético. Ou um charadista. Em que chave cômica se explica a tragédia brasileira?
*Jornalista, é professor da ECA-USP
Vera Magalhães: Boçalidade contagiosa
Mais que o vírus, é o comportamento indigno do presidente que se alastra
As pesquisas divulgadas no fim de semana pelo Datafolha pintam um cenário tão desanimador quanto a nossa absoluta ausência de estratégia para uma campanha de vacinação eficaz contra o novo coronavírus: elas mostram que boa parte da sociedade brasileira foi inoculada pela boçalidade de Jair Bolsonaro, e que ela se alastra por terrenos perigosos e dá a esse presidente, o pior da República, uma resiliência inacreditável num cenário de mortes e crise econômica.
O presidente, com seu comportamento indigno da cadeira que ocupa, voltou a dizer nesta terça-feira que não se vacinará contra o novo coronavírus.
Como tantas vezes tem feito nos últimos dois anos, novamente se comportou como um inconsequente, ao promover aglomerações na Ceagesp e instar uma criança a tirar a máscara para ser compreendida, e mostrou o ridículo de que é feito ao se enfurnar no meio da bandinha da Polícia Militar do Estado de São Paulo, numa pose ridícula de prefeito de Sucupira.
Esse tipo de postura se impregnou em setores da sociedade de forma mais deletéria do que poderíamos imaginar antes da pandemia. No Brasil, movimentos antivacina nunca tiveram grande aderência, mas com Bolsonaro até isso vai sendo corroído.
A pesquisa Datafolha mostra que são 22% os que dizem que não pretendem se vacinar. Eram 9% em agosto! Entre os que dizem confiar em Bolsonaro, esse índice vai a 33%. E os que dizem que não aceitariam se vacinar com imunizante chinês são 47%.
É impressionante a adesão de uma parcela imensa dos brasileiros à desinformação absoluta em relação às vacinas, praticada de forma deliberada e estudada pelo presidente e por seus asseclas.
Isso no momento em que o País já vive uma segunda onda de contágio pelo SarsCov2e não tem perspectiva de receber vacinas que não sejam a Coronavac, produzida pelo Butantã, pelo fato de Bolsonaro e seu ministro da Saúde, o inepto general Eduardo Pazuello, não terem feito seu trabalho.
Combinado com os outros dados da pesquisa, que mostram aprovação de 37% dos brasileiros a Bolsonaro e que 44% livram o presidente de culpa pela má condução do combate à pandemia, temos um cenário desolador em que vamos ficar no fim da fila da vacina sem que a população exija de forma altiva o seu direito a ser vacinada para que o País comece a superar a maior epidemia que o atingiu desde 1918!
Trata-se de uma corrosão muito rápida e profunda dos valores que guiam a vida em sociedade — entre os quais a constatação, que deveria ser óbvia, de que a vacinação é um direito, sim, mas também um dever de um indivíduo em relação à coletividade e à saúde pública.
A completa falta de preocupação de Bolsonaro com as mais de 181 mil mortes de brasileirose sua incapacidade de recomendar àqueles que governa qualquer conduta que não seja individualista, egoísta e baseada numa visão estreita e mesquinha de mundo vão moldando o pensamento de uma parcela do povo brasileiro à imagem e semelhança do capitão. E sua imagem é a de alguém que banaliza a vida.
Diante de tal estado de apatia combinada com cinismo cabe como último recurso contar com o funcionamento ainda que precário das instituições. Hoje o Supremo Tribunal Federal terá a chance de colocar nos trilhos o Plano Nacional de Imunizaçãoindigente divulgado pelo general Pazuello, e estabelecer regras para que sim, a vacinação (quando houver vacina) seja obrigatória para matrícula e frequência em escolas, viagens de avião, inscrição em concursos, frequência em academias de ginástica etc.
Porque só esperar o bom senso dos brasileiros, como mostram as pesquisas e as cenas de aglomeração em várias cidades e as promovidas pelo presidente, não será suficiente.
Catarina Rochamonte: Centrão acima de tudo, Flávio acima de todos
A preocupação de Bolsonaro tem sido evitar o impeachment e blindar seu filho, duas coisas que se complicaram após a denúncia de que a Abin produziu relatórios com orientações para que o caso Queiroz fosse anulado
O envolvimento de Bolsonaro na campanha de Arthur Lira (líder do Centrão e réu por corrupção) para a presidência da Câmara Federal é grande. Tão grande quanto o preço com que a sua eleição está sendo negociada. Para eleger o candidato que coleciona processos judiciais e denúncias que vão de violência doméstica à cobrança de propina, passando por operação de “rachadinha”, a máquina governista trabalha a todo vapor, oferecendo liberação bilionária de emendas parlamentares e generosa distribuição de cargos, com promessa de descartar alguns ministros para acomodar nomes do Centrão.1 8
Como a ideologia fraqueja diante das infindáveis benesses que o poder proporciona, até parte da esquerda flerta com o candidato de Bolsonaro, que procurou José Dirceu e se dispôs a procurar Lula prometendo, em troca do apoio do PT, pautar a criação de um novo imposto sindical, revisar a Lei da Ficha Limpa e combater o “lavajatismo”. Tudo em acordo tácito com o presidente, cuja preocupação maior tem sido evitar o seu impeachment e blindar o filho Flávio, duas coisas que se complicaram após a denúncia de que integrantes da cúpula da Abin produziram relatórios com orientações de como os advogados do senador deveriam proceder para que o caso Queiroz fosse anulado.
A orientação visava sustentar a narrativa de supostas irregularidades na obtenção dos dados de Flávio a fim de invalidar as provas contra ele. Com o objetivo de “defender FB no caso Alerj”, o relatório traça linha de ação que passa por acessar dados da Receita e demitir servidores do Fisco e da Controladoria-Geral da União (CGU) que fossem um obstáculo a isso.
À frente da Abin está Alexandre Ramagem, cuja tentativa de indicação para o comando da PF (frustrada pelo STF) foi o pivô da saída de Sérgio Moro do governo. Comprova-se, portanto, o que Moro denunciou ao sair: a interferência de Bolsonaro nas instituições com o objetivo de proteger o seu filho das investigações de que é alvo.Catarina Rochamonte
*Doutora em filosofia, autora do livro 'Um olhar liberal conservador sobre os dias atuais' e presidente do Instituto Liberal do Nordeste (ILIN).
Monica de Bolle: As vacinas da desigualdade
Os vulneráveis, os trabalhadores essenciais, as cuidadoras, as pessoas que precisam sair para trabalhar assistirão não apenas ao resto do mundo recebendo os imunizantes, como também a seus conterrâneos abastados sendo inoculados
Desde que soubemos os resultados dos ensaios clínicos em fase III da Pfizer/BioNTech e da Moderna, tenho refletido sobre como as estratégias de imunização em diferentes países podem interagir com as desigualdades existentes, multiplicando-as. São muitos os canais, mas esboçarei aqui os que mais me preocupam.
O primeiro deles é óbvio: as vacinas de última geração, as que utilizam o RNA mensageiro para induzir uma resposta imune, são vacinas relativamente caras, o que significa que países mais pobres dificilmente terão acesso a elas — isso sem considerar os desafios de armazenamento e distribuição associados a essas vacinas. Portanto, é bastante provável, quase certo na verdade, que a população dos países mais ricos tenha mais proteção para a Covid-19 do que a população dos países mais pobres.
Raciocínio semelhante se aplica ao Brasil. O país fez acordo para a produção e distribuição de duas vacinas: a da AstraZeneca/Oxford, em associação com a Fiocruz, e a CoronaVac, parceria da Sinovac com o Butantan. Essas vacinas, entretanto, ainda não têm resultados claros sobre sua eficácia, isto é, sobre o grau de proteção que conferem. A CoronaVac não publicou tais resultados provenientes do ensaio clínico, enquanto a AstraZeneca teve problemas significativos de transparência nos dados e de dosagem durante os ensaios conduzidos no Reino Unido. Os dados de eficácia que juntaram as informações obtidas dos ensaios no Brasil com as do Reino Unido não foram conclusivos a ponto de dar uma boa margem de confiança sobre o grau de proteção.
Diante desses problemas e da constatação de que as campanhas de imunização com as vacinas de última geração estão começando em vários países, o governo brasileiro anunciou a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, que requer cadeias de ultrarrefrigeração para armazenamento. Contudo, apenas 8,5 milhões de doses estarão disponíveis no primeiro semestre, pois o planejamento do Ministério da Saúde foi falho. Como a vacina é dada em duas doses, apenas 4,3 milhões de pessoas receberão a vacina cuja eficácia já é conhecida no primeiro semestre de 2021. Haverá, portanto, racionamento. E não é difícil imaginar que aqueles que receberão as vacinas de ponta serão os mais ricos, não os mais pobres desproporcionalmente afetados pela doença.
Há mais. No dia 1º de dezembro, o governo brasileiro anunciou um “plano” para a campanha de vacinação prevendo tão somente o uso da vacina da AstraZeneca. Como sabemos, a politização da CoronaVac, ou da “vacina chinesa”, chegou às raias do absurdo.
Bolsonaro chegou a dizer que não compraria a CoronaVac, deixando o país praticamente à deriva com apenas uma opção de vacina.
Em nota recente, o Observatório Covid-19, rede da qual faço parte, avaliou o plano do governo brasileiro como um “esboço rudimentar” repleto de falhas e lacunas. Diz a nota: “São marcantes a falta de ambição, de senso de urgência e de comprometimento em oferecer à população brasileira um plano de vacinação competente, factível, que contemple as diversas vacinas em teste no Brasil, com transparência e em articulação com estados e municípios”.
Diante desse quadro, é razoável imaginar que, em algum momento, clínicas e redes privadas façam acordos com os laboratórios responsáveis pelas vacinas de última geração, disponibilizando-as para a população que pode pagar por elas. O restante da população brasileira, os vulneráveis, os trabalhadores essenciais, as cuidadoras, as pessoas que precisam sair para trabalhar, ficarão a ver navios. Essa é a mesma população que hoje não poderá contar com o auxílio emergencial a partir de 1º de janeiro de 2021 e é também a população que depende do SUS. O SUS, por sua vez, ficará sem os recursos de que necessita, porque no dia 1º de janeiro voltará a valer a camisa de força do teto de gastos, já que o Decreto de Calamidade que o suspende também haverá de expirar.
Essas são as pessoas que assistirão não apenas ao resto do mundo recebendo as vacinas, como também a seus conterrâneos abastados sendo inoculados. Nesse cenário, não é difícil imaginar um quadro de convulsão social, aquele que talvez tenhamos conseguido evitar em 2020 a despeito do governo: afinal, não foi Bolsoguedes quem apoiou e fez acontecer o auxílio emergencial.
Vejo poucas pessoas preocupadas com a possibilidade de que a falta de estratégia em relação às vacinas possa ser um multiplicador de desigualdades. É hora de pensar nisso com a devida urgência.
Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins
Rosângela Bittar: Os prazos e o desespero
O trágico enredo da pandemia parece ter chegado ao limite com a indefinição sobre a vacina
Começando pelo fim: os prazos costumam definir a tolerância que a sociedade concede aos governos e líderes. Ao se esgotarem, alteram o humor das mais passivas e indiferentes criaturas. Então, o desespero, que parecia contido, transborda, como um aviso aos governantes. Sinalizou-se, no caso da negligência homicida com a imunização contra o coronavírus, que algo precisa ser feito. É imperativa uma intervenção no ritmo da insensatez do presidente Jair Bolsonaro.
Não se propõe impeachment, esclareça-se. Até os eleitores frustrados o desprezam. Mas os poderes Legislativo e Judiciário, os Estados e municípios, as instituições de Estado, os movimentos sociais, dispõem de meios e métodos menos agudos e mais eficientes.
Ontem, em Brasília, empreendeu-se uma dessas batalhas. Em reunião com o ministro da Saúde, os governadores pretenderam mover o governo Bolsonaro em alguma direção. Apesar do mundo civilizado estar celebrando o início da imunização no Reino Unido, pediam o básico do óbvio. O tenso encontro produziu as promessas de sempre, mas apressou o anúncio de intenções negociadas de véspera.
No primeiro encontro, há um mês, Eduardo Pazuello anunciou que iria adquirir a vacina do Instituto Butantã, desenvolvida com o laboratório chinês Sinovac. No dia seguinte recuou, sob vara, com advertência pública do presidente. Ontem, fez nova promessa, de compra da vacina da Pfizer, que o sistema não tem nem condições de armazenar a 70 graus negativos. Mas desta não deve recuar. A vacina é americana e o protocolo de intenções para adquiri-la foi assinado ontem mesmo.
Já esperado, a reunião produziu mais um lance na disputa política de Bolsonaro com João Doria. Ao condenar planos estaduais de vacinação, como o de São Paulo, que contrapôs ao plano nacional, inexistente, o ministro não deu transparência ao que fará com a vacina do Butantã.
A série histórica de afirmações e recuos de Pazuello e Bolsonaro não animam expectativas positivas.
No caos que se delineia, os governadores devem esperar um desfecho carregando pedras, pois têm novo obstáculo imediato, o descaso culposo da Anvisa. O órgão regulador assumiu o critério político para a questão sanitária. E produziu uma pérola de bula administrativa: “Para a solicitação do uso emergencial é esperado que sejam apresentados minimamente os dados descritos do guia sobre os requisitos mínimos para submissão de solicitação de autorização temporária…” Ainda tirou da sacola um prazo novo: depois de receber a papelada final, vai precisar de 60 dias para ruminá-la.
A loucura federal deixou sem sentido a escalada de fortes adjetivos com que cidadãos e críticos se referem ao governo Bolsonaro. Demência. Fascismo. Obscurantismo. Ignorância. Ao se completarem, amanhã, nove meses de devastação e isolamento social, o trágico enredo da pandemia parece ter chegado ao limite.
O governo, com seus tanques movidos a ódio, insulta a população, acuada, tentando exercer discretamente seu direito à sobrevivência. E a ataca, de um lado, com a bandeira do Ministério da Saúde, o campeão da morte. De outro, com a bandeira do Ministério da Educação, o vice-campeão. Repartição que se atribui a tarefa de manter sob tensão e risco 53 milhões de estudantes, 2,6 milhões de professores e outros tantos milhões de servidores das escolas. E suas famílias.
Em nove meses de pandemia, o terceiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro foi incapaz de negociar para o País uma única dose de vacina. O quarto ministro da Educação foi incapaz de organizar a reabertura de uma única escola. Bolsonaro segue na sua fixação: a campanha eleitoral de 2022. É de reeleição que trata ao se empenhar no domínio do Poder Legislativo. É de reeleição que se ocupa ao providenciar reforma ministerial para ampliar o cofre do Centrão. Sem ilusões: não estaria a vacina sendo usada também na barganha dos interesses eleitorais?
Hélio Schwartsman: Casamento feliz
É boa a notícia de que técnicos da Anatel não restringiram participação da Huawei
Foi o casamento entre desenvolvimento tecnológico e economia de mercado que, a partir de fins do século 18, lançou o planeta numa era de prosperidade material sem precedentes.
Em tese, pode-se ter um sem o outro, mas é quando caminham juntos que os efeitos sinérgicos se materializam. Vale lembrar que a URSS detinha tecnologia de ponta em algumas áreas, mas, ainda assim, soçobrou por causa da economia.
À luz dessas considerações, nem haveria o que pestanejar em relação ao 5G. Se a tecnologia da chinesa Huawei é reconhecidamente melhor e mais barata do que a dos concorrentes e se um eventual veto à sua participação ainda exigiria refazer grande parte da infraestrutura de 3G e 4G, parece ilógico não incluir os chineses entre os fornecedores de equipamentos de 5G para o Brasil.
Não digo que outras questões, como a segurança nacional, não possam entrar na equação. Mas elas precisam ser reais e categóricas o bastante para justificar abrir mão do ganho econômico que teríamos com a participação da Huawei.
E não penso que sejam. O temor de espionagem é justificado, mas não apenas em relação aos chineses. O caso documentado mais recente de bisbilhotagem contra nossas autoridades leva a assinatura dos norte-americanos.
O remédio contra isso não é sonhar com uma rede telefônica inexpugnável, mas, pelo menos no caso do alto escalão, recorrer à criptografia avançada e a melhores rotinas de segurança. Quanto ao público geral, é possível e até provável que esteja mais interessado em preços baixos do que em proteção a dados pessoais, que, aliás, entrega com gosto e de graça às big techs.
Nesse cenário, é boa a notícia de que a área técnica da Anatel não restringiu a participação da Huawei. Se Bolsonaro quiser tirar os chineses da jogada, terá de escancarar que o faz por idiossincrasias suas. Decisões sem amparo técnico têm maior chance de ser revertidas a Justiça.
Hélio Schwartsman
Jornalista, foi editor de Opinião. É autor de "Pensando Bem…".