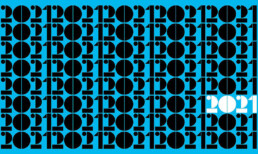el pais
Juan Arias: 'O Brasil está quebrado e eu não posso fazer nada'. A sibilina e ameaçadora afirmação de Bolsonaro
A arrogância do presidente já é proverbial. Seus erros e sua incapacidade de comandar o país são sempre culpa dos que “não o deixam governar”
Ao voltar de suas férias de pesca, Jair Bolsonaro fez uma das mais graves afirmações desde que chegou à presidência. Dirigindo-se aos seus seguidores mais fiéis, confessou que “o Brasil está quebrado” e que ele “não pode fazer nada”. E ainda acrescentou, desafiador: “Vão ter que me aguentar até 2022”. E o pior é que os seus e o mercado continuam a apoiá-lo. A maior vítima será a grande massa de desempregados e pobres, sobre os quais, como sempre, cairá a crise.
Não creio que haja um único chefe de Estado no mundo que seja capaz de confessar que o seu país está quebrado e que não pode fazer nada sem renunciar no dia seguinte. A arrogância de Bolsonaro já é proverbial. Seus erros e sua incapacidade de administrar são sempre os que “não o deixam governar”.
No entanto, há algo mais grave e sibilino em sua afirmação quando diz que o país está quebrado e que não o deixam fazer o que quer. Com isso está dando a entender que é impossível governar com as atuais instituições democráticas. Seria a difícil, mas indispensável, pluralidade de instituições que o arrastaria à tentação de querer viver sem elas.
E é esse equilíbrio de diálogo nem sempre fácil entre as diferentes instituições com seus freios e contrapesos, mas que são a base indispensável dos regimes democráticos, o que Bolsonaro não pode suportar.
É claro que o sonho não confessado de Bolsonaro é poder ter o Congresso e a Justiça amarrados a seus pés à moda de Vladimir Putin e Nicolás Maduro.
Apoie a produção de notícias como esta. Assine o EL PAÍS por 30 dias por 1 US$CLIQUE AQUI
De fato, desde que chegou ao poder vem flertando com um golpe contra o Congresso e o STF. Para ele, todo o jogo democrático é um estorvo.
E o mais grave é que os poderes fáticos não se mexem para retirá-lo do cargo,quando não o bajulam para arrancar cargos e privilégios. Daí que o capitão reformado do Exército se sinta forte e se permita todo tipo de provocações sem que haja uma oposição capaz de parar seus coices contra os valores democráticos e civilizatórios.
A arrogância de dizer que ninguém o tirará do poder é típica dos caudilhos populistas e arrogantes. Diante das declarações de Bolsonaro de que este país está à deriva e que não pode fazer nada, seria necessário perguntar o que os militares continuam fazendo apoiando o aprendiz de ditador. O Exército sempre apareceu nas pesquisas junto com a Igreja como uma das instituições mais valorizadas pela opinião pública.
A Igreja já está perdendo o crédito por ter se jogado nos braços do novo mito e caudilho. E os militares que permanecem no Governo podem acabar sujando toda a instituição.
O que esperam então os militares para abandonar o Governo quando o presidente se declara impotente para governar? A menos que se trate de não perder os privilégios do cargo, o que seria mesquinho em uma instituição da envergadura e da importância do Exército.
E o poder econômico está vendo que o Bolsonaro é incapaz até mesmo de entender o que é a força da economia e sua importância para o bem-estar do país. E seu famoso Posto Ipiranga, o ministro da Economia, hoje é apenas uma marionete nas mãos do mito. Como são, no final, até os generais que estão no Governo.
Às vezes, ver como Bolsonaro trata os generais ministros faz pensar que o capitão reformado do Exército por suas aventuras com o terrorismo hoje está se vingando ao tratar os militares de seu Governo como simples coroinhas.
Sem dúvida, as graves declarações de Bolsonaro de que o Brasil é um país quebrado não animarão os empresários estrangeiros a investir aqui, prejudicando ainda mais a já frágil economia que cria cada vez mais desempregados abandonados à própria sorte enquanto a inflação galopante atinge ainda mais a massa de pobres que é a maioria do país.
Todos nós entramos em 2021 com a esperança de que fosse um ano melhor.
As declarações de Bolsonaro e seu boicote contínuo à vacina enquanto cresce a nova onda de covid-19 estão começando a balançar nossas esperanças.
Fica a incógnita de se as outras instituições do Estado estão cientes de que a presença de Bolsonaro é um dos maiores perigos para a democracia desde a ditadura. Há poucos dias, o presidente alertou seus seguidores que não aceitaria o resultado das eleições se fossem usadas urnas eletrônicas novamente. Nesse caso, disse-lhes “pode esquecer a eleição”, dando a entender que se perdesse não aceitaria o resultado.
Já houve analistas políticos que levantaram a hipótese de que a nova paixão de Bolsonaro pela corporação policial e os contínuos mimos que lhes está fazendo é para tê-los ao seu lado se perder as eleições e tentar dar um golpe autoritário. Bolsonaro sabe hoje que para isso dificilmente poderia contar com a cúpula do Exército, do qual se espera que não terá apoio explícito na campanha eleitoral. É mais fácil esse apoio vir da polícia e das milícias que sempre lhe foram favoráveis e com quem ele, seus filhos e toda sua família sempre tiveram relações misteriosas que ainda não foram decifradas.
Bolsonaro é claramente um despreparado culturalmente e incapaz de governar com as regras democráticas, mas conhece como poucos os subsolos e as cloacas dos poderes mafiosos. O Brasil é muito importante aqui e no xadrez mundial para continuar sendo governado por um presidente que não deixa um só dia de brincar com seus sonhos de ditador.
Todo o resto, até que o país esteja quebrado lhe importa menos. E o pior é que não tem pudor em confessar.
Juan Arias é jornalista e escritor, com obras traduzidas em mais de 15 idiomas. É autor de livros como ‘Madalena’, ‘Jesus esse grande desconhecido’, ‘José Saramago: o amor possível’, entre muitos outros. Trabalha no EL PAÍS desde 1976. Foi correspondente deste jornal no Vaticano e na Itália por quase duas décadas e, desde 1999, vive e escreve no Brasil. É colunista do EL PAÍS no Brasil desde 2013, quando a edição brasileira foi lançada, onde escreve semanalmente.
Lorena Barberia: 'Bolsonaro e Obrador expõem vidas para dizer que não têm medo'
Coordenadora da rede que monitora dados da covid-19 no Brasil, Lorena Barberia aponta falta de transparência e afirma que Estados baseiam suas ações em informações incompletas
Passados 10 meses do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, o país ainda enfrenta a pandemia no escuro. Sem conseguir fazer testagens em massa que forneçam uma dimensão real do número de doentes em fase de contágio —e não somente as infecções acumuladas, que no país já se aproximam de oito milhões— e com problemas na coleta, organização e divulgação de dados que permitam tomar as medidas necessárias na velocidade do avanço do vírus, Governos de Estados e municípios trabalham com estatísticas incompletas para definir suas ações, não convencem a população da importância de aderir a elas e deixam suas medidas vulneráveis a pressões políticas e econômicas. O diagnóstico é da pesquisadora Lorena Guadalupe Barberia (Cidade do México, 49 anos), coordenadora científica da Rede de Pesquisa Solidária, uma coalizão de especialistas que monitoram e avaliam as políticas públicas de combate à covid-19 em todo o Brasil.
A falta de transparência, a existência de bases de dados divergentes e o pouco detalhamento de informações foram obstáculos encontrados logo de início e orientaram o foco de trabalho do grupo, que passou a ser conhecido como caçadores de dados da pandemia. Pesquisadores distribuídos pelos Estados cobram de suas gestões, das capitais e do Governo federal informações sobre questões como número e tipo de testes realizados, fiscalização de medidas de distanciamento e ações para garantir o ensino a distância. Esbarram, novamente, no descaso com as informações. “É uma tragédia. Estamos tentando produzir algo que poderia ajudar esse Estado a enfrentar melhor a pandemia. Então a falta de vontade de compartilhar uma informação mostra que existe um problema mais sério por trás”, afirma.
Professora de ciência política da USP, a mexicana que é filha de argentinos, graduada em economia pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, mestra em políticas públicas por Harvard e doutora em administração pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV) compara a gestão do presidente Jair Bolsonaro com exemplos internacionais e analisa que a pandemia escancarou o machismo de governantes como o brasileiro e o mexicano Andrés Manuel López Obrador. “Confundem o enfrentamento da pandemia com uma questão de fragilidade ou fortaleza física e colocam em risco a vida da população para mostrar que não têm medo do vírus”, afirma ela, que além da USP, é pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público (Cepesp), da FGV. A seguir os principais trechos da entrevista.
Pergunta. Como foi a criação da Rede de Pesquisa Solidária e como tem sido o trabalho até agora?
Resposta. A Rede começou primeiramente por uma questão pessoal. Eu tenho um grupo de pesquisa voltado para a avaliação qualitativa de políticas públicas. Quando começou a pandemia, em uma reunião do grupo, uma aluna perguntou: “Professora, estamos em uma pandemia. Não vamos fazer nada?”. E isso me despertou para a questão de que, realmente, na área das ciências sociais e de monitoramento de políticas públicas, a gente poderia dar uma contribuição relevante. Com o professor Glauco Arbix, da sociologia [da USP], e o José Eduardo Krieger [InCor-Faculdade de Medicina da USP], pensamos em como criar uma rede multidisciplinar de especialistas conversando sobre a pandemia.
Ficou visível desde o início que existiam pouquíssimos dados para que a gente soubesse a situação real da pandemia. Então uma das nossas primeiras missões foi pensar em como coletar informações para produzir nossos próprios dados, e, assim, avaliar as políticas públicas, colocar isso mais visível para a sociedade e debater soluções com os gestores. E para isso seria preciso produzir dados na velocidade da pandemia.
P. Seu grupo foi apelidado de caçadores de dados, pelo esforço em driblar a falta de transparência e organização dos Governos. Como fazem essa busca?
R. Para avaliar uma política pública, precisamos buscar decretos, portarias e indicadores transparentes disponibilizados pelos Governos. Parte da Rede é formada por advogados que trabalham muito ativamente protocolando pedidos de informação junto aos Estados via lei de transparência [Lei de Acesso à Informação]. Uma área específica em que isso ocorre é a fiscalização das restrições. Os Governos dizem que fiscalizam as medidas de distanciamento físico, então nós queremos saber quais são os dados por bairro, por tipo de infração, ou seja, ter evidências de que essa fiscalização está sendo realmente feita.
Ficamos com essa fama de caçadores de dados da pandemia porque logo no início vimos que para áreas muito importantes há diferentes bancos de dados e eles não estão integrados. Por exemplo, os casos confirmados de covid-19: hoje a gente tem pelo menos três diferentes bancos de dados oficiais —um para buscar informações sobre casos leves, outro para casos graves e hospitalizações, outro para casos em geral... Se você tenta cruzá-los, não há uma correspondência. Descobrir isso foi muito assustador para nós.
P. E em quais tipos de informação esse problema foi encontrado?
R. Ao longo da pandemia, martelamos na defesa de que os Governos precisam produzir dados transparentes e que esses dados precisam ser públicos. E essa discussão tem sido feita principalmente na área de testagem. A gente deveria saber qual é a taxa de positividade por tipo de teste. É um indicador fundamental, mas se a gente acessar hoje, em dezembro, o site do Ministério da Saúde, não encontraremos dados satisfatórios. Então o que fizemos? Criamos um grupo de trabalho em cada Estado e estamos protocolando via lei de transparência pedidos de informação sobre testagem. A nossa preocupação são os testes de casos ativos, que permitem fazer isolamento e rastreamento de contágios. Para reduzir a transmissão, precisamos saber os resultados dos exames RT-PCR. Os testes sorológicos [que buscam saber se o paciente já possui anticorpos contra o vírus, ou seja, se ele já se infectou no passado] e os PCR [que detectam o material genético do vírus naquele momento, portanto, as infecções ainda ativas] não dizem a mesma informação, precisam estar separados. Mas ainda hoje não existe essa informação sistematizada, abrangente, que permita um monitoramento.
Lugares que foram bem-sucedidos no mundo no controle da pandemia, como a Coreia do Sul, investiram em testagem. E é exatamente nessa área que temos falhado muito. Mesmo hoje, em que falamos de vacina, de uma nova esperança, precisamos nos preocupar em fazer mais testes.
P. Qual é o tamanho dessa equipe envolvida nos pedidos de informação junto aos Estados e como tem sido a resposta dos Governos?
R. À medida que o trabalho foi crescendo, a rede começou a fazer parcerias —a gente trabalha muito com o Observatório Covid-19 BR e com várias redes locais nos Estados. Hoje a Rede de Pesquisa Solidária faz parte de uma outra grande rede, uma rede de redes de pesquisadores engajados em buscar e compartilhar informação sobre a pandemia, com a consciência de que precisamos trabalhar colaborativamente para salvar vidas. Temos um trabalho muito abrangente pelo país graças a essas parcerias. Só na área de testagem são mais de 100 pesquisadores, em todos os Estados, trabalhando com a gente.
Infelizmente, a parte mais difícil do trabalho é que não temos visto interesse dos Governos em dar um retorno com rapidez e transparência. Muitas vezes eles demoram a responder, depois os dados não vêm na forma que a lei exige, aí recorremos, eles mandam de novo e ficamos meses nessa negociação. É uma tragédia, porque nós, pesquisadores, estamos tentando produzir algo que poderia ajudar esse Estado a enfrentar melhor a pandemia. Então essa falta de vontade de compartilhar uma informação mostra que existe um problema mais sério por trás.
O caso do Governo federal é mais grave porque ele poderia ser uma liderança nessa questão de padronizar os dados e disponibilizá-los facilmente, mas o que acontece no Brasil é justamente o oposto. Muitas vezes, o Governo retira dados da plataforma, demora a fornecer informações muito básicas, de forma que estamos muito aquém dos padrões internacionais. E somos um país que já possui um sistema de saúde pública, que tem muita infraestrutura que poderia ter sido alavancada e utilizada na questão da informação.
P. E em quais países essa informação foi disponibilizada de forma melhor?
R. Um lugar em que isso funcionou melhor foi na Argentina. Lá tanto o Governo federal quanto os locais foram muito transparentes desde o início para divulgar os dados da pandemia. Há informações muito específicas, por bairro, por tipo de surto, mapeando grupos vulneráveis. E o que é muito importante é que esses dados estão disponíveis em um arquivo CSV [formato que possibilita a leitura por diversos programas, como o Microsoft Excel], não é uma página na Internet em que você leva uma hora para baixar os dados de que você precisa ou em que se você clica de um gente dá certo, se você clica de outro vai para outro lugar. A Argentina permite que você baixe os dados e já comece a analisá-los. No Brasil, nós temos que passar mais tempo não analisando os dados, mas tentando coletá-los.
Isso tem começado a melhorar em algumas localidades —o Espírito Santo e o Ceará são bons exemplos de transparência dos dados de testagem desde o início do enfrentamento da pandemia. Mas não em São Paulo, que foi o epicentro, o Estado mais rico do país, onde isso poderia ter funcionado melhor logo no início e ainda permanecem grandes lacunas em várias questões.
P. No plano nacional, tivemos ao menos dois grandes apagões de dados sobre a covid-19, um em junho, com uma mudança na plataforma do Ministério da Saúde, e outro em novembro, com a instabilidade do sistema que impediu alguns Estados de atualizarem as suas estatísticas. Quais foram as consequências desses problemas?
R. Hoje tudo o que sabemos da pandemia depende dos dados de notificação de casos e óbitos. Dez meses após o início da pandemia, quando a gente fala que o Brasil registrou 1.000 óbitos em um dia, ainda estamos falando de mortes que foram notificadas agora mas que podem ter ocorrido em qualquer momento ao longo desses meses, enquanto que em outros países conseguimos acompanhar as mortes pela data em que ocorreram. Isso é um problema básico. Com isso, quando temos alguma pane como essa dos Estados e não é possível alimentar algum dado, depois vamos ver um pico [nas estatísticas]. A confusão nos números da pandemia é tão grande que esse dado não tem uma utilidade real para o gestor. Como os Governos podem justificar suas medidas de flexibilização usando esse tipo de dado?
E esse problema leva para outra questão, que são os dados sobre leitos. Um dos principais critérios que os Governos usam em seus planos de reabertura é a taxa de ocupação de leitos de UTI [para pacientes com covid-19]. Porque como não há dados confiáveis sobre testagem e sobre casos e óbitos, dependemos de relatórios hospitalares para saber como está a situação. Mas aí já é tarde. Ter uma UTI lotada significa que houve uma transmissão descontrolada nesse local semanas ou meses antes e que não agimos no momento em que precisávamos ter agido para poupar vidas.
P. No início da pandemia, a senhora chegou a elogiar a iniciativa de Governos locais de, à frente do Governo federal, implantar suas próprias medidas de distanciamento. Qual é a análise que faz dessas medidas agora e dos processos de reabertura?
R. Um dos nossos principais estudos hoje é o mapeamento dos planos de flexibilização de cada Estado. No início falamos: “Os Governos reagiram”. Essa corrida foi de fato importante, mas não quer dizer que não teria sido melhor com um esforço nacional mais coordenado. Por exemplo: se logo no início da pandemia tivéssemos determinado que pessoas que chegassem do exterior em todo o país fizessem quarentena por 14 dias, isso teria sido muito mais inteligente do que fechar todas as escolas no Maranhão. Então os Estados deram uma resposta fragmentada e não necessariamente coerente com a situação na pandemia naquele lugar.
Uma outra questão que chama muito a atenção nos planos de flexibilização é a divisão do Estado em regiões. Da mesma forma que falamos que o vírus não respeita fronteiras, ele também não vê que determinada região de São Paulo é vermelha e outra é laranja. Essa classificação cria uma confusão muito grande. Tem Estado com 12 fases de flexibilização, outros têm três... Passa a impressão de que a pandemia é algo muito gradual, que você pode ir fechando e abrindo [as atividades] aos pouquinhos, e não comunica corretamente qual é o nível de risco. O que a população precisa saber é: a situação é grave ou não? Qual é a conduta adequada? Mas em vez de discutir qual deveria ser a conduta mínima de segurança para os moradores de todo o Estado, ficamos discutindo que em tal lugar pode abrir até as 18h e em outro pode abrir até as 22h... Isso significou muita confusão e prejudicou a adesão às medidas.
Especialistas defendem que uma resposta radical e severa por duas semanas você conseguiria um controle muito mais eficiente do que fazer uma quarentena prolongada, mal fiscalizada e que não prática não está limitando nada.
P. Como avalia o Plano São Paulo, de restrições no Estado?
R. Em São Paulo, além da questão da divisão do Estado, os pesos dos indicadores [usados para nortear a reabertura] foram mudando ao longo da pandemia [em julho, por exemplo, o Governo flexibilizou de 60% para 75% o limite de leitos de UTIs ocupados com pacientes de covid-19 necessário para uma região passar da fase amarela para a verde, mais branda]. As estratégias foram mudando para ceder a pressões políticas. Vimos isso em dezembro: o governador [João Doria, PSDB] tentou proibir a venda de bebidas alcoólicas depois das 20h. A associação de bares e restaurantes contestou e venceu na Justiça. Por que isso aconteceu? Porque os Governos estão em uma saia-justa: têm que decidir entre serem muito rígidos, fechando tudo, ou deixarem tudo aberto e perderem o controle. O meio-termo não existe, porque eles precisam negociar com cada setor. E também não há fiscalização.
P. Ao longo desses 10 meses, passamos pela negação da gravidade da pandemia pelo Governo Bolsonaro, por duas trocas de ministros, pelo apagão de dados do Ministério da Saúde e agora por um impasse na elaboração do plano de vacinação. A senhora ainda se surpreende com a gestão brasileira da pandemia? Qual é o saldo?
R. Já temos amplas evidências para falar que é uma conduta irresponsável e criminosa, porque custa vidas. Mas minha leitura de cientista política é que essa é uma estratégia pensada de não se responsabilizar pela pandemia. Parte do diagnóstico de quem sabe que vai perder se decidir responder e enfrentar a pandemia. Coordenar um enfrentamento traria mais responsabilidade e julgamento sobre as ações do Governo Federal. Então a única chance que Bolsonaro tem de ser competitivo em 2022 é se distanciando do problema e colocando a culpa da crise nos governadores e prefeitos. Por isso ele não conseguiu realmente apoiar prefeitos nessas eleições. Ele não poderia se alinhar.
P. No México, a gestão de López Obrador também tem sido criticada e marcada pelo negacionismo. Como compará-la ao Governo Bolsonaro?
R. São dois casos importantes para discutir o machismo de presidentes na pandemia. Tanto Bolsonaro quanto Obrador fazem questão de mostrar que são machos de verdade, e por isso colocam em risco a vida da população e a deles, se expondo sem máscara, para dizerem que não têm medo do vírus. Confundem a capacidade de enfrentamento da pandemia com uma questão de fragilidade ou fortaleza física, com sua masculinidade. Quando você vê o discurso de mulheres, como a Merkel na Alemanha ou a primeira-ministra da Nova Zelândia [Jacinda Ardern], elas não fazem questão de trazer a pandemia para um nível tão pessoal. Alguns presidentes buscam manter essa imagem de homem forte: Brasil, México, Venezuela [com Nicolás Maduro]. Mas essa postura não foi adotada no Uruguai [governado por Luis Lacalle Pou. Então não é uma questão de como partidos de direita ou Governos populistas reagem, é mais uma questão de característica pessoal.
P. O que esperar da pandemia no Brasil em 2021?
R. Sendo realista, acredito que 2021 vai ter uma cena muito parecida com a que o país enfrentou em 2020, só que com a economia muito mais frágil, uma sociedade muito polarizada e com essas lacunas de infraestrutura no combate da pandemia que a gente não arrumou. Vamos ter uma situação muito complicada, porque a população está imaginando que vai chegar logo uma vacina, mas vacinar o Brasil inteiro vai ser um processo complexo, e a gente ainda vai precisar fazer muito distanciamento físico, ainda vai precisar fazer muita testagem. Estamos entrando em um momento grave, e o que me preocupa é: ou os Governos adotam medidas mais severas, entendendo que precisam atuar agora, ou estaremos no caminho de virar os Estados Unidos ou pior.
Juan Arias: Ninguém tem o direito de matar nossas esperanças
O Brasil grosseiro e violento capaz de zombar das leis e até da educação é minoria. A maioria é um povo que luta só para que seus direitos sejam respeitados
Nas festas de final de ano e na chegada do novo, nas redes sociais de todo o mundo, nos milhões de mensagens trocadas, a palavra mais usada em todas as línguas da Terra foi “esperança”. Foi um clamor mundial.
Esperança de que a pandemia acabe e a vacina chegue para que se possa começar a viver a normalidade e sentir a proximidade e o calor humano do outro. E se essa esperança de um ano melhor é universal, ninguém tem o direito agora de roubá-la de nós.
No Brasil, sobretudo, a esperança tem sido mais ameaçada ainda pelo negativismo e até pela zombaria de seu presidente pela dor alheia. Por suas portas e janelas sempre fechadas ao clamor de sua gente, que viu até seus mortos serem zombados.
Zombaram da dor dos mais necessitados, que sofreram duplamente com a pandemia em que foram os que mais perderam a vida e os que mais sentiram os efeitos econômicos, tão sobrecarregados já estavam de sofrimentos e esquecimento por parte do poder.
O Brasil se desejou, de ponta a ponta de seu vasto território, que neste novo ano a esperança se imponha sobre o crônico abandono de seus cidadãos. É possível que esse clamor pela busca da esperança perdida não tenha sido escutado pelo poder político e econômico surdo e mudo aos anseios mais profundos dos brasileiros, que não renunciaram ao seu direito de viver felizes e respeitados.
Se algo novo pode chegar aos milhões de brasileiros em 2021 é que os poderes favoreçam a convivência amorosa entre os diferentes, a justiça social, para que nenhum brasileiro passe necessidades e que se sinta seguro e defendido em vez de ser deixado à margem. E ainda pior, foram tratados como “covardes” por tentarem se defender da pandemia. Não, os brasileiros não são covardes nem submissos. Podem ainda sofrer de racismo, mas o que o poder fez para combatê-lo? Pode até tê-lo agravado.
Neste duro ano da pandemia que levou forçosamente ao distanciamento, os brasileiros foram exemplares na busca de refúgio na cultura, na arte e até na sátira. Nas redes sociais, milhares de músicos e artistas animaram com suas músicas e escritos em meio à dor da separação. Não, o Brasil grosseiro e violento capaz de zombar das leis e até da educação é minoria. A maioria é um povo que luta só para que seus direitos sejam respeitados.
A maioria é gente com sentimentos nobres e com o desejo de viver em paz. Portanto, se temos algo a desejar neste 2021 é que saibamos lutar para que os poderes que têm sobre nós o direito de vida ou de morte saiam de cena, que vão embora com sua carga de negatividade e desprezo pela vida.
Que todos nós, com as forças ainda sãs da política e da justiça, demos um basta ao poder que se sente dono de nossos sentimentos. Que seja um ano de esperança e também de resistência à barbárie a que um poder sem empatia diante da dor, da morte e da miséria submeteu o país.
Lutemos juntos aqueles de nós que não perderam a esperança de um mundo mais habitável, para que os bárbaros desapareçam e partam sozinhos para desfrutarem suas armas e o seu desprezo pela dor alheia. Que vão embora se deleitar sozinhos com a sua mala de sadismo.
O velho slogan dos revolucionários gritava que “o povo unido jamais será vencido”. Hoje, no Brasil vivemos uma situação de tirania que zomba da felicidade alheia. Por isso, as forças mais sãs do país precisam se sentir unidas contra a barbárie que nos aflige.
O Brasil que nos últimos dias escreveu e pronunciou milhões de vezes a palavra esperança permanece unido nessa utopia com seu amor pela vida contra os coveiros de nossas ilusões.
Hoje vivemos no Brasil uma revolução engendrada por um poder tirano. Que todos aqueles que defendem e reivindicam seus direitos a uma vida mais digna se unam e gritem nas redes e nas ruas e praças que não permitirão que continuem zombando de seu direito à felicidade.
Digam “não” com força e unidos para aqueles que parecem se deleitar com a dor dos outros.
Que os brasileiros com suas riquezas culturais e espirituais não permitam mais que lhes roubem essa palavra mágica de esperança em uma vida mais digna para todos.
O Brasil pode porque em suas veias correm o sangue e as riquezas de tantos povos e de tantas culturas, todas de vida e não de morte.
*Juan Arias é jornalista e escritor, com obras traduzidas em mais de 15 idiomas. É autor de livros como ‘Madalena’, ‘Jesus esse Grande Desconhecido’, ‘José Saramago: o Amor Possível’, entre muitos outros. Trabalha no EL PAÍS desde 1976. Foi correspondente deste jornal no Vaticano e na Itália por quase duas décadas e, desde 1999, vive e escreve no Brasil. É colunista do EL PAÍS no Brasil desde 2013, quando a edição brasileira foi lançada, onde escreve semanalmente.
El País: Primavera Árabe completa uma década com desfecho em aberto
As sociedades do Oriente Médio e do norte da África estão menos livres do que antes do início das revoltas, mas elas acabaram com o medo e mostraram que a mudança é possível
Ángeles Espinosa, El País
No começo de 2011, o mundo árabe viveu uma onda de protestos contra a corrupção e por uma vida mais digna. A mídia internacional prontamente a batizou de Primavera Árabe, expressão que talvez tenha influenciado nas exageradas expectativas que despertou. Dez anos ― e meio milhão de mortos ― depois, a região, com a exceção da Tunísia, está menos livre e em piores condições do que antes. Mesmo assim, a queda de quatro ditadores rompeu o muro do medo e acabou com a ideia de que a democracia era incompatível com a cultura árabe. O status quo já não pode ser considerado inexorável.
“Dez anos não é um marco temporal suficiente para desenvolver mudanças de grande envergadura. As revoltas da dignidade não acabaram. Foram suprimidas, mas voltarão a ocorrer, talvez mais violentas, talvez não. O que está claro é que não há recuo à ordem política anterior a 2011”, resume Kawa Hassan, vice-presidente do programa do Oriente Médio e Norte da África do EastWest Institute, uma organização sem fins lucrativos que promove a resolução de conflitos. É uma ideia compartilhada por numerosos especialistas.
MAIS INFORMAÇÕES
- Irã executa um jornalista oposicionista acusado de incentivar os protestos contra o regime
- A paz dos pragmáticos impera no Oriente Médio
- Israel acerta acordo histórico com os Emirados Árabes e suspende a anexação da Cisjordânia
Soava bem a ideia de uma Primavera Árabe, termo que comentaristas conservadores já haviam criado para se referir aos lampejos democráticos de 2005 no Oriente Médio. O professor Marc Lynch, da Universidade George Washington, recuperou a expressão em um artigo da Foreign Policy sobre os protestos aparentemente desconexos que seis anos depois se estendiam da Tunísia ao Kuwait, passando por Argélia, Egito e Jordânia, e mais tarde alcançariam Líbia, Síria, Bahrein e Iêmen. Transmitia uma imagem luminosa e positiva. Só que, nos meses seguintes, a contrarrevolução financiada pelas monarquias petroleiras acabaria com os sonhos de mudança.
“Prefiro chamá-las de revoltas da dignidade, porque milhões de pessoas saíram às ruas pedindo uma cidadania digna”, esclarece Hassan por telefone.
Os protestos populares e pacíficos, aos quais os manifestantes se referiam como intifada (rebelião) ou zaura (revolução), conseguiram derrubar aos autocratas da Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen. Apenas na Tunísia se consolidou uma frágil democracia. A eleição de um presidente islâmico no Egito (Mohamed Morsi) foi respondida com um golpe militar que aumentou a repressão. Líbia e Iêmen mergulharam em guerras civis, assim como ocorreu na Síria, onde o ditador Bashar al Assad conseguiu se manter a sangue e fogo. Nesses países, o Estado e a sociedade ficaram destruídos, pelo menos meio milhão de pessoas morreram, e 16 milhões tiveram que deixar seus lares.
“Os manifestantes se encontraram cercados entre Estados autoritários e atores não estatais autoritários. Os poderes contrarrevolucionários agiram inclusive em países nos quais não chegou a haver revoltas”, admite Hassan. Mesmo assim, mostra-se convencido de que “o fator medo desapareceu para sempre, e nenhum poder na região pode mais estar tranquilo”. Este cientista político constata que “as sociedades ainda insistem em desafiar a ordem política, como se viu em 2019 no Iraque, Líbano e inclusive, mais surpreendentemente, na Argélia e até no Sudão, onde [Omar al] Bashir foi derrubado e teve início uma frágil transição democrática”.
Haizam Amirah Fernández, pesquisador do Real Instituto Elcano, de Madri, afirma que esta segunda onda de protestos demarca o mal-estar árabe nos movimentos de descontentamento que sacodem outros países, como o Chile e a Tailândia. “Se o mundo árabe ficou à margem das transições democráticas ocorridas na década de oitenta [do século passado] na América Latina, Extremo Oriente e Leste Europeu, 2011 deixou clara a interconexão entre diferentes zonas do mundo pela situação econômica e social depois da crise financeira”, afirma Fernández ao EL PAÍS, referindo-se à mobilização dos indignados na Espanha e do Occupy Wall Street nos Estados Unidos.
Significativamente, a região do Oriente Médio e norte da África tem a maior desigualdade econômica do mundo. Por enquanto, a repressão foi capaz de suprimir os protestos. Mas Hassan defende que, “apesar da resistência dos regimes autoritários, as exigências de uma cidadania digna não desaparecerão”. De fato, destaca que “as causas que motivaram as revoltas, como a reivindicação de melhores serviços e o Estado de direito, não só continuam aí como se agravaram”.
É o que mostra uma recente pesquisa da empresa YouGov para o jornal britânico The Guardian, segundo a qual os sentimentos de desesperança e privação de direitos que alimentaram as revoltas continuaram aumentando. Uma maioria dos consultados em nove países árabes declara que suas condições de vida se deterioraram desde a autoimolação do jovem vendedor de frutas tunisiano Mohamed Bouazizi, cuja morte ― o estopim dos protestos ― completa 10 anos na próxima segunda-feira.
Como era de se esperar, o descontentamento é maior onde a situação degenerou em guerras civis e intervenções estrangeiras. Nessa pesquisa, 75% dos sírios, 73% dos iemenitas e 60% dos líbios dizem estar pior do que antes da Primavera Árabe. Mas inclusive no Egito, Iraque e Argélia, embora menos da metade declare que sua situação piorou, apenas uma quarta parte diz estar melhor. “As reformas foram só de aparências, e a covid-19 exacerbou os problemas socioeconômicos”, aponta Hassan.
“Está sendo feito um experimento que põe a prova a resistência das sociedades árabes. Apesar das diferenças entre países, respondeu-se às demandas de tipo econômico e político com medidas de segurança, mão dura e repressão”, aponta Amirah Fernández. E não só por parte dos regimes questionados. “Do exterior, continuou-se favorecendo de forma descarada o modelo de estabilidade baseado no autoritarismo e na supressão de liberdades, em vez de experimentar qualquer sistema alternativo”, acrescenta.
As petromonarquias, que conseguiram comprar vontades e paz social com os dividendos dos hidrocarbonetos, apostaram no desenvolvimento econômico como substituto da democracia. Daí seu empenho na diversificação e na abertura social, ao mesmo tempo em que se restringem as liberdades políticas. Naquelas autocracias sem recursos relevantes, só há porrete. Até quando a panela a pressão vai aguentar? “Não está claro para onde vamos. Os atuais regimes são ainda mais repressivos e estão mais dispostos a usar a força. Lutarão até a morte para manter o poder”, manifesta o analista do EastWest Institute.
Fernández, do Real Instituto Elcano, remete à realidade demográfica como “o maior condicionante das sociedades árabes”. Com ligeiras diferenças, dois terços de seus 420 milhões de habitantes têm menos de 30 anos. Muitos eram jovens demais para participar dos protestos de 2011, mas “viram que era possível apesar do caos e as interferências que vieram depois”. De fato, a pesquisa mencionada detecta uma diferença geracional. Os mais jovens entre os adultos pesquisados (18-24 anos) são os que menos lamentam as revoltas, enquanto seus pais se mostram mais pessimistas com o resultado e consideram que as novas gerações confrontam um futuro mais difícil do que o de quem cresceu antes das primaveras.
“É muito cedo para dizer que a Primavera Árabe foi um fracasso. Precisamos deixar os jovens terem seu momento, e seu momento chegará”, dizia Lina Khatib, diretora do programa para o mundo árabe do centro de reflexão britânico Chatham House, durante uma recente conferência online. “Trata-se de um processo longo, com muitas desigualdades, que terá um montão de desencantos. Nenhuma revolução transformadora no mundo terminou em poucos anos e sem reação”, concorda Fernández.
Jon Lee Anderson: 'Estamos numa era de protesto e exasperação, mas não de empunhar armas contra o poder'
O jornalista norte-americano, que acaba de publicar o livro de crônicas ‘Los Años de la Espiral’, reflete sobre as convulsões na América Latina e o papel das novas gerações
A imagem associada à passagem do tempo costuma ser a de uma linha, mas os fatos raramente têm uma estrutura linear. Estão cheios de sinuosidades, desvios, idas e vindas. Isso também acontece com a história recente da América Latina. A segunda década do século, escreve Jon Lee Anderson (Califórnia, 1957), “foi marcada pela volatilidade, além da decadência ou desaparecimento de tendências anteriores”. O jornalista norte-americano viu nela uma forma irregular que acabou inspirando o título de seu último livro. Los Años de la Espiral é uma revisão das convulsões do continente, que o repórter conhece a fundo, e seus protagonistas. Da Colômbia a Cuba, Venezuela, Nicarágua, Peru, Brasil ou Argentina, Anderson relata um mundo que está mudando por meio de uma seleção de crônicas, perfis, reportagens e artigos publicados originalmente pela revista The New Yorker. O jornalista atende ao telefone logo pela manhã do Chile, para onde viajou depois de passar pelo México no início do mês. De norte a sul, a América Latina é sempre a matéria-prima de seu trabalho.
Pergunta. Seus textos narram alguns anos que, em seu conjunto, seguem um esquema não totalmente claro, o da espiral. O senhor sente que essa época acabou?
Resposta. Não totalmente. Embora o livro coincida com uma nova escala, que aparentemente é o eclipse do trumpismo nos Estados Unidos, o advento de um político mais sensato e mainstream, que é Joe Biden, promete restabelecer uma espécie de ordenamento nas relações com a região, que por sua vez provavelmente terá um efeito benéfico em alguns aspectos.
P. Quais?
R. Em um tom mais baixo em relação a certos regimes, abrir diálogo com países como Venezuela e Cuba em vez de recorrer unicamente à hostilidade. E se empenhará em estabelecer diretrizes de cooperação em temas como migração e tráfico de drogas, que serão menos caracterizados por ameaças como na época de Trump. Em todo caso, na América Latina as sequelas dos anos de espiral continuam até certo ponto. Embora tenhamos visto uma recuperação da chamada esquerda, em alguns países como a Bolívia ou como poderia ocorrer no Equador, não estamos falando da esquerda da época chavista. Nunca proclamei a morte da esquerda como tal, mas sim um pouco do declínio dessa esquerda com pretensão ou verbo revolucionário. Os nós que se apresentaram ainda estão por resolver. Talvez o maior seja o da Venezuela, que é como um buraco negro que suga tudo o que está ao seu redor. Existem mais dois buracos. Um seria o bolsonarismo no Brasil, pelo que significa em termos de risco do populismo extremo e pelo que significa para o planeta Terra. E o terceiro seria o narcotráfico, que fez um grande buraco negro desde o sul do Rio Grande até Bogotá.
P. No último ano e meio vimos que as novas gerações, os menores de 30 ou de 25 anos, começaram a agir de outra forma. Vimos isso no Chile, embora esse país tenha uma tradição maior de protesto, vimos isso no Peru, na Colômbia... O livro também transmite um clima de degradação da política. Existem motivos para confiar nos jovens para uma mudança?
R. Eu acrescentaria os jovens do Movimento San Isidro em Cuba. Estamos diante de um fenômeno que ultrapassa as fronteiras de um país e de outro. Vemos isso também em escala mundial, em Hong Kong e em alguns outros países. Percebem-se alguns traços em comum, que são a desilusão com a política, é claro, e a vontade de ir às ruas protestar, às vezes com aspectos niilistas, às vezes com reivindicações identitárias, às vezes pelo aumento da tarifa de metrô. Vemos que há uma saturação com as políticas convencionais, eu diria que até certo ponto é pós-ideológica. 30 anos depois do fim da Guerra Fria, epítetos como fascista e comunista, embora tenham sido retomados por populistas de direita em lugares como o Brasil, na realidade não fazem muito sentido para os jovens de 30 anos ou menos hoje em dia. Eles nasceram depois da Guerra Fria e não sentem o peso dessa história da mesma forma, o que querem é viver suas vidas e olhar para frente. A corrupção, principalmente, e a falta de um Estado de direito criaram cinismo e um desgosto muito grandes. E com razão. A época da Guerra Fria, da revolução e da contrainsurgência, não se caracterizou, ao menos abertamente, pelo reconhecimento da corrupção até as mais altas esferas de cada país latino-americano. Nos últimos 25 anos é o que substituiu a percepção pública do poder e isso já está fazendo vítimas. No Peru, no Chile, no Brasil, onde votaram em Bolsonaro diante da percepção da corrupção. A Argentina é uma ópera-bufa no sentido da corrupção. Podemos ir pelo continente e ver isso. A Odebrecht deixou sequelas por toda parte. E nos únicos países onde não o fez, existe uma espécie de pacto entre os envolvidos. Ou pelo menos um bode expiatório. No México jogaram [Emilio, ex-diretor da Pemex] Lozoya na fogueira e na Colômbia cerraram fileiras para não entregar ninguém. Resta ver se esta geração pode conseguir uma purga necessária. Em alguns lugares isso poderia sair do controle. O que é interessante é que estamos em uma era de protesto e exasperação, mas não de empunhar armas para desalojar os que estão no poder.
P. O que está acontecendo em Cuba com o Movimento San Isidro faz pensar que algo está mudando?
R. Talvez sim. Nenhum país é monolítico, nem o Partido Comunista em Cuba. O poder está nas mãos de um sessentão, filho do partido, um homem um tanto cinzento e apoiado pelas forças armadas e pelo partido, mas não está imbuído da liderança e do carisma da época anterior. Isso os torna mais burocratas e se nota que neste caso optaram por uma série de respostas. Por um lado, a propaganda negativa, que na verdade tem tão pouca credibilidade, como Trump quando diz que ganhou a eleição. Quem é afetado por isso? Sua base. Quão grande é a base de crentes fervorosos do Partido Comunista agora? Não saberia dizer, mas acredito que a maioria deles está na casa dos 60 anos ou mais e alguns talvez não estejam tão convencidos. Em todo caso, acredito que estamos diante de uma mudança geracional em Cuba. Houve uma visita de Obama há quatro anos. E os cubanos estão mais globalizados em seus conhecimentos. Estamos em um impasse em que ainda não vimos o fim do caminho. O fato de terem optado pela propaganda e pela distensão é interessante. Talvez seja um reconhecimento de que sua sociedade é cada vez mais composta por jovens que, devido às suas próprias histórias, exigem uma resposta diferente. E isso, por sua vez, poderia ser um reconhecimento de que o partido não é monolítico e que deve haver uma espécie de ampliação de vozes e inquietudes em um futuro próximo. Seria mais saudável para Cuba.
P. Que marcas Trump deixa na América Latina?
R. A primeira coisa que me vem à mente é uma imagem muito diminuída dos EUA. Aqueles que tinham uma imagem dos EUA como uma democracia inexpugnável, não a têm mais. É um país com muitos problemas internos, uma justiça às vezes corrupta, a possibilidade de os corruptos chegarem aos púlpitos do poder, o nepotismo. Trump se comportou como o arquétipo de americano feio, valentão, racista, homofóbico e transacional, no sentido de que se preocupava apenas com a relação custo-benefício. Ele só se sentia confortável com os mais autoritários da região e os fortaleceu. Com Joe Biden os latino-americanos saberão onde se posicionar em relação às políticas norte-americanas, sejam elas positivas ou criticáveis, mas pelo menos dentro de uma convenção ou uma ortodoxia reconhecida. Todos nós nos sentimos abalados, incomodados, prejudicados e um tanto traumatizados pela passagem de Trump. Acredito que os latino-americanos devem sentir algo parecido.
P. A estratégia de Trump não obteve resultados na Venezuela. Que saída o senhor vê para a crise desse país?
R. Já faz tempo que o que tem de acontecer é um diálogo que leve a uma abertura e a uma ampliação das opções políticas para os cidadãos. É evidente que o Governo de Maduro não tem aceitação de boa parte da população e qualquer líder em uma democracia teria de reconhecê-lo. É hora de eles deixarem de usar uma linguagem de reivindicação revolucionária, porque ninguém acredita que o que existe agora é uma revolução, como se isso fosse um ato em si ou uma definição virtuosa em si mesma. Há pouco de virtude em ver os venezuelanos sucumbirem à penúria coletiva, à violência desatada e, com a passagem do tempo, a uma ordem repressiva e militar, além de ver seu ambiente entregue a atores opacos para a exploração de ouro e minerais. Por outro lado, a opção proclamada por Trump de operar por meio de atores como paramilitares, conspirações, levantes militares, até mesmo aparentemente acenando para mercenários para derrubar o regime na Venezuela, foi pueril, insensata e irresponsável. Não ajudou a Venezuela e muito menos os venezuelanos. Acredito que Biden tem que pensar muito bem sobre como vai conduzir sua política em relação à Venezuela, é preciso se perguntar se as sanções que paralisaram as receitas de sua indústria petrolífera são a forma mais sensata de ajudar os venezuelanos, independentemente de ajudar o regime ou não. O que espero é que consigam estabelecer um diálogo, uma transição política e social. E acredito que o reconhecimento de um Governo paralelo, a opção de Juan Guaidó, já está bastante obsoleto, porque continuar com algo que não funcionou beira o surreal. Estamos diante do fim do chavismo já faz tempo e é preciso formalizá-lo. Se forem sensatos, deveriam aceitar competir nas urnas como fazem na Holanda, na Suécia e na Noruega.
P. Em 2016, muitos colombianos viveram um momento de esperança. Não há mais guerra, mas o Governo quer conter os acordos de paz. Há espaço para a esperança na Colômbia?
R. Esses anos me machucaram. Não posso deixar de mencionar a esperança que me causou o esforço feito pelos colombianos para acabar com a guerra e dar a mão aos seus adversários. Aconteceu em um momento em que o Estado Islâmico, o nefasto grupo terrorista, se espalhava pelo Oriente Médio. A paz na Colômbia se deu quando outros conflitos pareciam não ter fim. Em outras palavras, a Colômbia, um país caracterizado por ser o mais violento do mundo durante décadas, alcançou a paz. Tendo coberto as guerras no Oriente Médio durante anos, tinha uma necessidade quase fisiológica de ver paz, um progresso no mundo. Encheu-me de felicidade. É um país que está no meu DNA, morei lá com minha família durante quatro anos e dói muito ver como alguns políticos, por compromissos próprios, um pouco opacos, e às vezes sem muita honestidade, reverteram as possibilidades dessa paz. Meu medo é que os colombianos tenham o conflito enquistado e alguns políticos sintam que é por meio da violência que as coisas se resolvem. Mesmo sua noção de paz é a de paz dos vencedores. Assisti aos protestos dos jovens com expectativa e otimismo. Não eram da guerrilha, nem eram fachadas da guerrilha como costumavam difamá-los em épocas anteriores. Mas desta vez a polícia saiu para atirar e mataram muitos. É horripilante e imperdoável. A Colômbia se aproxima de um futuro sombrio se não se olhar no espelho e não tomar medidas para tentar mudar o chip. Um novo pacto colombiano é muito necessário para que o país recupere aquele ar promissor que existia há alguns anos.Adere a
Cecilia Ballesteros: O vírus também ataca os direitos humanos
ONU e várias organizações internacionais alertam que a pandemia está causando um retrocesso nas liberdades
Michelle Bachelet já alertou. A alta-comissária de Direitos Humanos da ONU identificou o perigo em abril e acaba de insistir no final deste ano: a crise sanitária desatada pela covid-19 pode acabar infectando o organismo da democracia e das liberdades. E não há vacina contra esse vírus, “exceto mais direitos humanos”, como disse a ex-presidenta chilena. Desde que a pandemia foi declarada, em março passado, deixando quase dois milhões de mortos, aproximadamente 82 milhões de contagiados e o planeta em polvorosa, alguns regimes autoritários aproveitaram o medo de suas sociedades para transformar as máscaras em focinheiras e o confinamento em estados de exceção encobertos.
Vários especialistas em direitos humanos consultados por este jornal salientam que entre os males trazidos pela pandemia, além da crise sanitária e econômica, será preciso incluir um retrocesso das liberdades, inclusive nas democracias. O último estudo do Idea (Instituto para a Democracia e a Assistência Eleitoral, na sigla em inglês), um organismo intergovernamental com sede na Suécia e em parte financiado pela União Europeia, informa que quase a metade dos países democráticos (43%) e a maioria dos não democráticos (90%) adotaram medidas “ilegais, desproporcionais, indefinidas ou desnecessárias” desde o início da pandemia. Em seu relatório sobre o estado da democracia no mundo, o organismo enquadra 162 dos 195 em uma das três seguintes categorias: democracias (99), regimes híbridos (33) e regimes autoritários (30). Os critérios para isso são parâmetros como a existência de eleições confiáveis, o respeito aos direitos humanos e a igualdade entre os sexos.
O relatório afirma que neste ano houve uma erosão do Estado de direito sem igual nas últimas décadas. Por exemplo, em termos de liberdade de expressão, uma das restrições mais comuns, pela primeira vez desde 1975 há mais países em retrocesso do que em ascensão, uma tendência que já vinha sendo vista desde 2014. “Os elementos mais preocupantes se dão no que chamamos de regimes híbridos, como a Rússia, Turquia, Marrocos, Afeganistão e Paquistão, e nas democracias frágeis ou de baixa qualidade, como Polônia, Hungria, Índia, Filipinas e Sérvia, onde as ações do Executivo estão minando os princípios democráticos, uma tendência que, se não for revertida, poderia ter chegado para ficar”, afirma Alberto Fernández, um dos autores do relatório do Ideia, falando por telefone de Estocolmo.
“Embora ainda seja cedo para calibrar o impacto da pandemia e seja complicado tirar conclusões, foram aprovadas medidas que poderiam se manter no tempo, como as restrições à liberdade de imprensa ou de informação, que inclusive se tornaram leis em alguns países, enquanto outras, como as limitações de movimento ou de reunião, ninguém espera razoavelmente que se mantenham além da emergência sanitária”, acrescenta Fernández. Os Estados que se orgulham de terem enfrentado o vírus de maneira mais eficaz e com menor perda de vidas, segundo o cômputo da Universidade Johns Hopkins, conseguiram isso, argumenta o estudo, à custa de ignorar os direitos humanos, como ocorreu por exemplo na China, onde os médicos que alertaram para os primeiros sinais de epidemia em Wuhan foram silenciados e muitos jornalistas estrangeiros foram expulsos, ou em Cuba.
Em países como Islândia, Finlândia, Nova Zelândia, Noruega, Coreia do Sul, Taiwan e Uruguai, as medidas adotadas contra o vírus, segundo o relatório, em geral não violaram os direitos fundamentais, embora em muitas partes da Europa e nos Estados Unidos, com uma grande tradição democrática, os decibéis da polarização política tenham subido. “Reagiram de maneira eficaz à pandemia sem solapar as liberdades”, diz Fernández. Não foi assim, porém, na Hungria, Polônia, Ucrânia, Rússia, Eslováquia, Eslovênia, Belarus e Azerbaijão, onde a covid-19 serviu como pretexto para cercear liberdades básicas e para adiar eleições – uma medida eventualmente justificada pelo risco de contágio, mas muito bem aproveitada pelos regimes não democráticos ou autoritários, já que, das 185 votações previstas neste ano até outubro, 93 haviam sido adiadas, e só 92 aconteceram de fato – ou para silenciar críticos, quando não diretamente para esmagar a oposição, como em Bangladesh ou no Camboja.
Em outras zonas do mundo, como a América Latina e a África ―que tem o pior comportamento, com 76% de países com as liberdades em semáforo vermelho, só atrás do Oriente Médio―, a crise sanitária agravou a corrupção, a fragilidade das instituições, a pobreza, a desigualdade e a exclusão dos grupos mais vulneráveis, entre eles as mulheres, os imigrantes e as minorias raciais. Além disso, em oito países, entre eles o México e o Chile, coube às Forças Armadas controlar a pandemia e a segurança. Regimes como os da Venezuela, Cuba e Nicarágua se tornaram ainda mais autoritários, segundo o documento.
“Desde que a pandemia estourou, a democracia e os direitos humanos se deterioraram em 80 países”, adverte por email Amy Slipowitz, coautora do último estudo da organização Freedom House, intitulado Democracia sob confinamento. Segundo ela, “esta deterioração é particularmente preocupante nas democracias incipientes e nos Estados altamente repressivos”. Segundo o relatório dessa organização norte-americana, feito com a participação de mais de 400 jornalistas, trabalhadores sociais, ativistas e especialistas sobre 192 países, a lista inclui tanto ditaduras como democracias que rebaixaram os seus padrões.
Para a Freedom House, a pandemia acentuou a desconfiança na democracia, uma tendência latente que se exacerbou a partir da Grande Recessão de 2008. Embora a emergência sanitária diminua com a difusão de vacinas nos próximos anos, Slipowitz acredita que esse padrão será mantido. Ou seja, que continuará a propagação das chamadas fake news ou desinformação, tão bem manejadas neste ano por presidentes como Donald Trump e Jair Bolsonaro; será mais fácil para os Governos autoritários controlarem a população alimentando o pânico, ou crescerá o controle dos Estados através da videovigilância, como ilustra o caso da China. “No momento, todos os Governos deveriam assegurar-se de que as medidas de emergência são proporcionais e temporárias. Também deveriam garantir que a população tenha acesso a informação confiável sobre a pandemia, permitir a realização de eleições livres e confiáveis com medidas sanitárias adequadas, identificar e punir as violações de direitos humanos e combater a corrupção”, conclui Slipowitz.
Carla Jiménez: Decrépito torturador de almas, Bolsonaro não cabe no cargo que ocupa, nem cabe no Brasil
Presidente tem a sorte de se deparar com gente que silencia sobre seus criminosos desvarios, cujos limites morais podem não ser tão baixos quanto os dele, mas com pontos de intersecção
A esta altura de 2020, qualquer pessoa que acompanhe minimamente o noticiário sabe que não há o que se surpreender com as atrocidades perversas que saem da boca do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Ao zombar da tortura da ex-presidenta Dilma Rousseff ele só mostra sua verve de torturador que sempre soubemos que ele tinha. Não há diferença entre a frase dita nesta segunda, 28, ―“Dizem que a Dilma foi torturada e fraturaram a mandíbula dela. Traz o raio-X para a gente ver o calo ósseo”― e o “Quem procura osso é cachorro”, dita em maio de 2009, quando ele humilhava parentes de desaparecidos na ditadura ―assassinados por militares que pensam como Bolsonaro― que faziam pressão por localizar os restos mortais de seus familiares.
Bater covardemente em alguém, ainda mais uma mulher, ex-presidenta, só é típico dos bárbaros, dos mesquinhos, dos pequenos que têm inveja, dos futriqueiros venenosos, dos picaretas. Debater o porquê dele ter sido eleito e o que isso diz dos seus eleitores é algo que já se estendeu até demais nestes últimos dois anos. Já sabemos que Bolsonaro não é o mal puro, mas a síntese da maldade coletiva de um Brasil perverso, deformado. Não se trata somente da deformação dos que identificam e celebram sua crueldade, mas a distorção dos que não tiveram a chance de aprender e alcançar o que uma frase tão delinquente quanto a que ele pronunciou sobre Dilma faz mal à saúde do Brasil e à nossa democracia. A frase não é só sobre o passado. Ela tem uma correia de transmissão com a tortura que acontece nas delegacias e nas periferias do país todos os dias.
Custa chamar Bolsonaro de presidente da República. Ele não cabe nesse posto. Não representa o povo brasileiro, nem uma aspiração coletiva, nem um exemplo a ser seguido. Seus dois anos já demonstram que ele seria incapaz de fazer história com grandes realizações e contribuições para o Brasil. Não tem bondade, não tem empatia, não tem honra, nem respeito. Tem atitudes de um covarde, um sabotador nacional, com auxílio de muitos que o ajudaram a chegar lá e agora se descolam, como o ex-ministro Sergio Moro. O ex-juiz sabia exatamente o tamanho da própria credibilidade naquele momento e recebeu todos os alertas de quem era e agora vira e mexe o critica. Mas a última vez que Moro o criticou, no último dia 28, foi em função do atraso na campanha da vacinação. Não para condená-lo por Bolsonaro ter exortado a tortura a que foi submetida a ex-presidenta Dilma.
Bolsonaro sobrevive e, sim, uma tempestade perfeita pode reconduzi-lo ao poder em 2022. Ele tem a sorte de se deparar com uma época de lideranças fracas no Brasil, de gente que silencia sobre seus criminosos desvarios, cujos limites morais podem não ser tão baixos quanto os dele, mas com pontos de intersecção. É o constrangimento de ver o Supremo Tribunal Federal e procuradores de São Paulo envolvidos em pedido de prioridade na vacinação. É o marketing de gestor do governador João Doria cortando verbas de Ciência em São Paulo ―afora uma viagem desastrada quando os números da covid-19 estavam subindo. É deputado se gabando de ter ganhado fuzil de presente. Justiça seja feita, Bolsonaro tem um papel fundamental para a história brasileira ao mostrar aos que defendem a democracia o tamanho da nossa arrogância e ignorância sobre o Brasil real. Nos contentamos com pouco achando que o pouco era muito porque era somente para nós.
Pois bem. Os anestesiados pelo pavor da miséria no poder com a ultradireita estão ganhando anticorpos e, se o presidente ainda goza de prestígio num grupo de eleitores, esse mesmo grupo vai cobrar a fatura quando os erros de Bolsonaro trouxerem a colheita. Ele, que apontava o confinamento vertical no início da pandemia como um antídoto para proteger a economia ―e não ficar para trás num mundo competitivo―, teve a incompetência de deixar o Brasil a esmo para montar uma campanha de vacinação nacional e isso cobrará seu preço no tempo da nossa recuperação. Mais valeram as picuinhas e as artimanhas grotescas do que focar num plano que finalmente o poderia colocar à altura de um estadista.
Bolsonaro não cabe no cargo de presidente e sua monstruosidade se destaca a cada dia no mundo em que vivemos. No momento em que a Argentina avança no debate sobre aborto, jovens vão às ruas no Peru, chilenos reescrevem sua Constituição, mexicanos e costa-riquenhos lideram a vacinação na América Latina, o presidente brasileiro vai se tornando um corpo estranho. É o presidente que mente ao mundo culpando indígenas pelos incêndios no Pantanal, o machista arcaico num mundo cada vez mais feminista, o torturador de Dilma no dia do seu impeachment.
Pode ser que faltem dois ou até seis anos para que o peso de suas palavras o derrubem por si só. Para que seja o pária nacional, o antiexemplo, a dor na alma, a vergonha do Brasil. Tal qual quando na ditadura havia uma vergonha popular de dizer que se apoiou os crimes covardes do governo militar. Bolsonaro é o representante dos militares que iam botar bomba no atentado do Riocentro, dos militares que esconderam o rosto da fotografia enquanto Dilma era interrogada então com 22 anos. Dilma pode não ter sido tão popular enquanto presidente e isso é uma verdade que não se pode apagar. Mas seu tamanho e sua trajetória estarão altivas nos livros de história. Os de Bolsonaro, não.
El País: Argentina legaliza o aborto e se põe na vanguarda dos direitos sociais na AL
Legisladores debateram projeto de lei de interrupção voluntária da gravidez que permite o aborto livre até a 14ª semana de gestação e deram vantagem da pauta apoiada pelo Governo Fernández
Mar Centenera e Federico Rivas Molina, El País
É lei. Na Argentina, as mulheres que decidem interromper a gravidez podem fazê-lo de forma legal, segura e gratuita no sistema de saúde. O Senado aprovou na madrugada desta quarta-feira a legalização do aborto até a semana 14 da gestação por 39 votos a favor, 29 contra e uma abstenção. Enterrou assim a lei em vigor desde 1921, que considerava a prática crime, exceto em caso de estupro ou risco de vida da mãe. Nas ruas, a maré verde, a cor símbolo do feminista no país, explodiu de alegria.
Com a nova legislação, a Argentina está mais uma vez na vanguarda dos direitos sociais na América Latina. A partir desta quarta-feira é o primeiro grande país da região a permitir que as mulheres decidam sobre seus corpos e se querem ou não ser mães, como já fizeram Uruguai, Cuba, Guiana e Guiana Francesa (e regiões como a Cidade do México). Nas demais, há restrições totais ou parciais, como no Brasil. A iniciativa, aprovada na Câmara dos Deputados há duas semanas, prevê que as gestantes tenham acesso ao aborto legal até a 14ª semana após a assinatura do consentimento por escrito. Também estipula um prazo máximo de dez dias entre a solicitação de interrupção da gravidez e sua realização, a fim de evitar manobras que retardem o aborto.
A pressão de grupos religiosos e conservadores para manter a criminalização do aborto vinha sendo muito forte, mas não suficiente para repetir o resultado de 2018, quando o Senado rejeitou o projeto. Ainda assim, uma forte ofensiva legal é esperada. No país do Papa Francisco, a Igreja ainda tem muito prestígio. E não só porque trabalha em conjunto com o Estado no atendimento aos mais pobres, por meio de centenas de refeitórios populares. A proximidade de Francisco com o presidente Alberto Fernández, que acabou apoiando a legalização, é evidente, e a questão do aborto sempre foi um território incômodo de disputas. A praça em frente ao Congresso era uma prova disso. No lado celeste, exibindo as cores do país, onde os grupos antiaborto se reuniam, os padres celebravam missas diante de altares improvisados e os manifestantes carregavam cruzes e rosários, fotos de ultrassom e um enorme feto de papelão ensanguentado.
Ao contrário da Câmara dos Deputados, onde a aprovação foi folgada, o resultado no Senado mais conservador era mais incerto. Mas desde o início a expectativa acompanhou os verdes. Os números eram muito equilibrados e tudo dependia de um punhado de indecisos, que imediatamente passaram de cinco para quatro: um senador previu que votaria pró-aborto após um mínimo de ajustes no texto da lei. Horas depois, dois senadores e dois senadores também anunciaram seu voto positivo e elevaram os votos afirmativos para 38, ante 32 negativos. Os contrários, além disso, haviam perdido dois votos antes de partir: o do senador e ex-presidente Carlos Menem, 90, em coma induzido por uma complicação renal; e o do ex-governador José Alperovich, de licença até 31 de dezembro por denúncia de abuso sexual.
O triunfo do “sim” à lei logo se definiu, ainda antes da meia-noite, quando faltavam ainda quatro horas de discursos. “Quando eu nasci, as mulheres não votavam, não herdávamos, não podíamos ir à universidade. Não podíamos nos divorciar, as donas de casa não tínhamos aposentadoria. Quando nasci, as mulheres não eram ninguém. Sinto emoção pela luta de todas as mulheres que estão lá fora agora. Por todos elas, que seja lei”, declarou a senadora Silvia Sapag durante o debate, em uma síntese do tom dos discursos verdes.
“Queremos que seja lei para que mais nenhuma mulher morra por aborto clandestino. Por María Campos. Por Liliana. Por Elizabeth. Por Rupercia. Por Paulina. Por Rosario. Pelas mais de 3.000 mulheres que morreram por abortos clandestinos desde o retorno da democracia”, afirmava do lado de fora Jimena López, de 27 anos, com um cartaz que dizia “Aborto legal é justiça social”. Entre os que se opunham à lei, muitos criticaram o momento do debate, em meio à pandemia de covid-19, e outros citaram argumentos religiosos, como María Belén Tapia: “Os olhos de Deus estão olhando para cada coração neste lugar. Bênção se valorizamos a vida, maldição se escolhemos matar inocentes. Eu não digo isso, diz a Bíblia pela qual eu jurei”.
Nas províncias do norte do país, aquelas mais influenciadas pela Igreja Católica e grupos evangélicos, a maioria dos legisladores se opôs. Na capital argentina e na província de Buenos Aires, por outro lado, quase todos os representantes apoiaram a legalização, qualquer que fosse o partido.
Durante 99 anos, na Argentina foi legal interromper uma gravidez em caso de estupro ou risco para a vida ou saúde da mãe, como no Brasil (que também autoriza aborto em caso de anencefalia). Em todos os outros casos, era um crime punível com prisão. Ainda assim, a criminalização não foi um impedimento: de acordo com estimativas não oficiais, cerca de meio milhão de mulheres fazem abortos clandestinos a cada ano. Em 2018, 38 mulheres morreram de complicações médicas decorrentes de abortos inseguros. Cerca de 39.000 tiveram que ser hospitalizadas pela mesma causa.
“Obrigar uma mulher a manter sua gravidez é uma violação dos direitos humanos”, afirmou a senadora governista Ana Claudia Almirón, da província de Corrientes, no norte do país. “Sem a implementação de educação sexual integral, sem a previsão de anticoncepcionais e sem um protocolo de interrupção legal da gravidez, as meninas correntinas são obrigadas a parir aos 10, 11 e 12 anos”, denunciou Almirón.
“Em 2018 não alcançamos a lei, mas conscientizamos sobre um problema: hoje existem mulheres que abortam em condições precárias e insalubres”, afirma Mariángeles Guerrero, integrante da Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Gratuito. “O aborto deixou de ser um assunto tabu que se falava em voz baixa e passou a ser um assunto que tinha de ser debatido politicamente para garantir condições seguras para a realização destes abortos”, acrescenta. Em 1921, quando a lei atual foi aprovada, a Argentina estava na vanguarda regional dos direitos das mulheres, mas a falta de debates posteriores a fez perder a disputa. Agora, o país recuperou o terreno perdido.
El País: Fábrica russa de mentiras está ativa e se espalha a novos continentes
Usina de desinformação que interferiu nas eleições norte-americanas de 2016, numa operação preparada por um homem do círculo de Putin, agora age também na África
Em um edifício de escritórios na cidade russa de São Petersburgo, na nação balcânica de Montenegro ou em centros empresariais de Gana e da Nigéria. A fábrica russa de mentiras, a usina de trolls que semeou uma profusão de boatos falsos na campanha para as eleições presidenciais norte-americanas de 2016, polarizando o debate e interferindo na sua propaganda, nunca foi desativada. A usina original foi copiada, e muitas de suas operações foram terceirizadas. As operações da máquina de propaganda, que deixou à vista as vulnerabilidades do sistema e a magnitude e força das operações de ingerência e desinformação da Rússia, espalharam-se pelos Estados Unidos, por vários países europeus e alguns da África. Enquanto isso, os gigantes da Internet e os governos ocidentais tratam de confrontá-la, em alguns casos com táticas não totalmente limpas.
A técnica é a mesma que Vitaly Bespalov praticou durante algumas semanas em 2015. Esse jovem trabalhava em um edifício de concreto de quatro andares na rua Savushkina, em São Petersburgo, sede da chamada Agência de Pesquisas da Internet (AII) e matriz da usina de trolls. Sua missão era defender posições pró-russas durante um dos picos do conflito na Ucrânia, e mais tarde sobre a política norte-americana. “Tratava-se de alimentar o discurso e semear as redes com comentários falsos e interessados para beneficiar a Rússia”, comenta Bespalov, que hoje trabalha em uma organização de defesa dos direitos LGTBI. Por trás de catracas camufladas e com a proteção de seguranças, blogueiros, ex-jornalistas e outros profissionais recrutados pela agência trabalhavam para lançar esse “carrossel de mentiras”, como descreve a ativista e pesquisadora Liudmila Savchuk, que no final de 2014 trabalhou infiltrada na fábrica de trolls de São Petersburgo e ajudou a desmascarar a estrutura.
Aquela operação de desinformação na Ucrânia foi considerada bem-sucedida e serviu de germe para uma nova missão, desenhada para intervir nas eleições presidenciais de 2016, e voltada desta vez para o público dos EUA. Uma nova equipe de pessoas, fluentes em inglês e dotada de salários mais suculentos, criou uma rigorosa quota de publicações incendiárias sobre a candidata Hillary Clinton, a justiça racial e Donald Trump, fazendo-se passar por norte-americanos. O entorno polarizado foi um terreno fértil para os trolls russos, que amplificaram a discórdia que já fervilhava.
Era uma máquina de propaganda que também se dedicou a comprar publicidade e publicar anúncios sobre raça, imigração e armas de fogo, que chegaram a 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos. O exército digital de trolls, acusado de interferir no pleito de 2016 é, segundo Washington, parte do império empresarial de um dos oligarcas da órbita mais próxima do Kremlin, Yevgeni Prigozhin, empresário do ramo gastronômico e alvo de sanções dos EUA. Apelidado como “o chef de Putin”, ele provou que o sistema era eficaz em 2011, quando contratou dezenas de pessoas para que elogiassem na mídia e nos principais fóruns da Internet russa a comida do sua empresa de catering, cuja qualidade havia sido questionada em várias denúncias.
Prigozhin, apontado como suspeito nas investigações sobre a ingerência eleitoral do promotor especial Robert Mueller, negou qualquer vinculação com a agência e com as atividades de sua máquina de propaganda. Também o Kremlin rechaçou as acusações.
Apesar dos alertas e dos mecanismos de vigilância adotados pelos gigantes da Internet e pelas redes sociais após o escândalo de 2016, as usinas russas de trolls continuaram operando, embora tenham mudado um pouco as suas técnicas de publicação, para reduzir os riscos de serem detectadas. Mesmo assim, sua influência e sua sombra são longas. Suas ambições e seus tentáculos, também. Nos últimos meses, o Twitter anunciou a eliminação de milhares de contas vinculadas à AII. Em março, o Facebook revelou que tinha descoberto uma subsidiária da usina russa de trolls em Gana e na Nigéria, operada por pessoas locais, mas vinculada à AII de São Petersburgo, e que tinha como alvo os Estados Unidos. E em setembro a empresa eliminou outra leva de contas, que ainda estavam em etapa de desenvolvimento e centravam suas atividades nos Estados Unidos, Reino Unido, Argélia e Egito. Esses usuários faziam publicações em inglês e árabe sobre temas como o movimento Black Lives Matter, a OTAN, Donald Trump, a campanha presidencial de Joe Biden e a conspiração do grupo radical QAnon.
Nos últimos meses, essa intensa atividade chegou a resultar em guerra de trolls na África. Há duas semanas, o Facebook anunciou que tinha identificado outra usina de desinformação russa vinculada à AII e direcionada a países africanos, e também uma estrutura francesa. São campanhas rivais voltadas, sobretudo, para as eleições deste fim de semana na República Centro-Africana ―onde Moscou tem cada vez mais interesses― e a outros 13 países da África que procuravam enganar os usuários da Internet e se desmascararem entre si.
É a primeira vez que a rede social identificou e bloqueou um grupo de trolls, vinculado a “pessoas associadas ao exército francês”, que atuam pelos interesses de um Governo ocidental. “Não se pode combater fogo com fogo”, advertiu Nathaniel Gleicher, chefe de política de segurança cibernética do Facebook. E acrescentou: “Temos estes dois esforços de diferentes lados destes problemas utilizando as mesmas táticas e técnicas, e terminam parecendo a mesma coisa”.
Marc Bassets: Futuro, ano zero
Depois de meses fora de órbita, em 2021 é hora de pôr os pés no chão. Empreenderemos a recuperação da crise sanitária e econômica? Lutaremos seriamente contra a mudança climática? Especialistas fazem suas apostas
Pode ser uma aterrissagem suave ou forçada. Depois de um 2020 de morte, doença, confinamento e recessão em que o mundo flutuou em uma estranha irrealidade, o ano de 2021 começa entre a promessa de vacinas que acabem com tudo isso e a angústia por novas ondas que nos devolvam à linha de largada. A humanidade está fora de órbita há um ano e se aproxima o momento de pôr os pés no chão.
“As coisas não voltarão a ser como antes. Começamos a ter consciência de que foi a civilização que criou e espalhou o vírus: os aviões e os carros, as concentrações multitudinárias e os estádios de futebol”, diz o neuropsiquiatra Boris Cyrulnik, uma das 10 pessoas consultadas ― todas especialistas em áreas que vão da história ao pensamento, da economia à geopolítica ― para preparar este artigo. “Se restabelecermos as mesmas condições de consumo e de transporte, em dois ou três anos haverá outro vírus e será preciso recomeçar.”
Nada está escrito. O ano de 2021 pode ser o momento de decisões ― sobre a organização das relações internacionais, sobre a economia, sobre o meio ambiente, sobre os valores democráticos ― que marquem as próximas décadas. Um ano zero.
“A história sempre está radicalmente aberta. Sempre pode ir por um lado ou por outro. A crença de que haverá um progresso simplesmente porque queremos que o bem vença é um erro”, diz a historiadora Anne Applebaum, autora de Twilight of Democracy (“Crepúsculo da democracia”), ensaio que narra em primeira pessoa o conflito no mundo ocidental entre liberais e autoritários. “Também é um erro acreditar que, inevitavelmente, fracassaremos. Não sou declinista, mas também não acho que tudo sairá bem sem fazer nada para conseguir isso.”
O historiador marxista Eric Hobsbawm falava de um século XX curto, entre 1914, ano do início da Primeira Guerra Mundial, e 1991, ano do fim da Guerra Fria, com o desaparecimento da URSS. E se também houvesse um século XXI curto? E se sua data inaugural não tivessem sido os atentados de 11 de setembro de 2001, ou a quebra do banco Lehman Brothers em setembro de 2008, e sim o surgimento do vírus SARS-CoV-2 na cidade chinesa de Wuhan no final de 2019? Ou, melhor, a esperada derrota do vírus em 2021 ou 2022, do mesmo modo que 1991 marcou a vitória do campo ocidental contra o bloco soviético?
“O momento em que se proclama que uma pandemia terminou é arbitrário”, avisa Laura Spinney, autora de Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World (”cavaleiro pálido: a gripe espanhola de 1918 e como ela mudou o mundo), livro de referência sobre a mal denominada gripe espanhola, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas entre 1918 e 1920. “Suponho que isso ocorrerá quando os Governos, de maneira escalonada pelo mundo, levantarem as restrições, quando as pessoas tiverem um certificado atestando que estão vacinadas e sentirem confiança para retomar sua vida anterior.”
Spinney assinala que a diferença entre a pandemia de agora e a gripe de 1918 é a existência de uma vacina. “Até alguns dias atrás, enfrentávamos a pandemia da mesma forma que isso foi feito ao longo da história, com as velhas técnicas de distanciamento social: afastar-nos uns dos outros, fechar espaços públicos, impedir encontros em massa, usar máscaras. Lutávamos com armas antigas e agora lutamos com a arma mais moderna possível.”
A dúvida é o que ocorrerá depois da vitória, se esta chegar. “Imaginemos que no verão [boreal, inverno no Hemisfério Sul] as vacinas permitam acabar com o distanciamento social. Passaremos uma boa parte do resto do ano nos acostumando a viver no novo mundo, que não será igual ao antigo”, diz George Friedman, presidente da Geopolitical Futures, empresa especializada em previsões geopolíticas. “A questão é superar com sucesso a transição de uma realidade, uma economia e uma sociedade baseadas na covid-19 para algo mais estável”.
Friedman, que vive no Texas, acredita que a situação atual é insustentável, e não só por razões econômicas. Cita como exemplo seu neto de quatro anos e a possibilidade de que, se as vacinas não funcionarem, ele não vá à escola em um futuro próximo. “Você vai à escola para quê? Para aprender? Não. Para brigar. Para discutir. Para se entender com outras crianças”, diz. O perigo é que a excepcionalidade de 2020 acabe se prolongando, algo que ele descarta. “Teríamos uma geração deformada. Isto não é a realidade”, diz. É preciso aterrissar, e quanto antes, melhor.
O filósofo Bruno Latour, autor de um ensaio titulado precisamente Où Atterrir? (“Onde aterrissar?”), argumenta, ao contrário de Friedman, que a pandemia significou um banho de realidade, uma tomada de consciência sobre nossos limites e nossa dependência da natureza, do clima até os micróbios. “Vivemos uma mudança cosmológica ou cosmográfica que tem a mesma importância que as grandes mudanças do século XVI. Naquela época foi descoberto o infinito do mundo. Agora passamos de um mundo que acreditávamos ser global e universal para um mundo relocalizado, no qual é preciso prestar atenção a cada gesto, a cada sopro que damos”, afirma. Ao pensar no que 2021 nos reserva, Latour fala da mudança climática ― a “mutação ecológica”, diz ―, “tão próxima que sabemos que passaremos de uma crise a outra, de um confinamento a outro”. Com a diferença de que o futuro confinamento não será em casa, mas em uma terra convulsionada.
“Espero que 2021 seja o ano da volta à normalidade, mas a uma normalidade com consciência coletiva renovada, que permita avançar em matéria ambiental”, diz a economista Mar Reguant, professora da Northwestern University em Illinois e codiretora do grupo de trabalho sobre a mudança climática na comissão de especialistas encarregada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, de preparar a economia para o pós-covid-19. “Na frente pessimista, será um ano de novos desastres ecológicos e humanos nos quais a mudança climática ficará evidente com mais força”, prevê Reguant. Mas ela também deseja que o fundo de recuperação europeu, aprovado em julho, “dedique-se a transformar um modelo econômico e energético obsoleto”; que o futuro presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cumpra suas promessas de combate à mudança climática, e que as empresas petrolíferas “entendam que não terão lugar em um futuro próximo se não se reinventarem”.
Outra crise potencial é a da desigualdade. Durante 2020, os trabalhadores com menor renda empobreceram, devido aos fechamentos forçados pelos confinamentos em setores como os de restaurantes e turismo e à redução dos salários. As pessoas com maior renda, por sua vez, gastaram menos e economizaram mais. “Há uma lacuna que já existe e não vai desaparecer quando a vacina chegar e as restrições forem levantadas”, diz o economista Marc Morgan, membro do Laboratório Mundial da Desigualdade, do qual Thomas Piketty é um dos diretores. “O papel dos gastos governamentais será muito importante para voltar a criar empregos depois da chegada da vacina.”
“O que considero absolutamente urgente é que, com a crise do coronavírus ― mas não só, também com a crise climática e a crise alimentar, que sempre é esquecida, e a grande instabilidade econômica ―, sejam modificadas nossas instituições internacionais e nossas atitudes, e segurança global seja colocada à frente de nossas preocupações”, enfatiza Bertrand Badie, professor emérito do Instituto de Ciências Políticas em Paris. “A segurança global é a que afeta toda a humanidade e não só uma nação ou outra. É isso que faz com que o vírus seja mais ameaçador do que os tanques russos para a Europa.”
Badie, no entanto, acrescenta: “O que pode ocorrer é justamente o contrário: que a crise, em vez de levar a um fortalecimento da governança global, favoreça uma tensão neonacionalista no mundo todo. A eleição de novembro nos Estados Unidos mostrou uma incrível resistência do nacionalismo. O fato de 74 milhões de pessoas terem votado em Donald Trump é a prova de que o neonacionalismo já é um componente fundamental dos comportamentos políticos no mundo atual”.
“Em alguns lugares, a pandemia fortaleceu os autoritários”, assinala Anne Applebaum. “Quando as pessoas sentem medo, estão dispostas a aceitar coisas às quais, em tempos normais, fariam objeções. Não estou falando da coisa superficial dos confinamentos: todo mundo entende para que servem”, acrescenta. “Ao mesmo tempo, a pandemia foi uma prova do valor da ciência e da cooperação internacional. Finalmente sairemos desta, graças às vacinas. E de onde vêm as vacinas? São criadas por consórcios internacionais, pela cooperação germano-americana, por fábricas na Bélgica que exportam para toda a Europa. Todas as soluções para o problema envolvem cooperação internacional, cooperação científica e cooperação comercial. Deveria ser uma lição para os nacionalistas.”
Um risco em relação às vacinas são as teorias da conspiração que proliferaram durante a pandemia e atribuem aos imunizantes todos os tipos de males. Não é incomum que uma pandemia ― na qual o medo do desconhecido se soma à falta de harmonia de governantes que adotam medidas confusas e contraditórias ― seja um terreno fértil para teorias absurdas, algumas com fedor antissemita, que veem um complô para a instalação de um Governo mundial.
“A retórica antivacinas ganhou muita força. Como a palavra oficial ― da imprensa, da política, do mundo médico ― está desacreditada, muitas pessoas não vão querer ser vacinadas”, diz a historiadora Marie Peltier, autora de Obsession: Dans les Coulisses du Récit Complotiste (“obsessão: nos bastidores da narrativa conspiracionista”). “O conspiracionismo e seu impacto na realidade foram subestimados. Para acabar com uma pandemia, é necessária uma vacinação em massa. O problema não será só político, mas também sanitário.”
Sem as vacinas, não será possível reduzir o distanciamento físico nem retomar completamente as atividades. Em seu livro Les Capitalismes à l’Épreuve de la Pandémie (“os capitalismos postos à prova pela pandemia”), o veterano economista Robert Boyer alerta que quanto mais as medidas profiláticas forem prolongadas, mais difícil será restaurar a economia: “Apesar das ajudas em massa, as falências reduzirão a capacidade de produção e de emprego, empobrecerão os mais desfavorecidos, e os jovens dificilmente se integrarão à vida ativa, correm o risco de se ver penalizados de forma duradoura, sem esquecer que a queda dos investimentos hipoteca o crescimento futuro”.
“A tarefa prioritária dos Governos é restaurar até dezembro 2021 a confiança de ficar frente a frente”, diz Boyer por telefone. “A segurança sanitária é uma precondição para o reinício do crescimento. E isso ocorrerá depois de acontecimentos que podem ser dramáticos: mortalidade, incerteza, protestos pela liberdade”, acrescenta. “Uma terceira onda teria efeitos devastadores para a credibilidade dos governantes.”
Não sabemos o que encontraremos no desembarque. Em um dos cenários possíveis, deixaremos lentamente para trás a pandemia, que já matou mais de 1,7 milhão de pessoas e infectou 78 milhões. A economia voltará a andar depois da pior recessão em décadas. As democracias, depois que muitas delas administraram pessimamente a covid-19, resistirão aos ataques das forças autoritárias. Depois de recuar para as fronteiras nacionais quando o vírus ameaçou com mais força, as grandes potências e os grandes blocos econômicos buscarão novas formas de cooperação ― uma globalização com rosto humano ― e, escaldados pelo impacto que um fenômeno natural pode ter no planeta, redobrarão as medidas contra a mudança climática. A derrota de Trump nas eleições americanas de novembro anuncia o início do fim do nacionalismo populista, de sua retórica incendiária e suas teorias da conspiração.
É um cenário possível, mas não o único. No caso oposto, as campanhas de vacinação serão tão caóticas como foram a distribuição de máscaras no início da pandemia e, depois, a organização dos sistemas de rastreamento e teste. Quando os Governos suspenderem as ajudas milionárias para os trabalhadores e os setores mais afetados pela crise, as empresas quebrarão, o desemprego aumentará e as desigualdades dispararão. A volta das fronteiras para frear a expansão do vírus se tornará permanente. Os demagogos saberão aproveitar o descontentamento e darão as respostas que as democracias, transformadas em símbolo de mau governo e polarização, não terão conseguido oferecer. A resposta da China à pandemia estabelecerá as tecnocracias ditatoriais como modelo de eficácia.
Aterrissagem forçada? Ou suave? O ano de 2021 dificilmente reproduzirá ao pé da letra um dos dois cenários mencionados; é mais provável que se mova em uma zona cinzenta na qual nenhuma das duas tendências prevaleça.
Boris Cyrulnik, filho de judeus assassinados nos campos de extermínio nazistas, estuda há décadas o conceito de resiliência, a capacidade de superar a adversidade. É possível, diz ele, que a saída da pandemia signifique uma volta ao business as usual, como se nada tivesse mudado. Ou que nas ruínas da devastação sanitária e econômica surja um salvador, um ditador que agite os ressentimentos. Isso ocorreu em outras épocas de medo e caos. Mas há outra saída, diz o neuropsiquiatra e autor, entre outros, de La Nuit, j’Écrirai des Soleils (“à noite, escreverei sóis”).
“O sprint, a corrida constante, provoca estresse”, diz Cyrulnik. “É preciso redescobrir o prazer da lentidão, porque a lentidão protege, oferece o prazer de viver em paz.”
Mariana Ceratti: Brasil analisa como fortalecer o controle interno para evitar desperdício de recursos públicos
Novo estudo alerta: discrepâncias nos sistemas de controles internos dos estados e municípios podem facilitar irregularidades e piorar a qualidade dos serviços públicos
Nepotismo; evolução de patrimônio incompatível com o salário de um servidor público; fraudes e desvios de recursos dos contribuintes: em tese, tais problemas, bem conhecidos entre os que vivem no Brasil e no resto da América Latina, podem ser evitados, rastreados e/ou punidos com sistemas fortes e eficientes de controles internos.
- Os riscos enfrentados pelo Brasil para combater a fome no mundo
- Mapas mostram a nova cara das secas no Brasil
- Cuidar das florestas para viver delas
Na realidade, mesmo compatíveis com as melhores práticas internacionais, esses sistemas estão sujeitos a deficiências e desigualdades na implementação, o que abre portas para irregularidades, fraudes e desperdício de verbas públicas. Em uma palavra: corrupção. Todos os anos, US$ 1 trilhão é pago em subornos, enquanto mais US$ 2,6 trilhões são roubados; tudo devido à corrupção, de acordo com as Nações Unidas. E em tempos de pandemia, é mais importante do que nunca conter esse flagelo.
No Brasil, por exemplo, um novo relatório do Banco Mundial e do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) encontrou grandes diferenças no nível de implementação dos controles internos nos estados e municípios brasileiros. “Isso implica em desperdício de recursos públicos e, na maioria das vezes, em baixa qualidade dos serviços prestados à população”, explica Susana Amaral, especialista sênior em gerenciamento financeiro do Banco Mundial. O desempenho tende a ser melhor nos estados com maiores receitas e Índices de Desenvolvimento Humano (IDH).
“O estudo demonstra a necessidade de reestruturar o sistema de controle interno não apenas para cumprir o arcabouço legal, que no caso do Brasil é desenvolvido e em grande parte aderente aos padrões internacionais. Mas, sobretudo, para que ele seja fortalecido em todas as áreas e funções desempenhadas, e cumpra seu real objetivo de ajudar os gestores, corrigir e orientar a implementação dos programas de governo de modo a entregar serviços de qualidade aos cidadãos”, comenta Susana.
Para entender melhor os resultados do estudo, é importante saber o que são os sistemas e instituições de controle interno e de que forma elas ajudam os governos a entregar serviços públicos de qualidade à população.
- O controle interno é o conjunto de práticas de supervisão que visam a garantir que os gestores e servidores observem as normas da administração pública e que as políticas públicas sejam cumpridas, sempre prevenindo erros, irregularidades, fraudes e desperdício na aplicação dos recursos dos contribuintes.
- Existem três tipos de controle interno: o preventivo, que busca evitar desvios; o concomitante, que ocorre durante a execução de uma atividade (uma obra de escola ou hospital, por exemplo); e o corretivo, que visa a ressarcir os cofres públicos pelos recursos que foram mal utilizados e punir os agentes públicos.
- As Unidades Centrais de Controle Interno (UCCI) orientam os gestores e os servidores públicos a acompanhar a execução dos programas de governo. Elas identificam falhas e sugerem melhorias, seja nos aspectos de registro financeiro, contábil, etc., ou na preparação de contratos e outros documentos. É muito importante que essas unidades tenham equipe própria, independência financeira e manuais de ética para desempenhar suas atribuições de controle. Além disso, todos os órgãos de governo precisam ter unidades de controle interno para executar as recomendações da UCCI.
- As instituições de controle interno ajudam na prevenção e no combate à corrupção e na melhoria da qualidade do gasto público. Elas também dão apoio ao controle externo, como os tribunais de contas, da União, dos estados ou dos municípios. Esses órgãos fiscalizam e orientam todos os demais órgãos da administração pública nos processos de compra, de contratação de serviços e de terceiros, além de propor soluções para questões técnicas.
Vinte e dois estados e o Distrito Federal enviaram seus dados (faltaram Acre, Maranhão, São Paulo e Sergipe). De acordo com o estudo, apenas oito têm instrumentos para regulamentar conflitos de interesse, o que pode prejudicar o atendimento do interesse coletivo. Esse é o mesmo número de estados que ainda não contam com instrumentos para acompanhar a evolução do patrimônio de seus agentes públicos.
Outra descoberta é a de que nem todas as macrofunções de controle interno — corregedoria, ouvidoria, integridade e auditoria interna — estão estruturadas ou implantadas nos estados participantes da pesquisa. Quase um terço dos órgãos não exercem as funções de transparência e corregedoria, enquanto aproximadamente um quarto dos órgãos não executam a função de promoção da integridade.
O documento também analisa dados de 22 das 26 capitais. A avaliação identificou que 19 têm regulações para vedar a prática de nepotismo. Por outro lado, apenas quatro delas apresentam normas sobre conflitos de interesse e acompanham a evolução patrimonial dos agentes públicos. Além disso, quase metade das capitais não regulamentaram satisfatoriamente a Lei Anticorrupção.
Apesar de mais de 95% das UCCIs das capitais estarem inseridas no primeiro escalão da administração, aproximadamente 20% delas não têm acesso irrestrito às informações e aos documentos necessários para a realização das atividades.
Finalmente, em apenas um quinto das capitais a UCCI participa do planejamento de todas as auditorias executadas. E quase um terço das UCCIs não instauram investigações para apurar responsabilidades em caso de fraudes ou desvios.
O diagnóstico foi apresentado para os representantes dos órgãos em 16 de dezembro. Os dados por estado e capital serão enviados separadamente a cada órgão para orientar a implementação de melhorias. Em um país que chegou ao 106º lugar (de 180 países) no Índice de Percepção da Corrupção 2019 (IPC-2019), divulgado no começo de 2020 pela Transparência Internacional, essas e outras mudanças serão fundamentais para melhorar a qualidade dos serviços públicos e ajudar a aumentar a confiança dos brasileiros em suas instituições.
*Mariana Kaipper Ceratti é comunicadora online do Banco Mundial no Brasil
El País: Prisão de Marcelo Crivella fecha ano infernal da política no Rio de Janeiro
Além da detenção domiciliar do prefeito, Estado teve governador sofrendo impeachment por acusações de corrupção, a exemplo dos mandatários anteriores. Enquanto isso, covid-19 avança e lota hospitais
2020 vem sendo um ano difícil para o Brasil, entre uma pandemia que já deixou mais de 188.000 mortos e uma crise econômica que poderá levar milhões de pessoas ao desemprego e à pobreza. No Rio de Janeiro, entretanto, o ano ganhou um contorno extra de agonia: uma crise política cada vez mais profunda, que culminou nesta terça-feira com a prisão do prefeito da capital, Marcelo Crivella (Republicanos), pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, acusado de liderar uma organização criminosa dentro da prefeitura para praticar corrupção ―no fim da noite, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, concedeu prisão domiciliar ao prefeito, com o uso de tornozeleira eletrônica. De acordo com o magistrado, Crivella não apresenta periculosidade o bastante para permanecer preso em uma penitenciária.
Além de preso, Crivella também foi afastado do cargo. O Rio terá como prefeito nos últimos nove dias deste ano o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Jorge Felippe (DEM), até a posse em 1º de janeiro de Eduardo Paes, filiado ao mesmo partido, vencedor da última eleição municipal ao derrotar o próprio Crivella. Via rede social, Paes disse que irá manter o trabalho de transição para o cargo. O episódio da prisão tem pitadas de ironia. No último debate na TV antes do segundo turno da eleição, Crivella afirmou repetidas vezes que o adversário iria ser preso.
A prisão ocorre depois de o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), ser afastado do cargo em agosto e ter seu impeachment aprovado pelo parlamento fluminense devido a diversas denúncias envolvendo fraudes em contratos na área da saúde, principalmente os emergenciais para a compra de equipamentos e a construção e operação dos hospitais de campanha para tratamento da covid-19.
O histórico recente dos governadores do Rio, aliás, é trágico. Os dois antecessores de Witzel estão presos devido às investigações do braço da Operação Lava Jato no Estado. O ex-governador Sérgio Cabral foi preso em 2016, após deixar o cargo, e está no Complexo Penitenciário de Bangu. Já o ex-governador Luiz Fernando Pezão, preso em 2018, está em prisão domiciliar. O casal Anthony Garotinho e Rosinha Matheus, que governou o Estado antes de Cabral, também já foi preso. Hoje os dois estão em liberdade, embora processos que motivaram as prisões ainda tramitem no Judiciário. Garotinho chegou a ser preso cinco vezes. Rosinha, três. Houve ainda a prisão do ex-governador Moreira Franco em 2019, quando era ministro do governo Michel Temer. Moreira Franco ficou preso por quatro dias devido à Lava Jato.
Como se não bastasse o caos na política, o Rio também enfrenta uma taxa de ocupação de mais de 90% dos leitos de UTI da rede pública em plena epidemia, poucas semanas após Crivella ―ainda durante a campanha em busca da reeleição à prefeitura― autorizar a volta de banhistas às praias, aumentar a flexibilização para o uso de bares e restaurantes e permitir a prática de esportes em espaços públicos, além da volta às aulas nas redes pública e privada. Desde o início da pandemia da covid-19, o Estado do Rio de Janeiro já acumula mais de 24.000 mortos.
QG da Propina
Como motivo da prisão, o Ministério Público do Rio de Janeiro acusa Crivella e mais seis pessoas de praticar os crimes de corrupção, peculato, fraudes a licitações e lavagem de dinheiro. Os promotores também teriam identificado uma movimentação atípica de quase 6 bilhões de reais na Igreja Universal do Reino de Deus entre maio de 2018 e abril de 2019, de acordo com o portal UOL. Ao chegar à delegacia para ser preso, o prefeito declarou ser alvo de “perseguição política” e que espera por “justiça”. “Fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro”, disse.
A detenção preventiva do grupo tem relação com o chamado QG da Propina, um esquema supostamente operado por Rafael Alves, amigo de Crivella que despachava na prefeitura sem ter cargo oficial. Também preso nesta terça-feira, Rafael é irmão de Marcelo Alves, que presidiu a Riotur, a empresa municipal de turismo. Rafael operava nas dependências da Prefeitura do Rio a partir da indicação de postos-chave, como no Tesouro Municipal e de acordo com o MP , negociava propinas com empresários que buscavam pagamentos devidos ou manutenção de contratos. Além dos sete presos, 26 pessoas foram denunciadas no esquema. Segundo o Ministério Público do Estado, tratava-se de “uma bem-estruturada e complexa organização criminosa liderada por Crivella” que atuava desde 2017, ano em que iniciou o seu mandato.
Como mostrou reportagem do EL PAÍS em setembro, em um vídeo gravado durante a busca e apreensão na casa dele, em março, Crivella supostamente liga para um dos celulares de Rafael Alves para avisar de uma busca na Riotur e é atendido pelo delegado da Polícia Civil responsável pela ação. Ao perceber que não se tratava de Alves ao telefone, Crivella encerra a chamada. A desembargadora Rosa Helena Guita, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que deu a ordem de busca na ocasião e determinou a prisão do prefeito nesta terça, disse que na época que “a subserviência de Crivella a Rafael Alves é assustadora”.
O prefeito passou a ser investigado após a delação premiada do doleiro Sérgio Mizrahy, em 2018, no âmbito da Operação Lava Jato. Em setembro, no pedido para busca e apreensão na casa de Crivella, os promotores do MP diziam que a organização criminosa praticava “toda a sorte de crimes contra a administração” e que a sua “nefasta atuação se espalhou por todo o tecido da administração municipal do Rio de Janeiro, consistindo, o seu modus operandi, em um verdadeiro mecanismo predatório de governo, em que todas as facetas da administração são enxergadas como oportunidades para a consumação de novas negociatas espúrias”.
Agarrado a Bolsonaro
Durante sua gestão, Crivella foi alvo de três votações de impeachment na Câmara dos Vereadores e conseguiu se livrar de todos. Desaprovado por cerca de 70% dos cariocas, perdeu a reeleição para o seu antecessor. No segundo turno, a maioria dos concorrentes do primeiro turno declararam apoio a Paes contra Crivella, incluindo os partidos de esquerda PT e PSOL.
Com uma administração criticada em diversas áreas, o pastor buscou se agarrar ao seu eleitorado mais fiel, os evangélicos de denominações neopentecostais, e à figura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O Rio é o berço político do presidente e de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, ambos do Republicanos, mesma legenda de Crivella.
Durante a campanha, Crivella usou diversas imagens de arquivo junto a Bolsonaro na propaganda política, mas o presidente nunca chegou a gravar para o horário eleitoral. Cerca de duas semanas antes do primeiro turno, em sua live semanal, o presidente declarou apoio a Crivella, liberando os seus seguidores a votar em Paes. “O outro [Paes], eu não quero tecer críticas. É um bom administrador, mas eu fico aqui com o Crivella. Se você não quiser votar nele, fique tranquilo, não vamos criar polêmica e brigar entre nós porque eu respeito os seus candidatos também”, afirmou Bolsonaro.
Nesta terça, em conversa com jornalistas, o vice-presidente Hamilton Mourão negou que a prisão de Crivella respingue no governo. “Isso aí é questão policial, segue o baile, investigação e acabou”, disse ele “Para o governo não tem impacto nenhum. Tem nada a ver com a gente. Sem impacto, zero impacto”, afirmou. Bolsonaro não comentou o episódio ao longo desta terça-feira.
Problemas pela frente
À frente da prefeitura, Paes terá que encarar diversos problemas. Um deles é o déficit fiscal, estimado por sua equipe em R$ 10 bilhões. Outro é uma situação caótica de enfrentamento à pandemia na cidade. O Rio é a capital brasileira com a maior taxa de letalidade em relação ao total de casos de covid-19. Além da superlotação nas UTIs e do sucateamento do sistema de saúde, praias, igrejas e bares seguem liberados.
Para evitar a corrupção dentro da administração, o futuro prefeito anunciou no início de dezembro a criação da Secretaria de Governo e Integridade Pública, a ser comandada pelo deputado federal Marcelo Calero (Cidadania). “Todos nós na vida pública temos que responder pelos nossos atos. Aqueles que forem designados por mim terão suas vidas abertas, não a sua vida pessoal, mas terão a sua dimensão pública permanentemente acompanhada”, disse Paes ao anunciar a pasta.
A nova secretaria pretende implementar mecanismos de controle, transparência e sanção entre os integrantes do governo e nas compras públicas e licitações, além de adotar um novo sistema de gestão para o pagamento de dívidas.
Eduardo Paes foi muito ligado ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral, preso na Operação Lava Jato devido a uma lista extensa de crimes de corrupção relacionados a contratos de fornecedores com o governo do Estado. Paes não é réu em nenhum inquérito criminal da Lava Jato, mas foi citado em delação da OAS por ter supostamente recebido caixa 2 na campanha eleitoral municipal de 2012. Existe também um processo que corre na Justiça Eleitoral por suposto recebimento de recursos da Odebrecht, também em campanha eleitoral.
Leia mais:
- Marcelo Crivella, prefeito do Rio, é preso por suspeita de chefiar esquema de propina
- Eduardo Paes derrota Crivella e será mais uma vez o prefeito do Rio de Janeiro
- Com eleição em pleno atoleiro político, Rio assiste a uma disputa de prontuários policiais