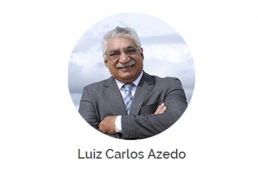Economia
Luiz Carlos Azedo: Acabou a blindagem
Maia liderou a rebelião da base governista, com o líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE), no gabinete de Meirelles, fingindo que negociava
O forte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não é a paixão ideológica, é o cálculo político. Foi esse atributo que levou o ex-senador Jorge Bornhausen a ungi-lo muito jovem seu sucessor na presidência do partido, anos atrás, numa tentativa de renovação precoce da legenda, que acabou voltando ao controle do veterano senador Agripino Maia (DEM-RN). Ontem, friamente, após articular a aprovação da renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União, sem as necessárias contrapartidas, Maia liquidou com a blindagem da equipe econômica do ministro Henrique Meirelles: “Não dá para o pessoal da Fazenda, do mercado financeiro, que tem um coração que não bate com a emoção, ganhar tudo”, disparou.
Foram 296 votos a favor, 12 contrários e três abstenções. A proposta aprovada aumenta em até 20 anos o prazo para o pagamento de dívidas de estados e do Distrito Federal com a União. Aos estados que enfrentam crises financeiras mais graves, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o texto permite que o pagamento das dívidas seja suspenso por até três anos. Sem as contrapartidas defendidas por Meirelles: o aumento da contribuição previdenciária de servidores estaduais, a proibição da criação de cargos e o congelamento de salários.
Foi para o espaço o acordo duramente negociado pelo líder do governo, Aloysio Nunes (PSDB-SP), e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no Senado. Como o acordo resultou numa alteração do projeto que havia sido aprovado pelos deputados, foi preciso essa nova votação na Câmara. Maia liderou a rebelião da base governista, com o líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE), no gabinete de Meirelles, fingindo que negociava uma saída boa para a equipe econômica. “Os técnicos da Fazenda sempre querem mais, sempre querem um arrocho maior. Só que a crise que o país vive não foi vista nem na Primeira Guerra Mundial”, justificou Maia.
Em plenário, houve uma espécie de casamento do cachorro com a porca: o relator do projeto, Espiridião Amin (PP-SC), fez um acordo com o líder do PT, Afonso Florence (BA), que liderava a obstrução, para garantir a aprovação do texto sem as contrapartidas. Depois da votação, o líder André Moura, que andava sumido do plenário e enrolava Meirelles, apareceu para minimizar a situação: “Eu estava no Ministério da Fazenda negociando. Por isso, não estive na discussão da proposta. Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, não sou onipresente”, justificou. Moura argumentou que o projeto não significa uma derrota do Ministério da Fazenda, mas será para os estados se eles não aproveitarem a renegociação para equilibrar as contas. Ou seja, lavou as mãos.
Reeleição
Há dois aspectos importantes a serem considerados. O primeiro é o ambiente na Câmara, cada vez mais pantanoso, por causa da Operação Lava-Jato. Há uma espécie de salve-se quem puder na base governista, desde a saída do ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima, situação agravada pelo fato de o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, ter sido bastante chamuscado pela delação premiada do ex-diretor da Odebrecht Cláudio Melo Filho. O segundo é a recessão econômica e a crise nos estados, que fazem aumentar a pressão dos governadores sobre os deputados federais, que disputarão eleições em 2018. São forças gravitacionais, digamos, que vão influenciar fortemente o comportamento das bancadas daqui para frente, contra as quais o Palácio do Planalto pouco pode fazer em matéria de exigir sacrifícios.
Outro aspecto relevante é o comportamento do próprio Maia, que pleiteia a reeleição e rearticula as forças que o apoiam na disputa passada, contra Rogério Rosso (PSD-DF). Maia fez aliança com o PT, com o PCdoB e com a antiga oposição (PSDB, PSB e PPS) contra os partidos do chamado Centrão, o bloco informal constituído por 13 legendas da base aliada do governo Michel Temer, liderado por PP, PSD, PR, SD e PTB. A disputa ameaça cindir a ampla base do governo na Câmara e já impediu que o novo ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy (PSDB-BA), fosse nomeado para o cargo.
“Queremos ver se fazemos uma confluência máxima entre os partidos do grupo para não dar trombada”, disse o líder do PTB, Jovair Arantes (GO), que pretende disputar a Presidência da Câmara. Também é candidato o líder do PSD, Rogério Rosso (DF), que já disputou a vaga para o mandato-tampão neste ano, mas foi derrotado por Maia. A situação do presidente Temer na contenda é delicada, pois sua interferência pode implodir a base. O resultado da votação de hoje foi um grito de independência de Maia. Pode ficar somente nisso, mas pode ter outros significados, à medida que a crise ética avance em direção ao Palácio do Planalto. O presidente da Câmara é o sucessor legal de Temer nas interinidades.
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br
Levantamento mostra que a crise deixada pelo governo do PT tirou R$ 1 trilhão da economia
Um levantamento realizado pela gestora de recursos Rio Bravo Investimentos divulgado na edição deste domingo do jornal “O Estado de S. Paulo” (veja abaixo) mostra que a crise de crédito deixado pelo governo do PT tirou R$ 1 trilhão da economia e aprofundou a recessão econômica no Brasil.
Crise de crédito tirou R$ 1 trilhão da economia e aprofunda a recessão
Com empresas e pessoas altamente endividadas, sem propensão a novos financiamentos, e bancos receosos de verem seus níveis de inadimplência crescer, volume de recursos que gira na economia é hoje equivalente aos níveis de 2012
Alexa Salomão – O Estado de S. Paulo
Nos últimos 12 meses, cerca de R$ 1 trilhão deixou de circular na economia brasileira. Essa montanha de dinheiro equivale aos créditos bancários que foram sendo pagos pelos devedores e não retornaram ao mercado na forma de novos empréstimos, bem como à expansão natural do mercado, que não ocorreu.
Isso significa uma queda de 25% em relação ao que deveria estar circulando se a economia estivesse operando em níveis “normais”. O volume de crédito bancário que gira na economia hoje é equivalente ao disponível em 2012. Para os especialistas, isso mostra que o Brasil vive uma “crise de crédito” e não sairá da recessão se esse nó não for desatado.
O levantamento foi feito pela gestora de recursos Rio Bravo Investimentos, com base nas variações do estoque de crédito monitorado e divulgado pelo Banco Central. O curioso é saber o que motivou o levantamento. O economista da Rio Bravo, Evandro Buccini, ficou incomodado porque os indicadores de confiança na economia permaneciam otimistas, mas os índices sobre a situação atual não melhoravam. E pior: a recessão se aprofundava.
“Fomos checar as componentes do nosso modelo, que traça cenários, e nos deparamos com essa queda no crédito. Está explicado: sem crédito, sem dinheiro, a economia não vai mesmo reagir”, diz. Segundo Buccini, a partir desse dado, fica mais claro que, apesar de União, Estados e municípios estarem com sérios problemas nas contas públicas, que precisam ser sanados, o fiscal não é cerne da recessão.
O que vem corroendo a economia é o que a literatura econômica chama de “credit crunch”, crise de crédito. No caso do Brasil, originada e realimentada pela explosão das dívidas. A economista Zeina Latif, da XP investimentos, há meses alertava para essa questão e lembra que o enrosco tem duas pontas. De um lado estão devedores enforcados.
Cerca de 22% do orçamento familiar está comprometido com o pagamento de juros de dívidas e praticamente metade das empresas tem geração de caixa inferior às suas despesas financeiras. Ou seja: os tomadores de crédito precisam digerir altas concentrações de dívidas. De outro lado estão os bancos, que já renegociaram débitos, ainda temem o calote e não querem – nem podem – correr o risco de emprestar mais em meio a uma recessão sem prazo para terminar.
Trata-se exatamente do que parece ser: um círculo vicioso, que só vai se encerrar com o pagamento das dívidas. Quando Zeina falou na primeira reunião do Conselhão, em Brasília, que a “lua de mel” com o mercado estava em risco, e o governo precisava ser mais ágil para reanimar a economia, tratava, em parte, dessa questão.
“Apesar de o fiscal exigir atenção, também temos uma crise de crédito que pode até evoluir para risco de insolvência (termo financeiro que significa risco de os devedores darem calote)”, diz ela. O minipacote anunciado na semana passada, se for efetivado, pode dar alívio, mas está longe de resolver o problema, diz Zeina.
Tempo
Monica de Bolle, pesquisadora do Instituto Peterson de Economia Internacional, em Washington, dedicou um recente artigo no Estado sobre o tema e reforça: “O diagnóstico sobre as causas da recessão estava errado: o Brasil sofre com uma crise de crédito. Todos estão muito endividados: famílias, empresas, municípios, Estados e, inclusive, a União.”
Ela lembra que o tempo de digestão de altas concentrações de dívidas pode ser longo e penoso. O que acelera o alívio é uma eventual intervenção dos governos. Guardando-se as devidas proporções, Monica lembra que os Estados Unidos viveram um “credit crunch” com o estouro da bolha imobiliária, em 2008. A diferença é que lá os bancos foram arrastados, o que não ocorreu aqui, pelo menos até agora.
Para sair dela, o governo americano gastou US$ 850 bilhões para socorrer bancos e empresas, mais US$ 4 trilhões com o “quantitative easing”, programa de aquisição de títulos soberanos lastreados em hipotecas, e derrubou o juro a 0,25% – até a semana passada. A economia americana agora entra nos eixos – oito anos e US$ 5 trilhões depois. “Sem chance de o Brasil, neste momento, fazer algo minimamente parecido”, diz Mônica.
Fonte: pps.org.br
Luiz Carlos Azedo: A crise na vida banal
A crise fiscal não é fruto somente da ampliação dos gastos sociais em consequência da Constituição de 1988, como muitos afirmam
Um dos efeitos mais deletérios da crise ética são os seus efeitos sobre a vida banal. Nosso “capitalismo de laços”, na sua face mais abjeta, foi desnudado pela Operação Lava-Jato: um pacto corrupto entre a elite política e as grandes empreiteiras do país para saquear os cofres públicos. Mas o fenômeno se reproduz também em relação às políticas públicas capturadas por grandes interesses privados na saúde, na educação, na segurança pública e na mobilidade urbana — os setores dos quais depende o cotidiano dos cidadãos.
É nesse contexto que devemos examinar a aprovação da PEC do teto dos gastos sociais. A crise fiscal não é fruto somente da ampliação dos gastos sociais em consequência da Constituição de 1988, como muitos afirmam. Além dos escândalos investigados pela Lava-Jato, há que se examinar a qualidade desses gastos. Até que ponto se consomem mais recursos com a própria burocracia e com o superfaturamento de insumos e serviços, para favorecer grandes grupos privados, em detrimento do atendimento direto ao cidadão?
Ao contrário do que muitos afirmam, o teto dos gastos não significará a redução automática dos recursos da saúde e da educação, essa é uma narrativa falsa, pois a lei limitará os gastos em geral e imporá escolhas mais racionais, ou seja, uma disputa política no debate do Orçamento da União. A crise de financiamento do Estado de bem-estar social é mundial, em razão das aceleradas mudanças na estrutura produtiva e da globalização, e gera um grande desconforto social. No Brasil, porém, esse desconforto foi exacerbado pela recessão econômica e pela crise ética.
As políticas públicas foram capturadas pelos grandes interesses econômicos e a chamada vida banal foi ignorada pelo poder público, principalmente nas periferias das grandes cidades. Essa é a verdade mais dolorosa. A mais forte reação ao necessário ajuste fiscal parte das corporações, embora não se possa ignorar a insatisfação dos setores verdadeiramente prejudicados pela péssima qualidade dos serviços.
A oposição atribui ao presidente Temer a responsabilidade pela recessão, como se nada tivesse a ver, por exemplo, com o corte de R$ 69 bilhões no Orçamento de 2015, no governo Dilma Rousseff. Os maiores ajustes foram efetuados nos ministérios das Cidades (R$ 17,2 bilhões), da Saúde (R$ 1,7 bilhão), da Educação (R$ 9,4 bilhões) e dos Transportes (R$ 5,7 bilhões). Ou seja, o maior impacto foi na chamada vida banal.
O outro lado da moeda da “focalização” dos gastos sociais nos mais pobres, que se traduziu durante os governos Lula e Dilma na transferência direta de renda para aproximadamente 13 milhões de famílias, foi o sucateamento das políticas “universalistas”. Saúde, educação, transportes e segurança pública ficaram em segundo plano; a prioridade foi expandir o consumo via endividamento do Estado e das famílias. Resultado: a vida melhorou temporariamente dentro de casa, mas se degradou da porta para fora. As eleições municipais foram eloquentes quanto a isso.
Há que se rediscutir a relação entre o SUS e os estabelecimentos privados, a hegemonia do lobby rodoviário nas políticas de transportes, o impacto da bolha imobiliária na qualidade de vida das cidades e a expansão do ensino em função da acumulação privada e não da necessidade de formação de mão de obra. No andar de baixo, traficantes e milícias controlam a vida banal, enquanto as gangues de colarinho branco cuidam do andar de cima. Com a recessão e o desemprego, a pressão social sobre os serviços e a violência aumentaram. A crise nas administrações locais agrava a situação: são elas que arcam com a maior parte dessas demandas sociais.
Vandalismo
Em circunstâncias normais, haveria um grande debate na sociedade sobre a necessidade de reinventar o Estado brasileiro, ajustando-o à realidade da economia, e de trocar privilégios por igualdade de oportunidades, com oferta de serviços essenciais de qualidade. A recessão e a crise ética, porém, turvam a discussão. O conflito em torno da distribuição dos recursos públicos é mascarado e instrumentalizado. As cenas de vandalismo ocorridas ontem em Brasília são um bom exemplo. De um lado, o reflexo inequívoco da insatisfação social; de outro, a radicalização política que a crise ética favorece.
O mesmo fenômeno tende a se reproduzir no debate sobre a Previdência. A necessidade da reforma é inequívoca, para sobrevivência do sistema, o que exige acabar com os privilégios. Mas a mudança significa também lançar aos ombros dos segurados os custos de todos os desatinos e falcatruas, o que inevitavelmente gera revolta. Encontrar um ponto de equilíbrio não é uma tarefa fácil, ainda mais num cenário politicamente deteriorado como o atual, no qual a elite política está mais preocupada com a própria sobrevivência e impunidade.
O ajuste fiscal e a reforma da Previdência são agendas estruturantes. O presidente Temer dispõe ainda de base parlamentar para aprovar essas reformas, mas a pressão social tende a aumentar e, com ela, a instabilidade política. Está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, nesse cenário, manter o equilíbrio institucional. Para isso, porém, precisa começar a julgar os processos da Lava-Jato.
Luiz Carlos Azedo: Jornalista, colunista do Correio Braziliense e Diretor Geral FAP.
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br
Luiz Carlos Azedo: O que fazer?
O país andará na corda bamba (a pinguela já era) até as eleições de 2018, com todos os grandes partidos sangrando, inclusive o PSDB
O país vive a maior crise política de sua história republicana, com a diferença de que ainda não ocorreu uma revolução, como a de 1930, ou um golpe de Estado, como em 1964. Estamos enfrentando a situação num ambiente democrático, embora uma parcela dos protagonistas da crise insistam na narrativa do golpe parlamentar para fugir à própria responsabilidade sobre o que está acontecendo. Não foi de uma hora para outra, mas a delação premiada do executivo da Odebrecht Cláudio Mello Filho, cujo teor vazou no fim de semana, desnudou um modelo de acumulação de capital e reprodução política que atenta contra o Estado de direito democrático. Esse é o xis da questão.
Uma só das delações — de 77 que serão feitas, as mais importantes de Emílio e Marcelo Odebrecht, os donos da maior empreiteira do país, não vieram à luz — sistematizou o funcionamento do nosso “capitalismo de laços”, com apoio da elite política do país, para promover a maior transferência de renda possível do Estado para empresas que atuavam nos setores mais dinâmicos da nossa economia urbana — complexo petroquímico, energia, indústria automotiva e construção pesada. Deixa claro também o mecanismo utilizado para emendar a Constituição e modificar as leis com objetivo de favorecer e garantir privilégios a essas empresas: a propina para os políticos, que garantiria a reprodução dos mandatos e o enriquecimento pessoal. Outro mecanismo de transferência de renda do Estado para os interesses privados, no caso os representantes de velhas e novas oligarquias. Segundo o relato de Cláudio Mello, 52 políticos receberam cerca de R$ 90 milhões em pagamentos de propinas, caixa dois e doações legais entre 2006 e 2014. É muita grana.
No vértice desse sistema de poder estava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o país de 2003 a 2010, cujo partido foi protagonista de uma espécie de divisão de trabalho entre as empreiteiras e os políticos, estabelecendo as regras do jogo. R$ 17 milhões daquele montante foram pagos a parlamentares em troca da aprovação de matérias que favoreceram a Odebrecht, mas há que se considerar as outras empreiteiras, montadoras de automóveis e empresas periféricas que atuavam no processo, inclusive do agronegócio. Seria má-fé ou ingenuidade acreditar que tudo começou no governo Lula, mas com certeza foi nele que o esquema atingiu a quase “perfeição”, acabando com o cada um por si e Deus por todos no Congresso. Um grupo restrito de políticos aliados, com controle da pauta de votações e das maiores bancadas, comandava a farra.
Também somente a ingenuidade ou a má-fé exclui a ex-presidente Dilma Rousseff, com sua caneta cheia de tinta, do processo. O modus operandi político após a saída de Lula não funcionaria sem sua omissão; além disso, foi desse esquema que veio o dinheiro de suas campanhas milionárias de 2010 e 2014. Dilma não foi citada na delação do executivo, mas nas investigações sobre sua campanha eleitoral já há elementos que comprovam a vinculação do esquema com seu projeto político, haja vista as investigações sobre a atuação de João Santana e da mulher, Mônica Moura, nas eleições. As denúncias contra o presidente Michel Temer e integrantes de seu estado-maior, de parte de Cláudio Mello Filho, apenas corroboram que o esquema supostamente continuou funcionando, mesmo depois do governo Lula.
A propósito, vale destacar que a narrativa nacionalista da defesa do petróleo e da engenharia nacional, utilizada para tentar barrar a Operação Lava-Jato, era parte integrante de um projeto político que, ideologicamente, apostou no “capitalismo de Estado” como via de desenvolvimento e projeção política mundial. Um ambiente internacional favorável, do ponto de vista econômico, e as relações políticas do PT no plano internacional serviram para azeitar negócios no exterior, de onde parte da propina também saiu, graças a financiamentos do BNDES e relações políticas com regimes autoritários ou corruptos. Entre 2003 e 2015, Lula realizou 150 viagens pela América Latina, quase sempre acompanhado um diretor da Odebrecht, hoje um dos delatores do esquema: Alexandrino Alencar. Mantinha relações incestuosas com a Odebrecht e outras empreiteiras.
O colapso
O que fazer diante de tudo isso? Esse é o dilema que o país vive. A cassação do mandato de Dilma Rousseff pelo Congresso não arrefeceu a crise econômica, muito menos zerou a crise ética. Foi a saída encontrada pelo establishment e a oposição para salvar o país da completa bancarrota. As novas denúncias e as manobras para encerrar a Operação Lava-Jato, que fracassaram, desgastaram muito o Palácio do Planalto. Além disso, a crise econômica não arrefeceu, porque se trata do colapso de um modelo de acumulação perverso, tecido ao longo de décadas, sob o olhar cúmplice de uma alta burocracia federal acomodada em seus privilégios. Temer não está livre de ter o mandato cassado no julgamento da campanha de Dilma, mas isso não resolveria a crise, pois haveria uma eleição indireta por um Congresso desmoralizado.
A Constituição não permite a antecipação das eleições nem a convocação de uma Constituinte. A fleuma de Temer e sua base política é que garantem a sobrevivência do governo, tão impopular quanto o de Dilma. O país andará na corda bamba (a pinguela já era) até as eleições de 2018, com todos os grandes partidos sangrando, inclusive o PSDB. Que o seja, para garantir a democracia.
*Luiz Carlos Azedo: Jornalista, colunista do Correio Braziliense e Diretor Geral FAP.
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br
Coreia do Sul quer tirar de circulação todas as moedas até 2020
Passe suas moedas para cá. Essa é a mensagem que o banco central da Coreia do Sul está enviando aos cidadãos de uma das nações mais tecnologicamente avançadas e integradas do planeta, no caminho para uma "sociedade sem dinheiro".
O primeiro passo é eliminar, até 2020, todo o metal que está em circulação.
O Banco da Coreia anunciou na semana passada que acelerará os esforços para reduzir a circulação de moedas, entre as quais as de maior denominação têm valor equivalente a menos de US$ 0,50.
Como parte do plano, a instituição quer que os consumidores depositem os trocados que carregam nos bolsos nos onipresentes cartões "T-Money" usados pelos sul-coreanos —passes eletrônicos de viagem que podem ser usados para pagar metrô, táxis e até compras nas 30 mil lojas de conveniência no país.
As propostas são só o passo mais recente para um país que está na vanguarda quanto a aproveitar a tecnologia. As compras on-line são a norma, assim como sistemas de pagamento por celular, entre os jovens da geração milênio sul-coreana.
A Coreia do Sul é um dos países menos dependentes de dinheiro em espécie e tem um dos mais elevados índices de uso de cartões de crédito —cerca de 1,9 cartão por cidadão. Só cerca de 20% dos pagamentos são feitos com dinheiro em espécie, segundo o banco central do país.
Embora a conveniência seja o principal motivo para o plano do banco central, há outro motivos envolvidos. O Banco da Coreia gasta mais de US$ 40 milhões ao ano para cunhar moedas. Também há custos para as instituições financeiras que as recebem, gerem e fazem circular.
"Quando produzimos uma moeda de 10 won, ela custa mais de 10 won", disse Lee Hyo-chan, diretor do Instituto de Crédito e Finanças de Seul, acrescentando que, "se a Coreia do Sul abandonar o uso de moedas, será bom tanto para os compradores quanto para os vendedores, que não terão mais de manter moedas para fazer troco".
Também se espera que a transição rumo aos pagamentos eletrônicos ajudará a reduzir as dimensões da economia informal, engordará os cofres do Estado e estimulará o crescimento econômico.
"Se abandonarmos o dinheiro em espécie, podemos obter 1,2% de crescimento econômico adicional por ano. Uma sociedade que não usa dinheiro pode ajudar a enfrentar o crescimento lento, a inflação baixa e o ambiente de baixas taxas de juros", disse Kim Seong-hoon, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica da Coreia.
Mas, para Lee, a transição pode requerer uma mudança mais ampla de hábitos da parte de uma população em envelhecimento.
"Se a Coreia do Sul quer funcionar sem dinheiro em papel, em longo prazo, primeiro as pessoas terão de mudar de ideia sobre o uso de dinheiro em ambientes tradicionais tais como mercados, igrejas ou eventos familiares, como casamentos", ele disse.
Tradução de PAULO MIGLIACCI
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1838268-coreia-do-sul-quer-tirar-de-circulacao-todas-as-moedas-ate-2020.shtml
Luiz Carlos Azedo: Rio, 40 graus
Agora, a Operação Calicute investiga a conexão entre o escândalo da Petrobras e a política do Rio de Janeiro
Com dois ex-governadores na cadeia, Anthony Garotinho (PR) e Sérgio Cabral Filho (PMDB), em menos de 48 horas, e um governador que ninguém sabe como terminará seu mandato, Luiz Fernando Pezão (PMDB), seja em decorrência da Operação Lava-Jato (ele também é investigado, mas tem foro privilegiado), seja em razão do colapso financeiro, o Rio de Janeiro chegou ao fundo do poço. É o fim melancólico de um projeto concebido para ser a sede do capitalismo de Estado no Brasil, no auge do sonho de Brasil potência do governo Geisel. E da tentativa de revivê-lo, durante os governos Lula e Dilma, para se contrapor e neutralizar o peso econômico e político de São Paulo.
Sim, porque esse foi o objetivo da fusão da antiga Guanabara, o centro nervoso da política nacional, após a inauguração de Brasília, com o antigo Estado do Rio de Janeiro, cuja política gravitava de Niterói a Campos, enquanto a economia girava no eixo Duque de Caxias-Volta Redonda. De um lado, o mandachuva era o governador Chagas Freitas, do MDB, aliado do regime disfarçado de oposição; do outro lado da baía, Raimundo Padilha, da Arena, remanescente do Integralismo. A decisão foi autocrática, com a nomeação de um interventor para comandar a fusão, o brigadeiro Faria Lima, mas o desenho da estrutura do novo estado foi traçado por uma Constituinte eleita em 1974.
A memória política dos dois estados cultuava dois governadores: o udenista Carlos Lacerda (1914-1977), na capital, que fora cassado mas ainda estava vivo, e o petebista Roberto da Silveira (1923-1961), no antigo Estado do Rio, que morrera num desastre de helicóptero. O projeto de transformação do novo estado numa potência econômica, a partir do setor produtivo estatal, era ancorado nas sedes das principais empresas estatais: a Petrobras e a Vale do Rio Doce, bem como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Nacional de Habitação (BNH), na capital, além da Refinaria Duque de Caxias, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Brasileira de Álcalis e a Companhia Siderúrgica Nacional, no interior.
O primeiro sinal de que isso daria errado foi até prosaico. A larga Avenida Norte-Sul, dos Arcos da Lapa à Rua da Carioca, fora projetada para fazer a ligação rápida entre as sedes das estatais, tanto na Avenida Chile como na Presidente Vargas, e a Avenida Perimetral. Nada que não pudesse ser feito, se o tradicional Bar Luiz não estivesse no caminho. Artistas e intelectuais boêmios do Rio de Janeiro resolveram fazer uma campanha para salvar o Bar Luiz e tombar a Rua da Carioca. A nova avenida morreu ali.
Como Plano Nacional de Desenvolvimento de Geisel, a fusão também foi um tremendo desastre na política. Vitorioso em 1974, o MDB também fez bigode, cabelo e barba nas eleições de 1978, o que levou Faria Lima a uma composição com os políticos mais adesistas e fisiológicos dos dois estados. Resultado: na Constituinte, as antigas estruturas dos estados foram superpostas e ampliadas: a administração da antiga Guanabara foi servir à Prefeitura do Rio; a do antigo estado do Rio, ampliada para atender as necessidades do novo estado. O novo estado já nasceu inchado: de um lado, pelos apadrinhados de Chagas; de outro, por apaniguados de Padilha; e, finalmente, pela turma que chegou com Faria Lima. Todos efetivados pela Constituinte. Depois, vieram os governos de Leonel Brizola (PDT), em 1982, e de Moreira Franco (PMDB), em 1986, aos quais se seguiu a Constituinte de 1988. Mais uma leva de funcionários foi efetivada.
Calicute
Seguiram-se o segundo governo de Brizola, que renunciou ao mandato, e os governos Nilo Batista, Marcelo Alencar, Anthony Garotinho, Benedita da Silva e Rosinha Garotinho, um nascendo praticamente dentro do outro, até a eleição de Sérgio Cabral, em 2006. Seu governo foi dos mais exitosos, por causa da economia do petróleo e da política de segurança pública. Carioca da gema, Cabral parecia redimir seus conterrâneos da frustração com a fusão, até que entrou no oba-oba do petróleo da camada pré-sal e aceitou a mudança do regime de concessão para o de partilha. Também embarcou nos delírios de Eike Batista e apostou as fichas no novo Maracanã da Copa do Mundo e nas obras das Olimpíadas. Além disso, não se contentou com o apoio da velha elite carioca – resolveu fazer parte dela.
A mudança do regime de concessão para regime de partilha seria mais do que suficiente para uma ruptura entre Cabral e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como fora a ruptura de Moreira Franco com José Sarney por causa do polo petroquímico, cuja planta foi transferida do Rio para Camaçari (BA). Por que não houve a ruptura? Ora, porque essa aliança – que possibilitou a reeleição de Lula e Cabral e, depois, a eleição e reeleição de Dilma Rousseff e Pezão – estava muito bem azeitada pelas empreiteiras, e contou com apoio maciço da massa de servidores federais e estaduais e funcionários das estatais que hoje pagam essa conta. Agora, a Operação Calicute, desfechada ontem pelos juízes federais Marcelo Bretas, do Rio, e Sérgio Moro, de Curitiba, investiga a conexão entre o escândalo da Petrobras e a política do Rio de Janeiro.
https://youtu.be/AhuJ3dUVQvc
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br
Luiz Carlos Azedo: O mundo de Trump
China e outros países asiáticos levam vantagem na concorrência com o Ocidente. Qual será a resposta de Trump?
Estamos todos perplexos, ainda, com ascensão de um empresário arrogante e aventureiro, que faliu quatro vezes e não esconde o passado de sonegador “legal” do fisco de seu país, ao comando da maior potência mundial, os Estados Unidos. Histriônico, xenófobo e machista durante a campanha, Trump atropelou uma quinzena de pretendentes ao posto no seu próprio partido e, depois, derrotou a democrata Hillary Clinton no colégio de “superdelegados”, que define o presidente americano. Ela, com longa estrada na política, venceu a disputa no voto popular. Todas as pesquisas e os principais comentaristas políticos diziam que a ex-primeira dama e ex-secretária de Estado seria a sucessora de Barack Obama, um presidente que orgulharia qualquer país. Deu Donald Trump!
A propósito da eleição, um velho amigo, o sociólogo Marcos Romão, líder negro de sua geração, num comentário carregado de emoção, disparou nas redes sociais: “Quem é este homem que votou no Donald Trump? Sim, eu o vejo na Rússia, na Hungria, na Alemanha, na Polônia, na Argentina, nos EUA, na Argentina e no Brasil. E para onde eu olhar, é um homem, em geral, precarizado no mundo do trabalho, que perdeu todos os direitos que possuía ao perder o emprego seguro que tinha. Este homem que rumina toda tarde diante da televisão, com uma cerveja ao lado, destila no saco um ódio a todos os vizinhos – mexicanos, muçulmanos, negros, estrangeiros, mulheres, gays –, que ele imagina terem ocupado o seu lugar e que seriam as causas de sua desgraça e perda do poder que tinha, em um mundo em ordem, num passado distante.”
Romão, que durante muitos anos morou na Alemanha, onde constituiu família, prossegue com sua alma de poeta anarquista, mas que sabe das coisas do mundo:
“Este é o homem que sai nas ruas da Alemanha contra refugiados.
Este é o homem que na Rússia sai na rua para espancar gays.
Este é o homem que nos EUA destila o ódio contra todo o resto do mundo que não mais reconhece a sua supremacia imperial americana.
Este é o homem que aplaude os esquadrões da morte no Brasil e nas Filipinas.
Este homem frustrado e ressentido descobriu o voto.
Descobriu o mesmo voto que os lutadores pelos direitos civis descobriram na década de 1960.”
É uma visão mais antropológica do que política, mas faz todo o sentido diante de um fenômeno que foge aos paradigmas estabelecidos. O filósofo polonês Adam Schaff, no ensaio “A identidade cultural na pós-modernidade” (DP&A editora), analisa a desconstrução da identidade do sujeito moderno e a crise de representação política no Estado-nação, bem como o fundamentalismo, a diáspora e o hibridismo na globalização. O fortalecimento do nacionalismo e da xenofobia na Europa já era uma realidade, agora exacerbada por uma crise humanitária sem precedentes. A eleição de Trump desnuda a crise de identidade da América profunda, digamos assim. Sua resposta política era inimaginável: a negação do “sonho americano”, do qual Barack Obama é o maior símbolo contemporâneo. A divisão da mais poderosa nação do Ocidente se aprofundou com sinal trocado: o Partido Republicano chegou ao poder pela via do nacionalismo e do populismo.
O Oriente
Mudando de eixo, a eleição de Trump é uma resposta à decadência da hegemonia econômica e política dos Estados Unidos num mundo cada vez mais multipolar. É uma resposta intuitiva que provavelmente ressuscitará o anticomunismo como narrativa política, em razão do fato de que a China é o grande vilão da globalização para a massa de trabalhadores norte-americanos que elegeram Trump. Negros e hispânicos foram hostilizados por Trump na campanha, o racismo é um ingrediente de sua campanha, mas, do ponto de vista da geopolítica mundial, o problema é outro. Quando Trump sinaliza para o presidente russo Vladimir Putin, como o fez na campanha, está mandando um recado para a China. Ou seja, está sinalizando uma mudança de estratégia não somente em relação à Europa, mas em relação a todo o Oriente. Não é uma mudança trivial na política externa norte-americana, desde Richard Nixon.
No seu livro Sobre a China (Editora Objetiva), o ex-secretário de estado Henry Kissinger, grande artífice da reaproximação com a China, destaca que a disputa pelo controle do comércio mundial no Pacífico entre essa potência continental, e os EUA, uma potência marítima, seria a grande polarização do século. No passado, a Inglaterra (potência marítima) e a Alemanha (potência continental), que disputaram o controle do comércio no Atlântico, protagonizaram duas guerras mundiais. Para alguns autores, a China e outros países asiáticos levam vantagem na concorrência com o Ocidente por serem regimes autoritários, sem os percalços da democracia, que vive uma crise de representação. Qual será a resposta de Trump?
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br
Luiz Carlos Azedo: PSDB e PMDB levam a melhor
Um aspecto importante foram as dificuldades dos prefeitos candidatos à reeleição, como Luciano Rezende(PPS), em razão da crise econômica
O segundo turno das eleições municipais confirmou uma tendência de fortalecimento da base do governo nas eleições. Isoladamente, o PSDB foi o grande vitorioso do segundo turno, com a reeleição dos prefeitos Arthur Virgílio Neto, em Manaus (AM); Zenaldo Coutinho, em Belém (PA); Rui Palmeira, em Maceió (AL); e a eleição dos tucanos Marchezan Júnior, em Porto Alegre (RS), e Dr. Hildon, em Porto Velho (RO). Ainda nas capitais, o PMDB venceu em Goiânia (GO), com Iris Rezende; Florianópolis(SC), com Gean Loureiro; e Cuiabá (MT), com Emanoel Pinheiro.
Os dois partidos se enfrentaram em Porto Alegre, Cuiabá e Maceió, mas foi chumbo trocado. Nas demais capitais, houve pulverização partidária: Rafael Grega (PMN) venceu em Curitiba (PR); Alexandre Kalil (PHS) em Belo Horizonte (MG); Luciano Rezende (PPS) em Vitória; Marquinhos Trad (PSD) em Campo Grande; Edvaldo Nogueira (PCdoB) em Aracaju (SE); Geraldo Julio (PSB) em Recife (PE); Roberto Cláudio (PDT) em Fortaleza (CE); Edvaldo Holanda Júnior (PDT) em São Luiz (MA); e Clécio Veras (Rede) em Macapá (AP).
Nesse cenário, destaca-se a derrota de João Leite (PSDB) em Belo Horizonte, que enfraquece a posição do presidente do PSDB, Aécio Neves, embora o desempenho tucano nas capitais tenha sido tão espetacular no segundo turno quanto no primeiro. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, colheu vitórias importantes no ABC, com Paulo Serra em Santo André, contra Carlos Grana (PT); Orlando Morando em São Bernardo do Campo, contra Alex Manente (PPS); e em Ribeirão Preto, com Duarte Nogueira, que derrotou Ricardo Silva (PDT). Ou seja, o resultado acirrará a disputa interna pela candidatura do PSDB à sucessão de Michel Temer em 2018.
O PMDB foi a segunda força nas capitais e demais grandes cidades, mas nenhum nome desponta como alternativa para 2018. A derrota dupla de Eduardo Paes, que apoiou Marcelo Freixo (PSol) no segundo turno, tirou-o definitivamente do jogo; a eleição de Iris Rezende em Goiânia não resolve o problema da legenda. A única alternativa seria a reeleição de Temer, o que hoje é uma tese que implodiria a base do governo.
Outra variável importante são as vitórias do PDT em Fortaleza e São Luiz, que fortalecem a candidatura de Ciro Gomes e apontam para uma possível aliança da legenda com o PCdoB, que venceu em Aracaju. São cabeças de ponte para uma candidatura com apoio no Norte e Nordeste, que pode ser uma alternativa para o PT, caso se inviabilize a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que amarga a sua maior derrota eleitoral. Pela primeira vez, o PT não elegeu prefeito na região do ABC, seu reduto histórico. Lula ficou tão deprimido que sequer compareceu às urnas em São Bernardo, mesmo podendo votar nulo. PSDB e PPS disputaram o segundo turno na cidade.
Um balanço da eleição nos 57 municípios onde houve o segundo turno confirma a pulverização partidária: PSDB (14), PMDB (9), PPS (5), PSB (4), PDT (3), PR (3), PV (3), DEM (2), PRB (2), PSD (2), PTB (2), Rede (2), PCdoB (1), PHS (1), PMN (1), PTN (1), SD (1). Esse resultado está na contramão da reforma política que está sendo discutida no Congresso, que pretende restringir o número de partidos. O PMDB se aliou ao PT para controlar a comissão especial da reforma política na Câmara, que é presidida por Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) e tem como relator o deputado Vicente Cândido (PT). Esse resultado deve aumentar a dificuldade para aprovação da reforma.
Ajuste fiscal
Um aspecto importante foram as dificuldades dos prefeitos candidatos à reeleição, como Luciano Rezende (PPS), em razão da crise econômica. Ficaram pelo caminho, por exemplo, no primeiro turno, Fernando Haddad (PT), em São Paulo, e Gustavo Fruet (PDT), em Curitiba. Todos que chegaram ao segundo turno, nas capitais, mesmo com dificuldades, conseguiram se reeleger. O impacto dessas dificuldades no debate eleitoral resultou na apresentação de propostas mais realistas. Na verdade, a crise financeira dos municípios se agravou e vai se complicar ainda mais com a aprovação do teto dos gastos públicos.
As cidades com mais de 200 mil eleitores são as que têm mais dinamismo econômico, num universo de 5.568 municípios, cuja maioria vive dos repasses federais. O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), calculado com base em dados de 2015 de 4.688 prefeituras, mostra que 87,4% delas estavam em situação entre difícil e crítica. Só 12,1% se encontravam em boas condições, sendo 0,5% cidades que apresentam uma situação fiscal robusta. Se os eleitos começarem a gestão fazendo o dever de casa, darão uma grande contribuição ao ajuste fiscal. Mesmo assim, as prefeituras sempre investiram mais e melhor na qualidade de vida das cidades do que os estados e a União.
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br
Luiz Carlos Azedo: A democracia relativa
O PT foi apeado do poder porque não respeitou as regras do Estado de direito democrático. A responsabilidade fiscal faz parte dessas regras
Na época do regime militar, o projeto de institucionalização do autoritarismo no Brasil era uma espécie de “mexicanização” do país, na qual o “dedazo” do Partido Revolucionário Institucional (PRI) seria substituído por um presidente civil, a ser ungido no Congresso pela antiga Arena, depois de indicado pelos militares. Dizia-se que o Brasil tinha uma “democracia relativa” e que a abertura política do governo do general Ernesto Geisel poderia resultar na passagem do poder para um presidente civil. O grande artífice desse projeto era o político piauiense Petrônio Portela, presidente do Senado. A estratégia começou a fazer água com o resultado das eleições de 1974, quando o MDB, o único partido de oposição, teve uma vitória espetacular nas urnas. Com mão de ferro, Geisel indicou outro general como sucessor: João Batista Figueiredo.
Portella, que aspirava à Presidência, porém, não desistiu da abertura política. No novo governo, foi ministro da Justiça e negociou com a oposição, cada vez mais forte nas ruas e nas urnas, a Lei de Anistia e a volta do pluripartidarismo. Era o candidato natural do PDS (a antiga Arena havia mudado de sigla) à sucessão de Figueiredo, mas teve um infarto e morreu em 1980. O candidato do PDS foi Paulo Maluf, que impôs seu nome aos militares. Porém, foi derrotado no colégio eleitoral pelo governador mineiro Tancredo Neves (PMDB), lançado logo após a derrota das Diretas Já, cuja campanha fora liderada por Ulysses Guimarães. Tancredo morreu antes de tomar posse, e quem assumiu a Presidência foi o vice, José Sarney, oriundo do PDS, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte da qual resulta a atual Constituição. Essa história é bem contada na série A Ditadura, de Elio Gaspari, cujo quinto volume, A Ditadura Acabada (Intrínseca), foi lançado neste ano.
Do golpe de 1964 à Constituinte, houve dois grandes debates na esquerda brasileira. O primeiro, quanto à natureza do regime: seria fascista ou bonapartista? Os que o consideravam fascista defendiam uma ampla aliança em defesa da redemocratização do país. Para quem o julgava bonapartista, a tática era organizar uma frente popular contra o regime, cuja derrubada deveria se confundir com a revolução socialista. Os primeiros defendiam a participação nas eleições e o apoio ao MDB; os segundos pregavam o voto nulo. A questão da luta armada, que dividiu a esquerda, decorria mais da avaliação de que João Goulart só foi deposto porque não houve resistência armada ao golpe, ao contrário do que aconteceu na renúncia do presidente Jânio Quadros.
Essas divergências foram sendo progressivamente ultrapassadas pelo processo político real. Refletiam um choque de concepções cujo eixo é a maneira de encarar a democracia e seus valores. Para alguns, a “democracia burguesa” é uma mera contingência, na qual se deve utilizar as liberdades e direitos para chegar ao poder e implantar um regime socialista. Uma vez no governo, a tarefa seria direcionar a intervenção do Estado para consolidar sua hegemonia política e promover transformações anticapitalistas. Para outros, não: a democracia é um valor universal e toda e qualquer reforma econômica e social deve respeitar seus pressupostos.
Regras do jogo
Essa discussão está de volta, num contexto completamente diferente, ou seja, sem “guerra fria” e ditadura. Foi “exumada” nos governos Lula e Dilma, a partir da simbiose entre o nosso “capitalismo de laços” e o projeto de “capitalismo de Estado” nacional desenvolvimentista, pela via do neopopulismo. Essa experiência derivou para um misto de transformismo político e degeneração moral do PT e suas principais lideranças. Com o impeachment de Dilma Rousseff, o fracasso tornou inevitável um ajuste de contas entre as forças que davam sustentação ao projeto. Mas esse debate está sufocado pela narrativa do “golpe parlamentar”, a tentativa de caracterizar a Operação Lava-Jato como a “fascistização” do país e a defesa do lulismo como falacioso “Estado de bem-estar social”. É uma tentativa, com sinal trocado, de caracterizar o Estado de direito brasileiro como uma “democracia relativa”.
O resultado das eleições municipais é uma resposta da sociedade a esse engodo. O PT foi apeado do poder porque não respeitou as regras do Estado de direito democrático. A responsabilidade fiscal faz parte dessas regras, assim como o combate à corrupção e aos meios ilícitos para chegar e se manter no poder. O apoio popular à Operação Lava-Jato sinaliza na mesma direção para outros atores políticos. É nesse contexto que a discussão sobre o teto dos gastos públicos ganha nova dimensão. A necessidade de submeter as despesas primárias da União a um teto determinado pelos gastos do ano anterior corrigidos pela inflação ergue um muro contra a ineficiência, o populismo, o clientelismo e o patrimonialismo; ao aparelhamento do Estado pelas corporações e oligarquias. É um bom debate sobre a escolha de prioridades, o velho conflito distributivo e a relação entre o Estado e a sociedade —- de acordo com as regras do jogo democrático.
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br/azedo
Roberto Freire: A esquerda é muito maior que o PT
Não só no Brasil, mas em todo o mundo democrático, vivemos um momento de ebulição no campo das forças de esquerda, com uma profunda discussão em torno do papel dos partidos que compõem esse espectro ideológico e os seus desafios nos dias de hoje. No caso brasileiro, é evidente que o retumbante fracasso moral dos governos de Lula e Dilma Rousseff gerou um forte impacto sobre os grupos mais progressistas, como se a esquerda se resumisse ao PT e seus aliados. Trata-se, evidentemente, de uma tese falaciosa e desprovida de qualquer sentido.
O desastre lulopetista, que chegou ao fim por meio do impeachment da ex-presidente da República, deixou marcas indeléveis no PT, no país e nas esquerdas – associadas, indistintamente, ao desmantelo e à corrupção que afundaram o Brasil. O que temos acompanhado, com tristeza e preocupação, é um sentimento crescente de repulsa em relação aos políticos e partidos que possuem uma visão mais igualitária, humanista e voltada ao social, enquanto, por outro lado, se fortalecem discursos de ódio, intolerância, preconceito ou de conteúdo xenófobo e até mesmo fascista em determinados momentos, frutos de um reacionarismo cada vez mais exacerbado.
Uma das consequências desse fenômeno é o retorno de um anticomunismo anacrônico e descabido, como se ainda fizesse sentido se manifestar contra algo que é página virada na história. Basta conhecer minimamente a política brasileira para constatar, sem muito esforço, que o PT não é e nunca foi comunista. As raríssimas experiências comunistas que ainda se mantêm em pé, entre as quais Cuba e Coreia do Norte, não significam nada de relevante nem oferecem qualquer perspectiva de futuro – o regime norte-coreano, comandado por um bizarro ditador, se assemelha a uma dinastia imperial. Há também a China, que mantém um sistema político ditatorial, mas há muito tempo abriu sua economia para o capitalismo.
Do início ao fim, os governos de Lula e Dilma sempre estiveram afinados com os interesses da banca financeira, que nunca obteve lucros tão fabulosos quanto no período lulopetista. Nos últimos 13 anos, a educação e a saúde continuaram sofrendo com um declínio de qualidade vergonhoso. As famílias brasileiras se endividaram em decorrência do incentivo desenfreado ao consumo. Como resultado de tamanha irresponsabilidade e de uma série de equívocos cometidos na política econômica, o Brasil amarga uma recessão de proporções nunca antes vistas em nossa história, com mais de 12 milhões de desempregados. Como se tudo isso não bastasse, a tão prometida reforma agrária não saiu do papel e o déficit habitacional só se agravou. É a população mais pobre, fundamentalmente, quem mais sofre com o descalabro produzido pelo PT – cuja cartilha seguida enquanto governo nada teve a ver com uma política minimamente de esquerda.
É importante entender que o campo ideológico progressista no Brasil, formado por um amplo leque de partidos com visões de mundo distintas, não se restringe ao próprio PT. Isso ficou evidenciado no processo de impeachment de Dilma, em que as legendas que representam a esquerda democrática brasileira – o Partido Popular Socialista (PPS), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Verde (PV) – votaram unidas pelo afastamento da então presidente.
A esquerda mais avançada, conectada ao século XXI e ao mundo do futuro, defende, neste exato momento, o ajuste econômico e a responsabilidade fiscal propostos pelo governo de Michel Temer para tirar o Brasil do buraco. Apoiar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016, que busca racionalizar os gastos públicos, não é uma bandeira empunhada por esquerda ou direita – mas por todos os que temos compromisso com um país mais justo, sustentável e digno para os seus cidadãos. E esse é apenas um dos exemplos que evidenciam a diferença entre uma esquerda autoritária, arcaica e dogmática e aquela mais democrática, dinâmica e plural.
Essa esquerda tem história, dignidade, honradez e jamais se enxovalhou com a corrupção desenfreada de mensalões ou petrolões. Essa esquerda oferece ao país não um projeto de poder, mas um projeto de desenvolvimento para todos os brasileiros.
Roberto Freire é deputado federal por São Paulo e presidente nacional do PPS
Fonte: pps.org.br
Como a irresponsabilidade fiscal fez a PEC do teto alçar vôo
A PEC do teto, ou PEC 241, está nas ruas, nas páginas dos jornais, nas redes, no rádio e na televisão, mas o cidadão comum não faz ideia do que está causando tanta polêmica. Três fatores ajudam a que entendamos as razões disso.
Um é a imperícia governamental. A PEC tem muitos furos e buracos negros, parecendo ter sido redigida basicamente para abrir um debate e ser a partir dele corrigida. São muitas as vozes que dizem que a medida está mal formulada e que tenderá ao abandono no médio prazo, como desdobramento de sua inconsistência.
Além disso, o governo é péssimo em comunicação. Não fala com a sociedade, não explica suas propostas, operando como se não estivesse com os pés na Terra. Falta-lhe vocação pedagógica mínima.
Outro fator são os economistas. Eles aprisionaram a PEC e parecem querer utilizá-la para testar seus esquemas teóricos e suas elucubrações analíticas.
Tanto os neoclássicos liberais quanto os neokeynesianos progressistas ou marxistizantes cometem o mesmo erro: o da empáfia e da falta de comunicação, mesmo quando uns criticam a “retórica tecnicista” dos outros, e vice-versa.
Além de pedagogia democrática, falta-lhes disposição para levar o debate para o terreno político, só o fazendo de modo marginal. Falam como se não existisse povo.
O terceiro fator está associado às corporações e às áreas específicas das políticas sociais, cada uma das quais luta para preservar seu status, perder menos ou ganhar mais.
O argumento da “perda total” é utilizado de forma intensiva: os prejuízos sociais serão incomensuráveis, direitos serão simplesmente pisoteados, os pobres terminarão por ser exterminados, as conquistas atiradas no lixo.
O exagero retórico, aqui, ainda que válido como recurso de combate, não ajuda ao esclarecimento, pois sobrepõe um tratamento passional e “parcial” a toda e qualquer consideração de ordem mais “racional” e “geral”.
Se agregarmos a isso o fato de que os partidos pouco produzem – quando muito, agitam sem muito critério –, conseguimos entender as razões que fazem o debate fiscal ficar na estratosfera, ainda que seja vital para todos. O ajuste vai andando, sem que ninguém se dê ao trabalho de traduzi-lo em termos compreensíveis.
A opinião pública no seu conjunto fica paralisada pelo maniqueísmo simplificador do debate, como se não existissem outras opções e como se o pacote governamental fosse a única e perfeita saída.
Perguntas que não querem calar:
- O governo tem somente uma única bala?
- Não haveria outras formas de aumentar receitas sem que se tivesse de apelar para o aumento de impostos universais?
- E a progressividade tributária, que faria com que os mais ricos pagassem mais para poupar a sangria dos mais pobres?
- E as grandes fortunas?
- Não seria possível “empoderar” o Congresso para que ele mesmo fizesse cortes e realocasse gastos conforme o andar da carruagem?
- Não há despesas desnecessárias ou mal calibradas, não há privilégios ou benefícios socialmente negativos que, se extintos, ajudariam de modo importante?
- Por que 20 anos, e não 10 ou 15?
Precisamos urgentemente de alguém que ponha os pingos nos iis.
Uma primeira coisa, por exemplo, é compreender que a PEC 241 não caiu do céu. Em outros formatos, algo similar a ela foi tentado antes, por Lula e Dilma, bem como por FHC.
O país vive assombrado por demônios recorrentes: o crescimento constante dos gastos públicos, a dificuldade de arrecadar mais, a inflação, a má qualidade dos políticos, seguidos problemas de financiamento de políticas, a corrupção, o imediatismo e a descontinuidade, para lembrar alguns bem conhecidos.
Nos últimos anos, e especialmente durante o governo Dilma, a gestão pública decaiu muito em termos éticos, políticos, institucionais e econômicos. A inadimplência é elevadíssima, há falências sendo anunciadas em cascata, as finanças de estados e municípios estão no osso, a recessão é real.
Tudo isso, querendo-se ou não, ficou associado aos últimos governos, que se mostraram pouco responsáveis em termos fiscais.
Os governos petistas de Lula e Dilma sempre se apresentaram como sendo de esquerda, e isso facilitou o aparecimento de uma onda de caráter neoconservador, ou neoliberal, que elegeu o corte de gastos estatais como bandeira. Coisa que, de resto, se mostra indispensável e deve ser de fato posta na mesa, para ser negociada.
A capacidade de negociação política da sociedade, porém, é baixa. Fica tudo concentrado nas mãos da chamada classe política, que também anda mal das pernas. Explode nas disputas eleitorais, mas quase sempre de modo imperfeito.
O debate é pouco racional e invariavelmente se divide entre intervenções tecnicistas e intervenções passionais. Com isso, muita coisa sobra e não é processada de forma a ser compreendida socialmente.
Por exemplo: gastos sociais com saúde e educação não são obrigações predominantemente federais. Estados e municípios participam em cerca de 25% deles, assim como o setor privado, que arca com quase 60% do total.
O teto da PEC 241, portanto, afetaria aproximadamente 15% do que se gasta com saúde e educação, e nessa faixa haverá de fato perdas e riscos sérios. Mas é razoável que se imagine que uma contração no governo central irradie contrações para os demais níveis federativos.
A conta, porém, precisa ser feita com cuidado, considerando o tamanho do país, a desigualdade dos estados e municípios, o volume da dívida e do rombo fiscal em cada um deles, e assim por diante. Não dá para passar por cima disso tudo e simplesmente dizer que a educação e a saúde serão baleadas de morte.
Outra coisa: a PEC 241 pretende operar no longo prazo, o que é um de seus aspectos mais discutíveis e enigmáticos.
Por que 20 anos? A medida admite que se façam revisões depois de 10 anos ou a qualquer momento, desde que haja alguma recuperação econômica e o Congresso decida de que área do orçamento serão transferidos os recursos.
Os parlamentares poderão deslocar recursos da infraestrutura, por exemplo, para contemplar a ciência, a saúde ou a educação. O que não poderão fazer é aumentar os gastos globais, ou seja, inchar o orçamento e endividar o Estado mediante empréstimos que financiem gastos adicionais.
É um problema? Com certeza, pois radicaliza a disputa por recursos públicos num quadro em que os mais pobres, que são também os que têm menos voz e representação, tenderão a perder mais. Mas não é o fim do mundo. Até porque o real efeito da medida é controvertido e não pode ser claramente estabelecido por antecipação.
Há também a variável demográfica, que precisa ser equacionada. A população brasileira continua a crescer, cerca de 0,8% ao ano. E está envelhecendo rapidamente, cerca de 3,5% ao ano.
Isso significa que esse fator ”natural” continuará a pressionar os gastos públicos. Algo deve ser feito para que a PEC considere o problema.
No caso da educação, pode-se até admitir que alguma “economia” seja feita na medida em que o número de jovens for diminuindo, o que é uma tendência clara.
Mas no caso da saúde a situação é terrivelmente complicada, seja porque com o envelhecimento os gastos com saúde crescerão, seja porque as doenças vão mudando de perfil (hoje o câncer é mais grave que as enfermidades cardíacas, e as doenças crônicas estão a aumentar) e onerando os tratamentos, seja porque aumenta o custo dos próprios serviços médicos, que são crescentemente mais tecnológicos.
O problema mais grave da crise fiscal (e, portanto, da PEC) está precisamente aí.
A PEC prevê teto e mecanismos de expansão orçamentária (a inflação do ano anterior), mas não admite que se deixe de honrar compromissos estabelecidos.
Isso poderá ser uma vantagem.
Ela, no fundo, protege as áreas sociais mais relevantes, tentando evitar que o custo delas cresça artificialmente ou seja reduzido arbitrariamente. Palavras do economista especializado em contas públicas Raul Velloso:
“Na realidade, é uma proteção para não haver corte nas áreas, mas está sendo interpretado como o contrário. Nenhum outro item poderá crescer às custas de educação e saúde. Quem trabalha nas duas áreas estará protegido, porque são pagos pelos orçamentos de ministérios protegidos. É só não contratar tanto e dar reajuste pela inflação”.
Por que 20 anos? Não seria mais razoável vincular o teto aos mandatos presidenciais, de modo a possibilitar que cada governo possa fixar critérios conforme suas políticas e especialmente conforme as circunstâncias políticas e a condição da economia?
Algo assim poderia dar maior flexibilidade ao teto e deixaria de engessar tanto os gastos. O risco seria o teto ser manipulado política e eleitoralmente, mas esse é um risco inerente às democracias. Pior que ele é o risco de tudo ficar sob o controle de técnicos e burocratas.
A PEC é omissa na questão de saber como se gasta, onde se gasta, quanto há de desperdício e ineficiência, qual o impacto real da corrupção e o que fazer para contê-la. Sem abrir essa caixa preta, todo esforço poderá ser inútil ou produzir pouca coisa.
Se se fixar um teto para os gastos sem avaliar a qualidade global dos gastos, o conjunto não ficará de pé. Esclarecimentos a esse respeito serão fundamentais para que a PEC seja aprumada, fique clara e eventualmente obtenha adesão social.
Supondo que alguma perda orçamentária haverá, como calibrar a qualidade dos serviços — a gestão — para que não haja prejuízo para a população? Nem tudo se resolve com mais verbas.
O que será feito, por exemplo, com o custo da Previdência, terreno delicadíssimo e potencialmente impopular? Alguma reforma é indispensável, isso parece claro.
Conforme for seu desenho, maior ou menor será seu impacto na gestão orçamentária global, até mesmo porque o custo da Previdência não está submetido à PEC e é corrigido por critérios próprios.
Junto com a assistência, a Previdência consome cerca de 50% dos gastos federais, o que significa que o governo administra somente metade do orçamento, que é precisamente aquilo que obedecerá ao teto. E aí a disputa por recursos será encarniçada.
Como disse Raul Velloso, a “chiadeira” será monumental.
“Não virá da saúde nem da educação, porque o piso deles está protegido. A única disciplina dos componentes do gasto é o piso de saúde e educação, que será corrigido pela inflação. Mas haverá chiadeira no investimento, no custeio geral, porque vão ter que cortar alugueis, contratos de prestação de serviço. Agricultura, reforma agrária, Justiça, Relações Exteriores estarão no alvo do ajuste. Enquanto as reformas que possam diminuir os gastos em Previdência não acontecem, o único jeito será pegar a arraia-miúda. Os que normalmente são arrochados serão muito mais arrochados”.
O que ocorrerá com as isenções fiscais, que consomem uma massa absurda de recursos de utilidade social bastante discutível? Tais desonerações beneficiam empresas, que em princípio dão retorno com a criação de empregos, mas também premiam igrejas, e isso num país em que o Estado é laico!
É preciso por tudo isso na mesa, e reunir juntamente com o crédito subsidiado, o crédito facilitado, certos mecanismos protecionistas, as licitações e compras do setor público.
Trata-se, em suma, de reforma tributária.
A estrutura brasileira de tributação é perversa e injusta. Tem vetores de progressividade, mas no fundamental cai sobre o consumo e a renda do trabalho com muito maior força do que sobre a renda do capital.
Diz-se que é assim para que se possa fazer a economia crescer e favorecer a arrecadação, explicação meio cínica. O problema está exposto há décadas.
E os governos – tanto os de Lula e Dilma, quanto o de Temer – ficam paralisados diante da situação, porque simplesmente não conseguem contar com correlação de forças mais favorável, ou seja, não dispõem de suportes políticos efetivamente reformadores.
Preferem manter o padrão em vez de mexer com os mais fortes, que alegam suportar uma carga tributária que bloqueia a expansão econômica (o “custo-Brasil”) e continuam a pagar proporcionalmente menos impostos, pondo muitas vezes em prática artimanhas de sonegação que a grande maioria desconhece.
Será preciso que alguém demonstre, por a mais b, como financiar o gasto público que não cessa de aumentar, num quadro de recessão e queda de arrecadação. Sem isso, ficaremos todos paralisados pelo monstro do quanto se gasta. Veremos a dívida pública permanecer em expansão, transferindo renda para o setor financeiro e arruinando o futuro.
A joia da Coroa é o crescimento econômico, obsessão socialmente justificada. Será preciso que se explique, portanto, por que é que a economia não cresce.
Trata-se de uma falha da política macroeconômica, das circunstâncias da economia internacional, do padrão do capitalismo nacional? Ou de tudo isso misturado? Estamos reprimarizando a economia sem permitir que a industrialização avance?
Alguém deve contar direito essa história, encaixando na explicação, por exemplo, a questão da produtividade e da carga tributária, o tal custo-Brasil.
É ou não verdade que temos problemas de produtividade e que isso amarra e deforma o crescimento? Há defeitos e limitações no planejamento e na gestão das empresas, mas também limites derivados da baixa escolaridade e da estrutura institucional que faz interface direta com a economia (sistema judiciário, sistema financeiro, sistema de crédito, etc.).
Quando é que se atacará essa frente de forma vigorosa?
E mais: como minimizar o risco de que ganhos tributários derivados do crescimento não sejam devorados por desvios, trambiques e esquemas ilícitos?
O crescimento desafogará e irrigará os cofres públicos, mas é justamente aí que mora o perigo caso não sejam tomadas as devidas providências. Não se trata só de bloquear os dutos da corrupção, mas de aperfeiçoar as práticas, as estruturas, os processos de gestão.
Tudo somado, a PEC 241 pode ter seus méritos, mas também tem seus buracos, especialmente no que diz respeito ao modo como será executada e como será negociada politicamente.
Com ela, o governo pôs um bode na sala. Fez isso intencionalmente, mas também porque não tem outro movimento a fazer.
Não procedeu assim por ser um “governo usurpador e golpista” ou porque lhe falte legitimidade. Mas sim porque lhe falta a devida densidade técnica e política e também porque a gravidade do momento não admite omissão.
Se, porém, o Congresso honrar suas tradições históricas e cumprir o que dele se espera, se o governo mostrar inteligência estratégica e flexibilidade democrática, se os partidos democráticos progressistas e os movimentos sociais atuarem com discernimento e combatividade, se a intelectualidade se engajar no debate público e der sua contribuição,muita coisa poderá ser feita.
O pior é ficarem todos cruzando armas sem sair do lugar. E esperando para ver o que acontecerá.
Fonte: http://ano-zero.com/pec-do-teto/
Fim da era PT e perspectiva de reformas fiscais melhoram estimativas para a economia
Otimista, mercado melhora estimativas para economia no ano que vem
Perspectiva de reformas elevam projeções à alta de 1,3% e queda de juro
MARCELLO CORRÊA – O Globo
A perspectiva de reformas econômicas no Brasil fez surgir uma maré de otimismo entre analistas de mercado. Desde abril — quando foi aberto o processo de impeachment de Dilma Rousseff — as projeções para o crescimento do PIB em 2017 têm sido revisadas para cima constantemente. Passaram de alta de 0,3%, naquele mês, para expansão de 1,3%, segundo relatórios do boletim Focus. Até agora, boa parte desse movimento foi impulsionado pela esperança de que o governo de Michel Temer tem mais capacidade de aprovar medidas de ajuste fiscal do que o de Dilma.
Nesta semana, essa aposta em um futuro melhor será testada: o Comitê de Política Monetária (Copom) decidirá se começa, já a partir deste mês, um aguardado processo de corte de juros, ligado diretamente à expectativa de equilíbrio das contas públicas e que ganhou um impulso extra, após o corte de preços de combustíveis anunciado pela Petrobras na sexta-feira. O início do alívio monetário é considerado por analistas o gatilho para um ciclo virtuoso na economia. Financiamentos menos salgados facilitariam a vida de investidores e empresários que, no fim das contas, voltarão a contratar. Hoje, o Brasil tem cerca de 12 milhões de desempregados e a indústria, primeiro setor a sentir mais fortemente os efeitos da crise, ainda patina.
INFLAÇÃO AINDA É OBSTÁCULO
É com base nessa previsão de reversão de tendências que as estimativas estão se baseando. Luis Otavio Leal, economistachefe do banco ABC Brasil, é um dos que espera retomada forte no ano que vem. Ele espera crescimento de 1,5% em 2017 e, para a reunião do Copom, estima um corte de, no mínimo, 0,25 ponto percentual e não descarta uma redução mais profunda, de 0,5 ponto percentual. A taxa Selic está em 14,25% ao ano desde julho de 2015. — Começou a ter uma expectativa de que se o impeachment fosse efetivamente votado, o novo governo já entraria legitimado por essa quantidade de votos — explicou Leal. Em relatório divulgado na última semana, antes da votação da PEC dos gastos, o Itaú Unibanco projeta crescimento econômico de 2% em 2017 e retração de 3,2% neste ano.
O banco destaca o peso da perspectiva de reformas para o cenário favorável. Cita o início da votação das reformas fiscais, o possível corte dos juros (estimado pelo banco em 0,25 ponto) e a inflação que deve dar sinais mais claros de desaceleração. O documento também põe na conta os dados negativos da indústria, cuja produção encolheu 3,8% em agosto. Para o Itaú, os números devem ser revertidos e já há sinais de recuperação constante: “(…) os fundamentos seguem sugerindo que a produção deve aumentar à frente”, afirma o banco, citando a queda nos estoques e a expectativa de elevação.
Para a economista Silvia Matos, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas, os dados mostram que a expectativa de crescimento ainda não está ancorada em melhora efetiva da atividade econômica. A pesquisadora está na ponta mais pessimista das projeções, e prevê só 0,6% de alta do PIB em 2017. Ela calcula que, para que seja alcançado um expansão de 1,6% no ano que vem, como estima o governo, seria necessário que o país crescesse, em média, 0,8% por trimestre.
O cenário é considerado improvável pela economista, que espera altas de 0,3% a 0,4% no primeiro semestre, e avanços maiores na segunda metade do ano: — O grande obstáculo que a gente ainda não transpôs é a inflação. A gente já começa com projeções de 5,8% de administrados para o ano que vem, e temos riscos de governos começarem a aumentar imposto. Apesar de perspectiva de melhora, a conta não fecha no fiscal. Não dá para descartar alta de impostos, inclusive em governos estaduais.
“NÃO ESTAMOS A SALVO DE RECAÍDA”
Para Alberto Ramos, do Goldman Sachs, é clara a tendência otimista do mercado, inclusive de investidores estrangeiros, e a aprovação da PEC intensifica isso. Mas não significa que os problemas acabaram. Ele espera um queda de juros de 0,25 ponto Enquanto isso, se as incertezas se dissipam no curto prazo, um fantasma ainda preocupa os estrangeiros, destacam economistas em contato com investidores internacionais: as eleições de 2018. — Há uma janela de oportunidade para aprovar essas medidas no Congresso, que termina no fim de 2017. Em 2018, o Congresso estará distraído e ocupado com outras coisas. Hoje não conhecemos o mapa político de 2018. A gente não sabe o que vem por aí — afirma Ramos.
Ele lembra ainda que há risco de frustração de expectativas: — Se essa esperança não se concretizar, tudo que poderia ser ganho, pode claramente reverter. Não significa exatamente que volta a contrair a um ritmo acelerado. Mas se o mercado perder a esperança, 2017 pode ser outro ano de estagnação. Não é o que se espera, mas é um risco. Essa expectativa é condicionada a que se avance na agenda fiscal. Por isso, é perigoso se o mercado desenvolver algum sentido de complacência. Não estamos a salvo de uma recaída, e acho que o governo está ciente disso.
Fonte: pps.org.br