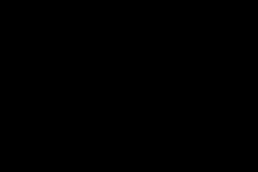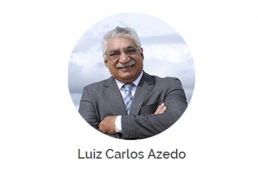poder
TSE proíbe propaganda eleitoral paga 48h antes da eleição e 24h depois
Manoela Alcântara,*Metrópoles
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovaram por unanimidade, nesta quinta-feira (20/10), resolução que proíbe o pagamento de qualquer tipo de publicidade 48h antes das eleições e 24h posteriores à votação.
Pela nova norma, está proibida “a veiculação paga, inclusive por monetização, direta ou indireta, de propaganda eleitoral na internet, em sítio eleitoral, em blog, em sítio interativo ou social, ou em outros meios eletrônicos de comunicação da candidata ou do candidato, ou no sítio do partido, federação ou coligação”, diz os termos da resolução.
Se verificado descumprimento dessa vedação, o TSE, em decisão fundamentada, determinará às plataformas a imediata remoção da URL, URI ou URN, sob pena de multa de R$ 100 mil a R$ 150 mil por hora de descumprimento, a contar do término da primeira hora após o recebimento da notificação.
A desobediência à decisão também vai configurar realização de gasto ilícito de recursos eleitorais, apto a determinar a desaprovação das contas do candidato. Haverá ainda apuração da responsabilidade penal, do abuso de poder e do uso indevido dos meios de comunicação.
Novidade
A legislação eleitoral (artigo 5º da Resolução 23.610) proibia o impulsionamento de conteúdo na internet nesse período da eleição, sendo a única exceção à propaganda gratuita.
No entanto, conforme ressaltou o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, houve “um aumento exponencial de monetização de blogs e sites interativos que recebem dinheiro para realizar essa propaganda eleitoral”, mesmo durante o período proibido pela lei. Por isso, a nova determinação.
Poder de polícia
A mesma resolução aumenta o poder de polícia da Justiça Eleitoral. A partir de agora, a JE está autorizada a agir de ofício caso o conteúdo seja sabidamente inverídico, já julgado por colegiado e republicado em outros sites. Ou seja, se a Justiça determinou a remoção de um conteúdo, a plataforma digital o fez, mas ele foi republicado, não há necessidade de nova representação ou julgamento para remoção.
Pela resolução, assim que comunicadas pela Justiça Eleitoral, as plataformas devem fazer a imediata remoção das URLs, URIs ou URNs consideradas irregulares, sob pena de R$ 100 mil por hora após a determinação de retirada de desinformação das redes. O prazo máximo a partir de agora é de duas horas. Às vésperas da eleição, será de uma hora.
“Quando uma pessoa consegue uma decisão judicial para retirar algo calunioso, quando a plataforma remove, mas percebe que isso foi replicado em outros endereços, isso precisa ser retirado sem nova decisão. Se verificarmos que aquele conteúdo foi repetido, não há necessidade de nova representação. O conteúdo precisa ser removido. As plataformas informaram que isso poderia demorar devido à necessidade de identificar cada URL. Nós podemos identificar isso rapidamente com a nossa assessoria, e isso ajuda a reduzir o conteúdo injurioso, já julgado, a ser disseminado”, ressaltou Alexandre de Moraes.
Os conteúdos que devem ser removidos seguirão indicação da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE.
Aumento
Segundo Moraes, houve crescimento 1.671% no volume de denúncias encaminhadas às plataformas digitais em relação às eleições de 2020. Foram 130 matérias para desmentir informações falsas de um candidato contra o outro. No segundo turno, houve diminuição do ataque às urnas e a desinformação se voltou para as pesquisas e entre os postulantes.
Texto publicado oficialmente no Metrópoles.
André Gustavo Stumpf: Os militares e o poder
Sistema político brasileiro se iniciou sob a benção dos militares
André Gustavo Stumpf / Capital Político
Os militares estão no poder no Brasil desde o início da República. A monarquia constitucional desabou no dia 15 de novembro de 1889. O golpe da proclamação do nosso regime ocorreu quase por acaso. O objetivo dos revoltosos era derrubar o gabinete Ouro Preto. Mas em meio a muitos boatos, conversas desencontradas, ameaças vazias, as fake news da época, os revoltosos tiraram o Marechal Deodoro da Fonseca da cama. Ele estava muito gripado, subiu no cavalo, no campo de Santana, no Rio de Janeiro, hesitou, mas soltou o grito: viva a República.
O sistema político brasileiro se iniciou sob a benção dos militares. A tropa queria aumento, maior participação no governo e institucionalizar as forças armadas. O Imperador achava que só deveria haver exército quando houvesse guerra. Acabada a do Paraguai seria natural extinguir a força terrestre. A estas reivindicações se somaram queixas dos fazendeiros que perderam a mão de obra escrava, desde a assinatura da Lei Áurea, no ano anterior.
Este conjunto de circunstâncias derrubou a Monarquia (D. Pedro II reinou por 49 anos) e colocou dois militares no poder. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. As ideias positivistas já tinham chegado ao Brasil por intermédio dos militares. A Igreja Positivista do Brasil – cujas ruínas resistem até hoje no bairro da Glória, no Rio de Janeiro – previa a ordem e progresso como requisito para o aperfeiçoamento da sociedade através de um sistema de governo protegido de insurreições ou rebeliões. Seria a ditadura republicana. O dístico Ordem e Progresso está na bandeira do Brasil.
Os militares fizeram a Revolta dos 18 do Forte, em julho de 1922. Dois anos depois iniciaram a partir de São Paulo a longa marcha, chamada de Coluna Prestes, que atravessou o país na diagonal. Saiu do oeste do Paraná e caminhou até o Rio Grande do Norte. Passou pelo quadrilátero que hoje abriga o Distrito Federal.
Os militares descobriram o Brasil nesta marcha. E tiraram conclusões políticas. Luís Carlos Prestes foi para Buenos Aires, onde conheceu o ideário comunista. Os outros se organizaram para tomar o poder. E chegaram a ele com Getúlio Vargas na revolução de trinta. Mas o gaúcho, que era um político esperto e hábil, permaneceu no poder durante quinze anos.
No golpe de 64, remanescentes da Coluna Prestes chegaram ao poder. A política entrou nos quartéis e a hierarquia saiu por uma porta lateral. As sucessões presidenciais ocorridas dentro dos comandos colocaram fardados contra fardados. Os generais se revezaram no poder cumprindo o mandato presidencial, mas sem eleições diretas.
Os governos militares concederam prestígio à economia e a agricultura. Criaram, por exemplo, a Embrapa que permitiu a formidável expansão do agronegócio no país. O Brasil era importador de alimentos e de petróleo. Hoje exporta os dois itens em quantidades inimagináveis naquele período.
Hoje o mundo é diferente. As guerras não são travadas pelos meios tradicionais. Drones substituem aviões, operados a partir de bases secretas e seguras. Carros de combate e até navios ganham autonomia e são teleguiados a partir de quarteis distantes dos cenários do conflito. Mudou tudo. Cada vez mais civis orientam as ações dos militares, como ocorre nos Estados Unidos e nos países europeus.
Aqui a presidência e a vice-presidência da República constituem algo parecido com um quartel. O Ministério da Defesa foi militarizado, assim como o Ministério da Saúde. Moderno é dispor de força armada reduzida, porém extremamente eficiente. E altamente informatizada.
A eleição de Bolsonaro chegou a ser percebida por militares de alta patente como um novo momento de 64 desta vez através das urnas. O presidente, contudo, decepcionou em toda a linha. Protegeu filhos acusados de rachadinhas, permitiu a livre disseminação de notícias falsas, atacou os principais poderes da República, agrediu governos amigos, brigou com o vizinho Argentina, virou as costas para União Europeia.
O resultado destes desmandos apareceu no passeio turístico por Roma. Uma briga em cada esquina. Perdeu o apoio da oficialidade. Teve que calar a boca, calçar as sandálias da humildade e fazer acordo com o centrão, grupo que criticou duramente desde o início de seu mandato.
O surgimento da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro recoloca os militares numa posição de expectativa. Ele tem a aprovação majoritária dentro da força por ter tido a coragem de julgar e condenar Luís Inácio Lula da Silva. Seria, ao ver dos fardados, o resultado natural da evolução política brasileira. Desta vez pela via eleitoral.
Formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), onde lecionou Jornalismo por uma década. Foi repórter e chefe da sucursal de Brasília da Veja, nos anos setenta. Participou do grupo que criou a Isto É, da qual foi chefe da sucursal de Brasília. Trabalhou nos dois jornais de Brasília, foi diretor da TV Brasília e diretor de Jornalismo do Diário de Pernambuco, no Recife. Durante a Constituinte de 88, foi coordenador de política do Jornal do Brasil. Em 1984, em Washington, Estados Unidos, obteve o título de Master em Políticas Públicas (Master of International Public Policy) com especialização política na América Latina, da School of Advanced International Studies (SAIS). Atualmente escreve no Correio Braziliense. ⠀⠀
Fonte: Capital Político
https://capitalpolitico.com/os-militares-e-o-poder/
O que ensina a Venezuela
A presença de militares na política tem custos altos e reversão difícil
Maria Hermínia Tavares / Folha de S. Paulo
Mais de uma vez, ao desfechar ataques desvairados às instituições que garantem a democracia no país, Bolsonaro invocou o "meu Exército", sugerindo que conta com o apoio das Forças Armadas para levar a cabo seus intentos liberticidas.
Até aqui, parece haver antes farolagem do que fundamento nessas falas. Ainda assim, é nítido que desde a ditadura de 1964-1985 os militares brasileiros nunca estiveram tão perto de cruzar a linha que separa seu papel constitucional do engajamento aberto na disputa política.
A história nunca se repete ao pé da letra; e experiências de outros países costumam viajar mal. Ressalvas feitas, há muito que aprender com o artigo do cientista político americano Harold Trinkunas "As Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela: medo e interesse face à mudança política", recém-publicado pelo Woodrow Wilson Center de Washington.
O estudo trata da politização das instituições militares sob Hugo Chávez e Nicolás Maduro e de sua subordinação aos governos populistas da dupla.
De um lado, isso implicou na doutrinação ideológica nas academias militares, em sistemas de promoção e atribuição de missões que favoreceram o oficialato leal ao chavismo; na reestruturação das Forças com a inclusão formal da Milícia Bolivariana diretamente afeta ao presidente; e no fortalecimento de um vasto sistema de contrainteligência militar que vigia os suspeitos de deslealdade ao regime. De outro lado, vieram as recompensas.
Em especial sob Maduro, militares ocuparam o centro do poder. Comandam ministérios, governam estados e controlam setores econômicos estratégicos, como parte da indústria petrolífera, a mineração de ouro e a distribuição de alimentos. Gerem também o multimilionário comércio de armas com a Rússia e a China. E não é propriamente um segredo em Caracas que oficiais de alta patente têm parte com o tráfico internacional de drogas e o contrabando de mercadorias.
Maduro, ele sim, diz a verdade ao proclamar que o politizado Exército do país é seu. E este, cúmplice do desastre nacional que o populismo chavista promoveu, compartilha com o autocrata a responsabilidade pela destruição de uma democracia que já foi forte o suficiente para vencer a guerrilha revolucionária e ficar ao largo da onda de autoritarismo que sufocou a região nos anos 1960-70.
Acima de tudo, os fuzis são hoje o principal obstáculo para a Venezuela voltar por meios pacíficos à normalidade democrática. Por atraente que possa parecer aos brasileiros desiludidos com o sistema, a presença dos militares na política tem custos altos e reversão difícil.
*Professora titular aposentada de ciência política da USP e pesquisadora do Cebrap.
Fonte: Folha de S. Paulo
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/maria-herminia-tavares/2021/08/o-que-ensina-a-venezuela.shtml
Ludmilla: 'A fama e o poder não me livraram de sofrer com o racismo'
Cantora diz que decisão da Justiça em favor de Val Marchiori, que comparou seu cabelo a Bombril, dá força a racistas
Isabella Menon e Lucas Brêda, Folha de S. Paulo
No show que fez no início deste mês no Big Brother Brasil, Ludmilla disse uma frase simples, mas com mais significados do que aparenta em um primeiro momento: “Respeitem o nosso cabelo”.
Ela falava do processo de injúria racial que, em março, perdeu para Val Marchiori —em 2016, a socialite comparou o cabelo da cantora à palha de aço Bombril. Mas o posicionamento no reality show também serviu como apoio ao participante do programa João Luiz, que ouviu algo semelhante sobre seu black power.
Frequentadora das listas de músicas mais tocadas do streaming, Ludmilla aproveita o sucesso para se posicionar.
“Verdinha”, ode não explícita à maconha, foi cantada por 1 milhão de pessoas no Carnaval de 2020 e rendeu denúncias por apologia de crime. “Numanice”, seu disco de pagode, só foi lançado porque ela diz que, agora, tem total controle sobre sua carreira. Seu show de pagode já custa mais que o de funk —sendo que ele ainda nem pôde ser apresentado por causa da pandemia.
Comportamento que impacta também na política. Em 2018, ela foi criticada por não se posicionar nas eleições —mas ela promete declarar voto no próximo pleito.
Em que ponto você está em relação ao comando da sua carreira?
Antigamente, queria focar na música. Só que a gente vai crescendo e vê que tem muito mais coisa que depende da gente. Só lancei meu pagode [“Numanice”] porque a última palavra é a minha. “Rainha da Favela” também.
Cantores têm sido presos por fazerem shows ilegais, como o Belo. Como tem visto essa questão?
A gente quer que tudo isso passe logo, mas nem todo mundo consegue ficar em casa. As pessoas precisam pagar as contas também.
Mas gostam muito de marginalizar o pagode e o funk. Prenderam o Belo e queriam prender outros funkeiros. Mas ninguém foi atrás de quem montou o evento ou dos patrocinadores. A gente sofre isso desde sempre.
Muitos profissionais da área de entretenimento alegam que precisariam de um auxílio do governo. A gente ainda tem como se manter, mas e nossa equipe? Os roadies, produtores, músicos, as famílias deles. Precisamos de aglomeração para trabalhar. E não dá para aglomerar de jeito nenhum. E tem a demora da vacina. Está na casa dos 60 [anos] ainda. Eu tenho 25. É desesperador.
Aparecem propostas para fazer shows hoje?
Apareceram alguns convites para coisas menores. Só que não dá, né?
Disse que funkeiros ou pagodeiros são os alvos preferenciais. Isso remete a uma discussão sobre a criminalização do funk. O DJ Rennan da Penha e o MC Poze do Rodo foram recentemente presos por associação para o tráfico, por tocarem em áreas comandadas pelo tráfico. Como viu esses casos?
Acho extremamente preconceituoso. O preconceito ativamente trabalhando e ganhando.
O Rennan da Penha foi indiciado porque estava tocando em um lugar dominado pelo tráfico, só que é um lugar carente. Você pega um DJ de rave, de eletrônico, que toca num evento fechado e tem droga até o talo. Ninguém é preso, porque os playboys dão o dinheiro a quem tem que dar.
Agora, com os menos favorecidos, eles chegam já batendo. Não temos culpa do que fazem no evento. Estamos fazendo o nosso, trabalhando, levando o som. Acho muito errado jogar a culpa no artista.
Já teve algum problema desse tipo com a polícia?
Fiz uma música chamada “Verdinha” e veio o Palácio do Planalto todo atrás de mim, dizendo que eu estava fazendo apologia do crime. Tem tanto artista de MPB ou pop que fala diretamente sobre isso.
Tem coisas que eles têm realmente que se preocupar, mas não se preocupam. Não vi nenhum deputado se coçar porque a vacina está atrasada e os hospitais estão lotados.
Você processou o deputado Cabo Junio Amaral (PSL - MG) após ele associar sua imagem ao tráfico por causa de ‘Verdinha’. O STF julgou que não houve calúnia nem difamação.
Não posso falar muito, mas olha a ironia. Ele me acusa de traficante, de associação ao tráfico, me faz perder contratos por conta dessa mentira. Entro contra ele, mostro provas do que esse deputado causou na minha vida, mas eles [STF] recusam.
Qual sua opinião em relação à legalização da maconha?
É um assunto que tem que ser discutido. Discutir é analisar os prós e os contras, mas acho que tem muito mais benefícios do que coisas ruins. Vários países de primeiro mundo já legalizaram. Já vi muitos amigos serem parados em blitz com dois beques e a polícia já querer levar preso —ou, então, você tem que dar o dinheiro. E, na maioria das vezes, os pretos é que são presos.
No desfile pela Salgueiro no Carnaval de 2016, a socialite Val Marchiori disse que seu cabelo parecia Bombril. Ela foi condenada pela Justiça a pagar R$ 30 mil, mas entrou com um recurso e, em março, o juiz a absolveu e considerou o comentário como liberdade de expressão. Como foi receber essa decisão?
Foi muito triste, ainda mais vindo de uma pessoa que deveria estar ali protegendo os brasileiros, preservando e conservando uma luta que vem de anos. E, talvez, fazendo uma reparação que é histórica, porque o racismo estrutural é histórico.
Pessoas perderam empregos e oportunidades porque outras acharam que o nosso cabelo, por ser crespo, é parecido com uma coisa suja, fedida, ruim. Isso não é uma brincadeira, não é liberdade de expressão. Acontecer isso comigo só deixa mais claro que o racismo existe. Porque a fama e o poder não me livraram do racismo. Imagina o que acontece com pessoas que não têm a visibilidade que eu tenho. A decisão do juiz causa dor, raiva e cansaço.
Logo depois, teve o caso do Big Brother, em que você fez um show e disse ‘respeita o nosso cabelo’. Acharam que isso foi uma interferência no reality. Não tenho nenhum pingo de consciência pesada. Claro que só o João Luiz e a Camilla de Lucas se sentiriam representados, porque eles passaram por isso. Do resto, ninguém entendeu nada.
Estava falando da Val Marchiori. O racista não quer entender a dor do outro. Ele tenta reverter para ele, em vez de parar e escutar a nossa dor.
Eu me tornei isso aqui por conta dessas pessoas. Eu era a MC Beyoncé lá trás. Tem alguma propaganda com a MC Beyoncé? Não tem! Porque eu não era padrão. Não era aceita. Nenhuma marca queria ser representada pela MC Beyoncé. Por isso, tive que me mutilar, afinar meu nariz, porque queria ser aceita.
O funk, o pagode, a essência já estavam aqui, mas a capa não agradava. Quero que as pessoas não tenham que alisar o cabelo para agradar ninguém. Essa é a luta.
Em ‘Rainha da Favela’, várias mulheres foram reunidas, como Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda, MC Carol, negras que criaram uma tradição de falar abertamente sobre sexo na música, no funk. Qual influência que elas tiveram na sua carreira?
Cresci ouvindo essas mulheres. Achava o máximo elas falarem “eu quero sexo, quero fazer isso, gosto disso, boto ali, boto aqui”. Então, elas foram minhas inspirações. Quis homenagear mesmo as mulheres empoderadas, da comunidade, da favela. Homenagear as que não são também, mas que reconheceram o seu lugar no mundo.
Em 2018, foram várias as cobranças para se posicionar politicamente, mas você não falou sobre seu voto. Hoje faria diferente? O que acha deste governo?
Só gosto de falar de assuntos que eu sei. Queriam que eu me posicionasse, mas eu não estava pronta.
Foi ruim e foi bom termos esse governo, porque ele abriu os olhos de muita gente. Vivemos numa democracia, a galera tem que fazer o que tem vontade. Só que chegou num ponto em que é muito importante conversar sobre o assunto. Olha o que aconteceu.
Somos um dos últimos países a receber a vacina. Estamos parados. Então serviu para eu me interessar sobre o assunto. Não quero mais estar nessa de “não sei”. A gente não pode mais ficar nisso. Tem que ir para cima. O governo atual é péssimo. Estamos numa situação muito precária.
Espero conseguir sobreviver a isso e que sirva de lição, para a gente não dar mais nosso voto de bobeira, porque ele é o nosso futuro. Agora, eu estou aqui inteirada para, nas próximas eleições, falar sobre isso nas minhas redes sociais.
Ludmilla, 25
Cantora de funk, pop e pagode. Segunda mulher mais ouvida do Spotify no Brasil, foi a primeira negra a ganhar o Prêmio Multishow de melhor cantora, em 2019. Foi jurada do programa The Voice + e teve o bloco que reuniu mais público do Carnaval de 2020, com 1 milhão de pessoas
Octavio Amorim Neto: 'Militarização distorce processo político'
Retomada do poder de militares na América Latina, em especial no Brasil, traz sérias consequências para democracias, alerta cientista político
Por Malu Delgado, Valor Econômico
SÃO PAULO - Quais são as consequências, para a democracia, quando as Forças Armadas estão no centro da arena política, como no caso brasileiro? A pergunta mobiliza há dois anos o cientista político Octavio Amorim Neto, professor titular da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Em novembro passado, ele publicou um artigo intitulado De volta ao centro da Arena: causas e consequências do papel político dos militares sob Bolsonaro, no “Journal of Democracy”, publicação que é referência mundial sobre o tema. Em parceria com Igor Acácio, Amorim Neto reflete sobre as dificuldades atuais. E não é só o Brasil. Também a América Latina vivencia esse fenômeno, enfatiza.
Em entrevista ao Valor, por videoconferência, Amorim Neto ressalta o problema de termos em órgãos de comando os militares, “organização opaca e radicalmente verticalizada, baseada na hierarquia e na obediência”. Ao formar um ministério com quase 40% de militares e espalhar profissionais das Forças Armadas em mais de seis mil postos do governo, Jair Bolsonaro revela que sabe exatamente o que faz, pois consegue dissuadir o Congresso e a oposição de qualquer tentativa de impedimento. A incerteza sobre o grau de adesão da cúpula militar a um eventual golpe de Bolsonaro numa eventual tentativa de reeleição em 2022 é um ativo que o presidente explora para se manter forte no poder. A seguir, trechos da entrevista:
Valor: A América Latina já é vista por acadêmicos como a “terra das democracias militarizadas”. Quais indícios temos sobre isso?
Octavio Amorim Neto: A pandemia de covid-19 reforçou essa tendência, mas os problemas já estavam ficando patentes antes de 2020. O melhor exemplo é o México, que teve longo período de regime autoritário, com o PRI. O país se democratizou na década de 90, e militares tinham papel muito pequeno no governo. No começo do século 21, por conta do narcotráfico, vem uma reversão de um processo histórico de quase meio século, com a entrada de militares na arena política. Veio a eleição de [Andrés Manuel] López Obrador e a presença de militares aumentou mais ainda. O caso mexicano, junto com o brasileiro, são os dois mais chocantes de militarização recente. Houve, também, o golpe na Bolívia, por conta da última tentativa de reeleição do Evo Morales. Equador Peru e Colômbia sempre tiveram presença muito forte das Forças Armadas, seja para combater o crime ou para lidar com desastres naturais, ou reprimir protestos, como o que vimos no Chile, um país que era tido como democracia exemplar. Mas no Chile os militares viram as péssimas consequências e saíram. Esses são grandes casos que trouxeram a atenção da academia latino-americana e internacional.
Valor: O senhor aponta o governo Bolsonaro como sui generis, com 39% do ministério ocupado por militares, e 6 mil deles no governo. Quais as consequências disso?
Amorim Neto: Em primeiro lugar, Bolsonaro conseguiu criar um fator de dissuasão de tentativas de destituição. A entrada dos militares ajuda a evitar a repetição de um cenário como [Fernando] Collor e Dilma [Rousseff]. A experiência recente do Brasil com o regime militar ainda está viva na memória da classe política. O Brasil tem memória curta, mas de vez em quando esses fantasmas do passado renascem abruptamente. Os militares, desde 1989, são um dos principais atores políticos domésticos do país. Houve a ilusão, na comunidade acadêmica, de que o assunto foi resolvido no começo do século 21. Olha a surpresa que tivemos, a partir de 2018, e não apenas com a eleição de Bolsonaro. Em fevereiro de 2018 que tivemos o primeiro ministro da Defesa, militar, em quase 20 anos, o general [Joaquim Silva e] Luna, nomeado por Michel Temer. Em segundo lugar, Bolsonaro, apesar de estar nas política há três décadas, não tinha quadros. E onde presidentes buscam quadros? Em organizações e instituições em que confiam. Desde janeiro de 2019 eu denuncio as possíveis consequências negativas dessa militarização do governo. O melhor exemplo agora é o general [Eduardo] Pazuello. No regime democrático, a lealdade ao presidente da República tem que ser limitada. Um ministro de Estado não pode ser absolutamente leal ao presidente, tem que falar o que pensa. Se o presidente discorda, ele pede demissão e não acontece nada. No governo Bolsonaro, é totalmente diferente. Discordou, imediatamente vem o ataque da militância digital, e, em seguida, a demissão. Ou se subordina, como o Pazuello.
Valor: E esses que se subordinam inevitavelmente são os militares.
Amorim Neto: Para os militares isso esta entranhado na pele deles, porque presidente da República é o comandante chefe das Forças Armadas. Eles se sentem, mesmo na reserva, obrigados a ser absolutamente deferentes ao chefe supremo. Bolsonaro foi muito hábil neste sentido. A questão são as consequências para a democracia, para as Forças Armadas e para a Defesa Nacional de se colocar no centro da arena política uma organização como essa, opaca, radicalmente verticalizada, baseada na hierarquia e na obediência. No regime democrático, hierarquia tem limite. Para os militares, não.
Valor: A falta de transparência militar é um dos obstáculos mais delicados em democracias?
Amorim Neto: Sim. Partidos políticos, por exemplo, podem ser centralizados, dominados por um chefe, ter uma série de problemas, mas eles votam semanalmente. As preferências dos deputados estão lá, as reuniões de comissões são abertas ao público, as brigas são visíveis. Isso facilita o papel da imprensa e da cidadania, do ponto de vista da informação. Não existe isso nas Forças Armadas. Por dever de ofício, vivem sobre segredo de Estado. E trazem essa cultura para dentro do governo federal, o que o governo Bolsonaro fez massivamente. Isso que é sui generis. Não digo que essa massiva militarização acabou com a democracia, mas distorceu completamente o processo político, e criou ambiguidade enorme em relação ao papel das Forças Armadas. O papel delas não é governar o país.
Valor: O papel dos militares deveria estar circunscrito a postos de Defesa, não sendo recomendável que ocupem postos de governo?
Amorim Neto: Se militares começam a ocupar cargos de civis, o poder político deles aumenta. E ao verem seu poder político maximizado, a tarefa fundamental da democracia, que é o controle civil dos militares, torna-se muito mais difícil. Essa circunscrição é por razões políticas absolutamente fundamentais, e não apenas porque eles conhecem o “métier” militar. É porque se eles extrapolarem da área da Defesa, ou da Segurança Nacional, cria-se um problemão político, como estamos vendo hoje. A definição de carreira militar, dada pelo Comando do Exército Brasileiro é: “A farda não é uma veste da qual se despe com facilidade, até com indiferença, mas uma outra pele que adere à própria alma, irreversivelmente, para sempre”. Quando os militares dizem que militar da reserva é civil, estão negando o que diz o Comando.
Valor: A forma como o Brasil está enfrentando a covid-19 pode alertar o país e o mundo sobre esse risco de militarização na democracia?
Amorim Neto: Sem dúvida nenhuma o fato de termos um general da ativa comandando a Saúde é a expressão suprema das consequências negativas da militarização. Pazuello começou a fazer movimentos em direção à vacina, a falar publicamente. Bolsonaro foi diretamente a ele, subordiná-lo e submetê-lo. E o que ele fez? Aceitou. Isso tem a ver com o “ethos” militar, a cultura da obediência. Essa ficha não vai cair agora, mas no médio prazo, depois dessa tragédia que é a pandemia, vamos começar a ter o que havia nas décadas de 70 e 80, que é uma desconfiança enorme das Forças Armadas pelos quadros civis do país. E isso é péssimo para a democracia e é péssimo para a Defesa Nacional. Acho muito difícil voltarmos a ter um regime militar. Vamos ter sempre algo muito próximo de uma democracia, em que o Congresso terá um papel fundamental na aprovação do orçamento, na determinação de diretrizes básicas da defesa nacional. Como é que vai ser isso no pós-pandemia, no pós-Bolsonaro, depois da experiência de Pazuello e outros ministros fazendo aquilo que não lhes cabe fazer?
Valor: Bolsonaro é a expressão máxima dessa militarização, mas isso já não ocorria gradualmente no pós-impeachment de Dilma?
Amorim Neto: O problema da presença excessiva de militares no governo federal não começa no governo Temer, começa no governo Dilma. Eles foram chamados para o centro do Executivo federal por conta de grandes eventos, Copa, Olimpíadas, mas também pelo uso excessivo de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), para ajudar aos governadores diante de greves das polícias estaduais. Dilma os chamou para uma série de tarefas civis - o Exército foi chamado até para recapear pista do aeroporto de Guarulhos. Esse é o tipo de irresponsabilidade absurda das lideranças civis. E os militares passam a gostar disso. Eles dizem que é desvio de função, mas gostam de ter mais poder político, como qualquer organização. O governo do PT trouxe excessivamente os militares para dentro do governo e, ao mesmo tempo, brigou com eles via Comissão da Verdade. Tragicamente, se repetiram, com a organização militar, os problemas que Dilma teve com as organizações partidárias. Ela chamou 10 partidos para governar e brigou com quase todos. Fez a mesma coisa com militares.
Valor: Dilma foi torturada na ditadura. A esquerda foi consciente ao estimular a militarização?
Amorim Neto: Não, eles não tinham noção do que estavam fazendo. Isso tem a ver com um problema mais amplo: não há, na classe política brasileira, ao centro, à esquerda e à direita, uma reflexão sólida sobre o que fazer com as Forças Armadas. Houve um pragmatismo enorme de usar as Forças Armadas como ‘Bombril’, serve pra tudo. Tem problema na polícia do Maranhão? Manda o Exército. Tem desabamento no Espírito Santo? Manda o Exército. Não consegue recapear o aeroporto em São Paulo? Manda o Exército. Na Paraíba falta água? Manda o Exército. O que é isso! É uma irresponsabilidade. As Forças Armadas não são para isso. Qualquer problema que existe no Brasil e que tem a ver com a fraqueza das nossas capacidades estatais são chamadas as Forças Armadas. Resultado: as Forças Armadas voltaram a ser uma organização política fundamental para o regime democrático brasileiro, e isso veio concomitantemente ao colapso das organizações partidárias. Não houve reflexão nenhuma pelas grandes lideranças políticas civis do Brasil quando passaram a utilizar as Forças Armadas para tudo. Elas também são responsáveis pelo imbróglio que vivemos.
Valor: Cometemos erros na nossa transição democrática?
Amorim Neto: A transição brasileira foi bem-sucedida em vários aspectos, mas precisou de um grande pacto entre civis e militares, que implicou a anistia àqueles que perpetraram violações de direitos humanos. As Forças Armadas Brasileiras deixaram o poder em 1985 relativamente fortes, enquanto que na Argentina estavam totalmente desmoralizadas. A correlação de forças aqui era relativamente boa para os militares. Para mudar isso, precisaria de muita habilidade política, o que fizemos sob Fernando Henrique e Lula. A outra alternativa seria ser muito afirmativo em relação à necessidade da supremacia civil. Isso nossas lideranças partidárias nunca se empenharam para fazer. Por que as elites civis brasileiras têm tamanho desinteresse sobre o papel das Forças Armadas? É uma reflexão escassa. E o Itamaraty é parte deste problema, porque nossos diplomatas são alérgicos a qualquer discussão sobre a presença maior das Forças Armadas na política externa.
Valor: E os militares deveriam estar incluídos neste debate de política externa, democraticamente?
Amorim Neto: Sim, eles têm muito o que dizer. Hoje há problemas na América do Sul que exigem Forças Armadas preparadas. Temos o problemão da Venezuela, o êxodo venezuelano. Qual teria sido a melhor maneira de manejar os militares nos últimos 25 anos? Era ativar arenas institucionais em que eles têm um papel determinado pela lei. Exemplo: a convocação do Conselho de Defesa Nacional. Jamais foi convocado. Se fosse, nossos líderes conheceriam melhor a cabeça dos militares, e os militares conheceriam melhor a cabeça de nossos líderes. Nossos líderes políticos se tornaram alérgicos à questão militar. Se quisermos colocar os militares para fora da política depois de Bolsonaro, tudo terá que ser matéria de reflexão.
Valor: A falência da segurança pública fortaleceu a entrada dos militares na política pelo voto, e temos ainda as milícias. Essa conjuntura não vai interditar esse debate?
Amorim Neto: Não tenha dúvida disso. O debate vai ser dificílimo. Por isso tem que ser tema da campanha presidencial de 2022. Que poder político terá um presidente da República e seus aliados no Congresso para reverterem essa situação de militarização da política num regime democrático como o Brasil? É fundamental essa discussão pública, isso tem que chegar às lideranças políticas. Qualquer um que queira disputar com Bolsonaro, [João] Doria, [Luciano] Huck, Lula, tem que discutir isso. Se optarem por não discutir, pela estratégia de baixo custo, que é a padrão dos civis brasileiros para lidarem com questões militares, vamos continuar convivendo com os fantasmas do pretorianismo.
Valor: A invasão do Capitólio nos EUA suscitou um debate mundial. Há risco de Bolsonaro dar golpe com o aval militar?
Amorim Neto: Em dezembro de 2020, o general [Edson Leal] Pujol participou de teleconferência para discutir os planos do Exército para os próximos 10, 20 anos. Falou, de forma muito suave, que a política não deve entrar nos quartéis. Foi a mensagem mais clara que uma liderança institucional das Forças Armadas deu de que o Alto Comando do Exército não vai se associar a aventuras golpistas. Mas resta a questão dos subordinados. Minha interpretação é que o Exército é radicalmente profissional, e a disciplina vai prevalecer. Se o Alto Comando não quer aventura, os escalões intermediários e inferiores não vão entrar nessa. Essa mensagem foi captada pelo bolsonarismo e não à toa passaram a testar outra instituição. Estamos vendo agora o debate sobre a perda de controle das Polícias Militares pelos governadores. O populismo autoritário de extrema direita, a la Trump, vai testando todas as instituições, Congresso, Judiciário, Forças Armadas, polícia... Se perde aqui, tenta acolá. Se a proposta de maior autonomia das polícias militares é aprovada no Congresso, Bolsonaro e o bolsonarismo ganham. Se é derrotada, ele vai dizer: ‘eu tentei, estou sempre junto dos meus seguidores, quem me derrotou foi a velha política, as elites’. Acho que via militar está bem estreita e fechada agora, depois do pronunciamento do general Pujol. E soube que a Marinha mandou informar a lideranças do Congresso que também está fora disso.
Valor: Há chances de esses projetos das polícias prosperarem ou vai depender da eleição no Congresso?
Amorim Neto: Dificilmente passará, inclusive porque o Exército não gostou da ideia. É um desafio ao monopólio e autoridade, sobretudo do Exército, no que diz respeito ao uso da força legítima dentro do território nacional. Para Bolsonaro ser derrotado não é um problema. O fundamental é marcar posição perante o seu eleitorado radical. E tem o segundo benefício: desvia a atenção da má-gestão do governo na pandemia, educação, etc.
Valor: Parte da cúpula militar está ao lado de Bolsonaro. Como ter tanta certeza sobre o que farão?
Amorim Neto: Essa incerteza persistirá até o final do governo. Isso é um grande ativo na mão do Bolsonaro, a incerteza permanente da classe política, do jornalismo, da academia a respeito de para onde vão as Forças Armadas.
Valor: Por que os militares foram para o governo Bolsonaro?
Amorim Neto: Há décadas os militares reclamam de salários baixos e parcos investimentos, além de instabilidade nos gastos de Defesa. Quase todo o orçamento da Defesa vai para custeio, salários. É papel deles reduzir o gasto com pensões e salários, e o que vimos no governo Bolsonaro foi justamente o contrário. E a questão do anticomunismo sempre esteve presente no coração e nas mentes das Forças Armadas, desde a década de 30. Bolsonaro foi hábil ao pegar essa força subconsciente do anticomunismo militar brasileiro e adequá-la ao século 21, chamando-a de antipetismo. E a corrupção sempre foi o catalisador desse anticomunismo e salvacionismo militar.
Valor: Não há chance de impeachment com a militarização?
Amorim Neto: Vai depender muito do resultado da eleição da Câmara em fevereiro. Se o Arthur Lira (PP-AL) vencer, não teremos impeachment. Bolsonaro continua competitivo, mesmo com as perspectivas negativas da economia em 2021 e 2022. Isso porque a oposição continua muito fragmentada, a esquerda continua brigando entre si. A esquerda, se quiser derrotar Bolsonaro em 2022, terá que se unir para apoiar um candidato de centro. Isso é simples e óbvio, mas essa discussão ainda está muito atrasada.
Ruy Castro: O poder gera folgados
Donald Trump, depois de presidente, nunca mais abriu uma porta; Bolsonaro, a Constituição
Num dos melhores episódios da última temporada de “The Crown”, série da Netflix, há uma reveladora sequência envolvendo a personagem de Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, interpretada por Gillian Anderson. Ela é mostrada em casa, ao fogão, de panela na mão e avental, aviando o jantar, enquanto seus nervosos ministros, também na cozinha, tentam convencê-la a aprovar uma sanção à África do Sul, exigida pelos membros da Commonwealth. É uma decisão de que depende a unidade do Império Britânico. Mas Thatcher nem cogita interromper o preparo de sua omelete ou fritada para discutir o assunto. Eles saem de mãos abanando.
Margaret Thatcher foi uma das mulheres mais poderosas do século 20. Tomou amargas medidas econômicas, peitou a monarquia, declarou guerra à Argentina e ganhou todas. Era a Dama de Ferro. Se quisesse, teria oito chefs à sua disposição para cozinhar, mas preferia ela própria pilotar suas trempes. Em diversas ocasiões, a série a mostra como uma governante modesta, atenta a custos. Numa produção de luxo quase indescritível, seu guarda-roupa pouco varia, como se ela só tivesse mesmo dois ou três tailleurs.
Duvido que sir Winston Churchill, seu mais ilustre antecessor na vida real, tenha algum dia fervido uma água. Ou Evita Perón, “mãe dos descamisados”, dito “Por favor” a um serviçal. Ou Fidel Castro, fumante de charutos, esvaziado um cinzeiro. Ou Jacqueline Kennedy, a deusa, lavado uma calcinha.
O poder faz do mais consciencioso um folgado. Donald Trump, depois de presidente dos EUA, nunca mais abriu uma porta. Jair Bolsonaro, a Constituição.
Acabo de saber que, na dita sequência de “The Crown”, o objeto na mão da Dama de Ferro era uma travessa, contendo um prato a que, com esmero e ternura, ela estava aplicando rodelas de ovo cozido —uma paella, talvez. A dama podia ser de ferro, mas só do gabinete para dentro.
Merval Pereira: O poder corrompe
Dois casos semelhantes, aqui e nos Estados Unidos, revelam como presidentes autoritários são controlados dentro da democracia por assessores que não perdem a noção da realidade, nem o escrúpulo diante dos absurdos que vêem acontecer nos bastidores do Poder.
O jornal The New York Times revelou ontem, dois anos depois, o autor do artigo anônimo que publicou em setembro de 2018 contra o presidente Donald Trump, numa decisão inédita que causou repercussão à época. É Miles Taylor, ex-chefe de gabinete do Departamento de Segurança Nacional dos EUA quando escreveu o artigo, chamando o presidente de “impetuoso, contraditório, mesquinho e ineficiente”. O autor revelou que fazia parte de uma “resistência silenciosa” a Trump dentro do próprio governo dos EUA.
Também ontem o jornal Correio Brasiliense publicou um artigo do General Rego Barros, ex-porta-voz do Palácio do Planalto que critica o presidente Bolsonaro indiretamente quando afirma, por exemplo, que o poder “inebria, corrompe e destrói”.
Assim como nos Estados Unidos, o anonimato permitiu que um assessor de alto nível criticasse Trump sem se arriscar, aqui não é preciso que o General Rego Barros explicite que fala sobre Bolsonaro, pois ele também fez parte de uma “resistência silenciosa” que tentou dar um rumo ao governo.
Ele usa imagens da Roma Antiga para alertar que os generais, vitoriosos, faziam-se “acompanhar apenas de uma pequena guarda e de escravos cuja missão é sussurrar incessantemente aos seus ouvidos vitoriosos: “Memento Mori!” — lembra-te que és mortal”. Fica claro no texto do General Rego Barros que ele considera perigoso o caminho que Bolsonaro tomou no governo, chegando a usar a imagem de “um governante piromaníaco” para retratar o personagem sobre quem escreve.
“Os líderes atuais, após alcançarem suas vitórias nos coliseus eleitorais, são tragados pelos comentários babosos dos que o cercam ou pelas demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião”, escreve o general. Como se referisse à sua experiência no Palácio do Planalto, ele lamenta: “Os assessores leais — escravos modernos — que sussurram os conselhos de humildade e bom senso aos eleitos chegam a ficar roucos. Alguns deixam de ser respeitados. Outros, abandonados ao longo do caminho, feridos pelas intrigas palacianas. O restante, por sobrevivência, assume uma confortável mudez. São esses, seguidores subservientes que não praticam, por interesses pessoais, a discordância leal”.
No inicio do governo, vindo do gabinete do General Villas Boas, o mais importante chefe militar do Exército nos últimos tempos, Rego Barros tinha poderes, tanto que conseguiu que o presidente Bolsonaro recebesse jornalistas em cafés da manhã periódicos. Foi engolido, no entanto, pelas “intrigas palacianas”, assim como aconteceu com o General Santos Cruz, ambos alvos do filho 02, o vereador Carlos Bolsonaro.
Vários ministros militares vieram do entorno do General Villas Boas, como os Generais Luiz Eduardo Ramos, que gosta de se dizer “do time do Villas-Boas”, e Braga Neto. O desabafo do ex-porta voz representa o pensamento de uma ala militar que se vê cada vez mais desconfortável dentro do Governo, especialmente depois que o Centrão passou a ser o esteio parlamentar do governo.
Escreveu Rego Barros: “É doloroso perceber que os projetos apresentados nas campanhas eleitorais, com vistas a convencer-nos a depositar nosso voto nas urnas eletrônicas são meras peças publicitárias, talhadas para aquele momento. Valem tanto quanto uma nota de sete reais”.
O desabafo de Rego Barros tem repercussão dentro do Exército, e espelha o pensamento de um grupo que tem certos pudores e constrangimentos diante de atitudes do presidente. Há um limite - o Rubicão a que se refere o General no seu artigo, que Bolsonaro não poderá atravessar -, e se Bolsonaro não passou dele, está chegando perto.
Maria Cristina Fernandes: A única frente ampla é a do poder
Enquanto a esquerda se divide, Bolsonaro aprende a compor
Numa disputa em 5.569 municípios, sempre será possível comprovar uma tese e seu contrário, principalmente na eleição mais apartada da história. Uma parte dos eleitores está trancada na autossuficiência de seu ensino e trabalho remoto, plano de saúde e entregas em casa. Outra, mais numerosa, se depara com o despreparo das escolas públicas para o ensino à distância, de um transporte público desaparelhado para um serviço sem riscos, de postos de saúde desorientados pela ausência de uma política nacional de prevenção à pandemia e de um Estado que pretendeu anestesiar tudo isso com um auxílio financeiro.
É difícil imaginar que tamanhas fissuras num colégio eleitoral de 147.918.498 pessoas mantenham quaisquer teses em pé, mas aí estão muitas a pontificar. A primeira delas é a de que o mote da anti-política, que moveu as eleições de 2018, perdeu força. Três indícios respaldam esta tese: o presidente Jair Bolsonaro abraçou a velha política e respira sem ajuda de aparelhos; estrelas da renovação, como os governadores Wilson Witzel (RJ), Carlos Moisés (SC) e Wilson Lima (AM), caíram em desgraça; e, finalmente, a gravidade da pandemia levou o eleitor a revalorizar a experiência de políticos testados.
A liderança dos prefeitos Alexandre Kalil (PSD), em Belo Horizonte, Rafael Greca (DEM), em Curitiba, Marquinhos Trad (PSD), em Campo Grande, dos ex-prefeitos Eduardo Paes (MDB), no Rio, e Edmilson Rodrigues (Psol), em Belém, e do ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), em Manaus, serve aos arautos da tese. Por outro lado, se houvesse tanto conformismo assim com a política tradicional, o candidato do Psol em São Paulo, Guilherme Boulos, não estaria tão à frente de seus adversários de esquerda, todos eles com mais estrada na política. Também fica difícil explicar, com a tese da revalorização de políticos testados, a liderança da candidata do PCdoB em Porto Alegre, Manuela D’Ávila, que hoje tem a soma das intenções de voto de um ex-prefeito, José Fortunati (PTB) e de seu ex-vice, Sebastião Melo (MDB).
É bem verdade que pesquisa não é voto, mas trata-se da disputa mais curta da história. É, também, uma campanha com poucos ou nenhum debate em que os candidatos que largam na frente estarão menos expostos ao contraditório. Sempre podem cair, mas correm mais o risco de tropeçar nas próprias pernas, como, por exemplo, o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), líder da disputa em São Paulo com apoio do presidente Jair Bolsonaro, ao dizer que a sujeira dos moradores de rua de São Paulo os imuniza contra o coronavírus.
A outra tese é a de que a eleição municipal prediz o desempenho dos partidos nas eleições proporcionais dois anos depois. A tese não resiste ao resultado das ultimas eleições. Entre 2012 e 2016, o MDB manteve, com uma variação negativa de 1%, seu número de prefeituras. Nas eleições gerais (2018) que aconteceram no meio do mandato desses prefeitos, porém, o partido perdeu metade de suas cadeiras na Câmara dos Deputados.
O PSDB chegou a crescer em número de prefeituras entre 2012 e 2016 (15%), mas não foi capaz de evitar que, na eleição de 2018, perdesse quase metade de suas cadeiras na Câmara dos Deputados. Com o DEM foi diferente. O partido manteve relativamente estável o número de prefeituras (-4%) entre as duas últimas eleições municipais, mas conseguiu aumentar em 38% o número de cadeiras na Câmara nas últimas eleições. Já o PT teve o maior tombo em número de prefeitos (perdeu 60%), mas foi capaz de conter as perdas de sua bancada, com uma redução de 20% na atual composição.
Ainda que o resultado de uma eleição não explique a outra, este ano os partidos não têm alternativa senão buscar nesta a sobrevivência para a próxima. Por isso, batem recordes em número de candidatos. Com a proibição de coligações e a entrada em vigor da cláusula de desempenho nas eleições de 2022, os partidos precisam ganhar musculatura com bases municipais capazes de gerar cabos eleitorais que os livrem da guilhotina.
Esta mudança desfavoreceu qualquer tentativa dos partidos para começar, a partir das eleições municipais, a ensaiar uma frente ampla para as eleições gerais capaz de enfrentar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. No conjunto dos 96 maiores colégios eleitorais do país, cidades que podem ter segundo turno, o PT disputará sem coligação em 36 delas, como mostrou o Valor (23/9). As mudanças na lei explicam uma parte. O cálculo político das lideranças explica a outra.
O do PDT, por exemplo, passa por sedimentar uma aliança capaz de aglutinar o centro e levar, de arrastão, a esquerda, em torno de Ciro Gomes. Foi assim que se frustrou, num domingo de agosto, a derradeira tentativa de se formar uma frente em torno do deputado Marcelo Freixo (Psol), no Rio, cuja disputa é a mais emblemática para o presidente da República e sua família.
O PT topava retirar a candidatura deputada federal Benedita da Silva, mas o PDT se recusou a discutir em que termos negociaria a candidatura da deputada estadual Martha Rocha. No dia seguinte ao encontro combinado, Ciro estava em Salvador firmando aliança com o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM). Sinalizou o mesmo rumo já tomado pelo partido em Fortaleza, onde rompeu a aliança com o PT, responsável pela aliança que elegeu os atuais prefeito e governador. Ciro reaproximou-se, depois de décadas em raias separadas, do senador Tasso Jereissati (PSDB). O candidato de ambos, o deputado estadual Sarto Moreira (PDT), está em terceiro.
Na disputa de novembro, o eleitor quer, sobretudo, alguém que cuide do espaço e dos serviços públicos. Leva em consideração o que dispõe hoje e as chances de melhorar. Isso não impede que se constate a ausência de ensaios para as movimentações de 2022. Em toda eleição lideranças testam compromissos, capacidade de se cumprir acordos e a definição de metas em conjunto para a conquista do poder.
Por enquanto, é a busca de sua manutenção que sai na frente. O presidente sem partido tem se movimentado em Brasília, em suas alianças com o Congresso e o Judiciário, com muito mais foco para formar uma frente ampla para 2022, do que a miríade de partidos que um dia compuseram a esquerda.
Alberto Aggio: “A alternância no poder se fará com legitimidade e democraticamente”
Ao analisar a vitória do candidato do PSL Jair Bolsonaro, eleito neste domingo (28) o 42º presidente do Brasil com uma diferença de mais de 10 milhões de votos sobre seu adversário, Fernando Haddad (PT), o professor e historiador Alberto Aggio disse que “a alternância no poder se fará com legitimidade e democraticamente”, operando uma “mudança grande” representada pela volta da direita ao governo federal – depois de “alijada do poder com o final da ditadura militar” -, ao derrotar todas as forças que participaram do processo de democratização do Brasil.
“Hoje a extrema direita emerge travestida de um populismo de perfil iliberal que tem vigência mundial”, disse Aggio, ao comentar o resultado da eleição presidencial (veja abaixo) para o Portal do PPS. O historiador também fala da reação do PT à derrota nas urnas, da fragmentação partidária dos governos estaduais e que o “Brasil está vivo. E, a despeito de tudo, ‘por si mouve’!”.
“A eleição acabou…
Bolsonaro venceu com mais de 10 milhões de votos de diferença. Não houve a virada de ultima hora que o PT imaginou. O Brasil tem um novo presidente. A alternância no poder se fará com legitimidade e democraticamente. Ela, de fato, vai operar uma mudança grande: a direita que havia sido alijada do poder com o final da ditadura militar retorna a ele, batendo todas as forças que participaram da democratização.
Mas o tempo não passou em vão. Hoje a extrema direita emerge travestida de um populismo de perfil iliberal que tem vigência mundial. Derrotado, o PT não alterou seu posicionamento. Não reconheceu a vitoria do seu opositor, pelo menos nos primeiros momentos. E, ato contínuo, Haddad afirmou um discurso que reproduz a divisão “nós contra eles”: Haddad assumiu a perspectiva de uma “outra nação” que vai precisar de “coragem” para enfrentar um suposto governo baseado exclusivamente da repressão a tudo e a qualquer coisa. Um irrealismo.
Por fim, no plano dos governos estaduais, não houve surpresa nenhuma. O resultado é de muita fragmentação, com diferentes partidos, os tradicionais e os novos (PSL e Novo), conquistando posições importantes. O PT se fixou no Nordeste, dividindo o poder principalmente com o PSB, e o restante está distribuído no território nacional. O PSDB venceu em Estados importantes, especialmente em São Paulo. Mas atenção: com Doria haverá um aggiornamento do PSDB, sob sua liderança. Esse é um ato democrático e é preciso não rejeitar, de saída, essa mudança.
O fato é que nem o MDB sofreu derrotas definitivas. Contudo, é preciso saber se haverá nova composição e um novo equilíbrio diante de tanta fragmentação. Quem diria: o Brasil está vivo. E, a despeito de tudo, ‘por si mouve’!
Luiz Carlos Azedo: Presidente sem estado-maior
Publicado no Correio Braziliense em 02/03/2017
Um velho princípio militar diz que a tropa de assalto não serve para manter a ocupação. É mais ou menos essa a situação
O presidente Michel Temer foi protagonista de sua chegada ao poder, mas não é dono das circunstâncias em que governa. Elas foram favoráveis ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas continuam sendo desfavoráveis ao ato de governar. Temer é prisioneiro das circunstâncias que o fizeram chegar ao Palácio do Planalto, assim como seus parceiros políticos que apearam Dilma e o PT do poder.
Temer herdou a impopularidade do governo do qual já fazia parte, mas não consegue revertê-la por três razões: primeiro, enfrenta uma oposição implacável; segundo, os problemas têm envergadura maior do que o tempo de que dispõe para resolvê-los; terceiro, não tem um estado-maior capaz de enfrentar essas duas questões e otimizar as possibilidades reais de melhorar a vida das pessoas.
Essa é uma situação recorrente nos governos da América Latina, muito bem retratada no livro O líder sem estado-maior (Fundap, São Paulo, 2000), de autoria do ex-ministro do Planejamento do governo Allende Carlos Matus — escrito na famosa Isla Negra, cantada em versos por Pablo Neruda, no Chile, em agosto de 1996. É uma reflexão sobre os atos e responsabilidades dos governantes, nos quais a racionalidade deve levar em conta as emoções sociais ao pensar, planejar e agir estrategicamente e avaliar as consequências antes de decidir. No pensamento de Matus, são muitas as remissões autocríticas à crise política e de governo que resultou no golpe de Pinochet e na morte de Allende, mas não somente: o economista critica o modus operandi dos palácios de governo e gabinetes presidenciais latino-americanos em geral.
É antológica a parábola da “jaula de cristal”: o líder isolado, prisioneiro da corte “que controla os acessos à sua importante personalidade”. O presidente sem “vida privada, sempre na vitrine da opinião pública, obrigado a representar um papel que não tem horário, não pode aparecer ante os cidadãos que representa e dirige como realmente é, nem transparecer seu estado de ânimo”. Temer é um líder sem estado-maior. Um velho princípio militar diz que a tropa de assalto não serve para manter a ocupação. É mais ou menos essa a situação. Não, necessariamente, por uma questão de habilidade política ou experiência administrativa.
Seu estado-maior não era nenhuma Brastemp, mas tinha capacidade ofensiva e força política no Congresso. Entretanto, foi implodido pela Operação Lava-Jato. Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo), Romero Jucá (Planejamento) e, agora, Eliseu Padilha (Casa Civil), licenciado, deixaram o governo. Restou Moreira Franco (ex-Parceria de Investimento), que foi blindado ao assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Não caiu com o barulho da bala, mas isso não significa que tenha o corpo fechado. Ninguém tem no Palácio do Planalto, nem mesmo o presidente peemedebista, enquanto não for absolvido no processo impetrado pelo PSDB que pede a cassação da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Campanha
Quanta ironia! É o PSDB que pode reforçar o estado-maior de Temer, melhorando as condições de governança de sua administração, mas a ação está chegando perto do julgamento e os depoimentos dos delatores da Operação Lava-Jato, principalmente o de Marcelo Odebrecht, podem fragilizar ainda mais a situação do governo.A estratégia de Temer é mudar a agenda do governo da crise ética para a retomada do crescimento. E descentralizar as tarefas políticas, delegando a ministros de fora da cozinha e parlamentares de sua confiança a missão de aprovar as reformas da Previdência e trabalhista no Congresso. Ambas são consideradas a missão histórica do seu governo de transição.
Mas a que preço? Essa é a grande interrogação. O teste de força entre a base parlamentar e a oposição das corporações será decisivo para o futuro do governo e da economia. Enquanto o país vive esse impasse, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva põe sua campanha na rua, com as palavras de ordem “Fora, Temer! ” e “Diretas, já! ” (o que é inconstitucional) e culpa o governo de transição pela crise econômica, que, na verdade, foi causada pela política equivocada de seu próprio governo e do de Dilma. Lula se vitimiza na tentativa de escapar da Operação Lava-Jato, que pode cassar seus direitos políticos e tirá-lo da disputa presidencial. Pretende, nesse caso, ser o grande eleitor de 2018, mesmo que esteja eventualmente na cadeia.
Luiz Werneck Vianna: Em meio à tempestade
Inútil ficar com o olhar perdido em 2018. A hora da grande política é agora.
Deu a louca no mundo e a roda do destino parece estar girando para trás. De um horizonte cosmopolita, que ainda ontem se podia divisar, estamos sendo devolvidos, por poderosos golpes inesperados, como o do Brexit dos ingleses e desse que nos atinge o queixo em cheio com a eleição de Donald Trump, ao espaço anacrônico do Estado-nação hobbesiano. A política ameaça regredir às trevas dos anos 1930, tendendo a convertê-la, como naquela década sombria, a instrumento exasperador da competição econômica por mercados que nos levou à hecatombe da 2.ª Guerra Mundial. Entre tantos sinais nefastos que se prenunciam – plausível uma vitória eleitoral da extrema direita na França –, estão aí as investidas contra a União Europeia e a ONU, visando a rebaixar seu papel civilizatório e recusar suas promessas em favor da concórdia e de paz entre os povos.
Os riscos a que estamos expostos não resultam, obviamente, de causas naturais, mas da imprevidência humana, que, mesmo advertida pelo lento derruimento de nossas instituições da democracia política a que inermes temos assistido, principalmente pelo esvaziamento dos partidos e da vida associativa, não foi capaz de reagir ao que havia de legítimo nas queixas e no sentimento de descrença do homem comum quanto a elas.
Não deixa de ser irônico que, diante de um diagnóstico quase consensual sobre a perda de centralidade do mundo do trabalho na cena contemporânea, tenha vindo de redutos tradicionais da vida operária, na Inglaterra do Brexit e dos EUA de Trump, um bom contingente de votos a favorecer a vitória desses dois movimentos recessivos. Não lhes faltaram motivos, pois ficaram excluídos do rol dos ganhadores com o processo da globalização, quer pelas transformações introduzidas nos processos produtivos que suprimiram postos de trabalho, quer pela transferência de fábricas dos antigos centros industriais para a periferia do nosso sistema-mundo.
Mais que minguar demograficamente, essas classes foram, em boa parte, esvaziadas do seu poder social e influência política, e, pior, suas gerações mais velhas, sem condições de adaptação a essas mudanças, foram relegadas ao limbo com o resultado de diluir sua outrora orgulhosa identidade, deixando-as vulneráveis à síndrome do ressentimento, cujos efeitos negativos ora testemunhamos em tristes episódios. A globalização, mais que um processo – que, aliás, vinha de muito longe –, foi também uma estratégia orientada para fins econômicos, diplomáticos e políticos na boa intenção de incentivar a cooperação internacional e criar as bases para uma sociedade cosmopolita.
Contudo seu sistema de orientação, tal como se evidencia na história da criação da União Europeia, confiou mais na capacidade da economia de produzir os resultados desejados do que nas dimensões integrativas da política e do social, que não avançaram na mesma medida. Por ironia, o script do século 19, em sua crença nos mecanismos benfazejos de uma economia que se autorregula, como nos textos do filósofo vitoriano Herbert Spencer, como que ressurgiu de modo encapuzado e contraditório em meados do século seguinte, momento em que o welfare State parecia experimentar seu auge. Passou-se ao largo da dura crítica em que Émile Durkheim, ainda em 1893, no clássico Da Divisão do Trabalho Social, sustentou com boas razões que, ao invés de nos trazer a solidariedade social que ela prometia, ainda mais fragmentaria o corpo social.
Não têm sido poucos os que denunciam, J. Habermas à frente – que não ignorou Durkheim em sua obra maior –, o déficit democrático que persiste como marca de origem da União Europeia, arquitetura que lhe veio da obra de elites ilustradas por cima da soberania popular, como um dos responsáveis pela ressurgência de temas e comportamentos que pareciam condenados à obsolescência, como a xenofobia e o nacionalismo, entre outras pragas que agora nos assolam.
Os alertas soam de todos os lados sobre os perigos de um cenário em que a economia se torne meio de projeção de poder dos Estados-nação, sob o registro do protecionismo e da autarquização dos mercados nacionais numa versão desastrada do populismo latino-americano. Contra isso já se contam instituições como a ONU e a própria União Europeia, que se espera atualize seu repertório às novas circunstâncias reinantes, além da consciência de que se torna cada vez mais necessário estimular a emergência de uma sociedade civil internacional. Utopias realistas nesse novo e ameaçador cenário se fazem cada vez mais ao alcance das mãos, a partir de processos já em curso, como os da legislação ambiental e os da mundialização do Direito, que abrem portas para uma sociedade cosmopolita, tão bem estudados pela pesquisadora francesa Meireille Delmas-Marty.
Ações políticas guarnecidas por governos de Estados poderosos podem refrear esse movimento, mas não têm o condão de fazê-los regredir porque há algo de irresistível neles. Aqui, no nosso canto latino-americano, não devemos apequenar-nos em meros espectadores do que se passa no mundo. Participar ativamente importa para nós consolidar e aprofundar as instituições da nossa democracia política, procurar as brechas no novo cenário internacional que se avizinha, tal como procedemos nos anos críticos de 1930, a fim de encontrarmos oportunidades para alavancar a economia e nos movermos no sentido de pacificar politicamente o País.
Se esses objetivos, antes da recente sucessão presidencial nos EUA, não contavam com soluções fáceis, eles parecem tornar-se ainda mais espinhosos depois dela. Com tirocínio político, que não nos faltou em outros momentos agudos da nossa História, podemos chegar a um bom porto. Em meio aos muitos perigos que nos rondam, inútil ficar com o olhar perdido em 2018. A hora da grande política é agora.
* Luiz Werneck Vianna é cientista político, sociólogo e Presidente de Honra da Fundação Astrojildo Pereira
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,em-meio-a-tempestade,10000092390
Luiz Carlos Azedo: Os laços da perdição
Pela primeira vez, a esquerda no poder promoveu uma política de concentração e internacionalização de capital nunca vista, com os chamados “campeões nacionais”
A discussão sobre capitalismo de laços no Brasil não é nenhuma novidade, assim como a tentativa de reinventar o capitalismo de Estado. Por R$ 100 é possível comprar pela internet dois livros de Sérgio Lazzarini sobre o assunto. Professor do Insper, o economista é um estudioso das imbricadas relações empresa-Estado no Brasil e do modelo político adotado pelo PT e que entrou em colapso com o escândalo da Petrobras, uma espécie de fusão das operações ilícitas envolvendo empresários, gestores públicos e políticos investigados pela Operação Lava-Jato com os mecanismos de intervenção do governo na economia, durante os mandatos de Lula e de Dilma.
Não se pode atribuir ao PT tudo o que aconteceu, até porque as estruturas do Estado e do capitalismo brasileiros foram historicamente constituídas. O problema é que, ao assumir o poder, o partido foi abduzido pelos laços perversos do sistema, ao conquistar a chave do cofre e assumir as redes da política. O transformismo petista, porém, é mascarado pela retórica neopopulista de amplos setores da esquerda, na qual o nacional desenvolvimentismo ainda serve de biombo ideológico. Encaixa-se como luva na velha doutrina dos movimentos de libertação nacional durante a guerra fria: aliança com a burguesia nacional contra o imperialismo, num esquema em que a emergência da China na economia globalizada e o jogo duro da Rússia de Putin contra os Estados Unidos na Ucrânia e no Oriente Médio substituíram a antiga União Soviética e os ex-aliados da Cortina de Ferro. Os sindicatos e a esquerda europeia se encarregaram de dar ressonância internacional ao projeto.
Lazzarini notou que, nos processos de licitação, formavam-se consórcios com atores conhecidos, com a participação do governo e seus agentes, mesmo depois do período de privatizações. O Estado já não tinha controle total sobre grandes empresas, com exceção das Petrobras; havia diluído sua participação em algumas empresas (privatizadas ou não) para atuar em uma rede muito maior de organizações. Com isso, ao lado da ofertas públicas de ações (IPOs – Initial Public Offerings) nas empresas estatais a novos investidores nacionais e internacionais, o Estado permanecia forte e presente em muitos setores.
O Estado não se afastou de atividades econômicas por meio da privatização e da abertura econômica. Pelo contrário, adotou um modelo de maior capilaridade, aumentando o número de empresas que contam com a participação do BNDES e dos fundos de pensão de estatais, que têm laços políticos com o governo. E essa ramificação do Estado é tão ou talvez mais poderosa do que o modelo anterior, concentrado em grandes empresas. Além disso, os mesmos proprietários e grupos, com laços cruzados, estavam em muitas empresas. Com isso, grupos privilegiados pelo governo, em troca de propina, passaram a ter uma grande presença transversal na economia.
Pela primeira vez, a esquerda no poder promoveu uma política de concentração e internacionalização de capital nunca vista, os chamados “campeões nacionais”, cuja consequência foi a criação de um ambiente econômico degenerado e pouco competitivo. Ao contrário do que apregoa o discurso de defesa da “engenharia nacional” e da reserva de mercado para a inovação e tecnologia nacionais, quando as empreiteiras formaram o cartel que controlava todos os grandes projetos do governo, da construção de plataformas de petróleo a estádios de futebol, puxaram para baixo a competitividade, a inovação, a qualidade e a produtividade no país.
Caso de polícia
As conexões internacionais do modelo são parte de um esquema de reprodução do projeto de poder, no qual o BNDES entrava como fonte financiadora. A maioria dos empréstimos camaradas tem prazo em torno de 12 a 15 anos, embora alguns contratos com Cuba destoem por terem até 25 anos. As taxas de juros estão entre 3% e 6% ao ano, em dólar. O financiamento desses contratos se dá via Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que recebe, nesses casos, remuneração atrelada a taxas internacionais. Mas essas são muito mais baixas do que o custo que o próprio governo consegue captar, aqui ou no exterior. E o próprio Tesouro tem coberto rombos no FAT.
Pois bem, quando um dos maiores fornecedores da Petrobras, com contratos no valor de R$ 25 bilhões, o estaleiro Keppel Fels, reconhece na Bolsa de Cingapura, onde fica a sua sede, que os pagamentos feitos a seu representante no Brasil “podem ser suspeitos”, desnuda os laços mais perversos e conexões internacionais desse modelo, que virou caso de polícia. Seu representante no Brasil é o lobista e engenheiro Zwi Skornicki, preso pela Operação Lava-Jato, que já disse que pagou US$ 4,5 milhões (R$ 14,4 milhões, em valores atuais) ao marqueteiro João Santana, que cuidou das campanhas de Lula (2006) e de Dilma Rousseff (2010 e 2014). A mulher e sócia de Santana, Mônica Moura, confessou que recebeu os US$ 4,5 milhões numa conta na Suíça, uma dívida da campanha de 2010. Os ataques ao juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, não salvarão o modelo fracassado. A crise fiscal do país exige do Estado e da sociedade uma mudança de paradigma.
Fonte: pps.org.br