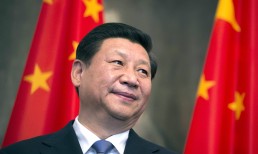educação
Luiz Carlos Azedo: Mais mulheres e negros no pleito
A maior distribuição de recursos do fundo eleitoral para as mulheres e os negros deve aumentar a participação feminina nos espaços de poder e combater o “racismo estrutural”
Não existe tradição política mais forte no Brasil do que as eleições de vereadores. Elas antecederam tudo o que existe institucionalizado em nosso país, a partir da formação da primeira Câmara Municipal, em 1532, na Vi-
la de São Vicente. Vêm de uma tradição medieval portuguesa, que foi fundamental para a consolidação de seu império colo- nial, da conquista de Ceuta (1415) à devolução de Macau à China (1999), ao lado das beneficências e santas casas. No caso de São Vicente, foi a alternativa encontrada por Martim Afonso para sedimentar a presença portuguesa, depois do fracasso de suas expedições à bacia do Prata por terra, na qual desapareceram 70 homens, e por mar. Ele próprio naufragou num baixio, frustrando o objetivo de subir o Rio Paraná e penetrar no continente, como o rei Dom João III ordenara.
Depois que Martim Afonso voltou a Portugal,a vila de São Vicente ficou completamente abandonada por duas décadas. Era um povoado formado por náufragos, degradados e marinheiros, o isolamento fez com que seus moradores adotassem os costumes indígenas e a língua franca tupi-guarani, sem a qual seria impossível o escambo serra acima, em conexão com os caciques Tibiriça, Caiubi e Piquerobi, todos tupi, e os náufragos João Ramalho e Antônio Rodrigues, que comandavam um exército de 20 mil homens pelo sertão adentro, a partir da localidade de Piratininga, às margens do rio Anhembi (Tietê). Tibiriça e os genros transfeririam-se para o campo de São Bento, onde se instalou o Colégio São Paulo, catequizados pelo jesuíta Manoel da Nóbrega, para fundar a maior cidade do país, São Paulo.
Conta-nos Jorge Caldeira, em História da Riqueza no Brasil (Estação Brasil), que um único ritual das Ordenações do Reino foi preservado na vila de São Vicente: “As autoridades eleitas governaram, distribuíram títulos mal escritos pelos raríssimos alfabetizados, prenderam, multaram e julgaram. Passados os três anos dos mandatos regulares, os vereadores convocaram eleições, os eleitos tomaram posse, aqueles que deixaram o governo voltaram para a condição de simples governados, os novos governantes passaram a exercer a autoridade.” Quase todos analfabetos, genros de índios, renderam-se à autoridade dos governos dos costumes, eleita e provisória, competente na busca do consenso, com a vida doméstica organizada em torno da linhagem feminina. Eis “o milagre da multiplicação das eleições e do governo cuja autoridade derivava da escolha dos governados.”
É dessa tradição que as atuais eleições municipais herdariam o voto uninominal, que a competência de Assis Brasil canalizou para os partidos com a adoção do sistema proporcional. A propósito, há três grandes novidades nas eleições municipais deste ano: a primeira é o fim das coligações proporcionais, que obrigou os partidos a concorrerem com a chapa completa, o que aumentou muito o número de candidatos a prefeito e, principalmente, a vereador; a segunda, a destinação dos 30% dos fundos eleitorais para candidatas mulheres, o que as tornou mais competitivas e estimulou o lançamento de candidaturas majoritárias femininas; a terceira, a recente deci- são do ministro Ricardo Lewandowski, que determinou a distribuição proporcional dos recursos do fundo eleitoral entre candidatos negros e brancos, de ambos os sexos (mérito do movimento negro, da deputada Benedita da Silva, do PT-RJ, e do PSol, que recorreram à justiça).
Fusões e incorporações
A melhor distribuição de recursos do fundo eleitoral para incluir as mulheres e os negros, que já cobram maior fiscalização para evitar o/as laranjas (candidatos inscritos regularmente, mas que não fazem campanha e repassam os recursos do fundo, ilegalmente, para os caciques partidários), deve contribuir para aumentar a participação feminina nos espaços de poder e combater o “racismo estrutural”. O benefício deveria ser estendido ou pleiteado pelos candidatos indígenas, que em muitos municípios são sub-representados e sofrem grande discriminação.
Nas eleições passadas, o tsunami eleitoral que levou Jair Bolsonaro à Presidência elegeu grande número de candidatos militares, policiais e evangélicos, que reproduziram na campanha eleitoral sua narrativa contra a esquerda e disseminaram ideias conservadoras e reacionárias que pautam o atuam governo, em relação à cultura, aos costumes, à educação, ao meio ambiente e à segurança pública. Entretanto, o que pesou mesmo na eleição foi a linha divisória traçada pela Operação Lava-Jato entre a ética na política e a corrupção, o patrimonialismo e o fisiologismo, que foram associados à esquerda de um modo geral.
Muito provavelmente, essa linha divisória da ética se manterá nas eleições municipais deste ano, acrescida do desempenho dos prefeitos durante a pandemia, mas será menos ideológica e mais “fulanizada”. As pesquisas estão mostrando que a oferta de emprego está mais presente nas aspirações dos eleitores do que, por exemplo, a segurança e a educação, que compõem com a saúde, tradicionalmente, a tríade de prioridades da maioria da população. É muito provável que os candidatos majoritários, na maioria dos municípios, procurem estabelecer vínculos políticos com governadores e o presidente Bolsonaro, principalmente nas cidades onde houver segundo turno.
A tendência de fragmentação partidária nas eleições municipais, em decorrência do grande número de candidatos majoritários e proporcionais, porém, é apenas aparente, temporária. Após as eleições, haverá um processo de fusões e incorporações entre os partidos cujos resultados eleitorais revelarem pouca representatividade para ultrapassar a cláusula de barreira em 2022. Segundo estimativas do ex- deputado Saulo Queiroz, uma velha raposa política, estudioso do assunto, com as regras atuais, o espectro partidário deverá se reduzir a sete ou oito partidos. Até mesmo o PSDB, o MDB, o PSD, o PP, o DEM e o PR que, somados, elegeram 3.417 prefeitos nas eleições passadas, se nada fizerem, correm risco de desaparecer.
Cristovam Buarque: A última trincheira da escravidão
Durante os 350 anos da escravidão, intelectuais, políticos, padres, empresários, trabalhadores brancos, viam a escravidão dos negros com a mesma naturalidade como hoje vemos a desigualdade na qualidade da educação, conforme a renda e o endereço da criança. Demorou para surgirem reações contra maus tratos que sofriam os escravos, tais como a proibição do tráfico, o ventre livre, a liberdade dos sexagenários, mas sem tocar na estrutura escravocrata. Da mesma maneira, nas últimas décadas implantamos medidas favoráveis à educação pública, mas sem a meta de assegurar que o filho do pobre tenha acesso à mesma escola do filho do rico.
Inspirada desde o exterior, a defesa da Abolição só surgiu depois de três séculos de escravidão, e sob a desconfiança geral da sociedade: por ser vista como uma utopia impossível, desnecessária, contra a natureza das coisas e ameaçadora do estabelecimento social. Os humanistas que eram contra os maus tratos não conseguiam ver a possibilidade, nem a razão, para o fim do sistema arraigado sob visão hegemônica de que a desigualdade entre raças era natural, como hoje é aceita a desigualdade educacional por renda. Até o final da luta, a bandeira da Abolição foi carregada por poucos. A trincheira contra ela tentou adiar a data e indenizar os donos, mas perdeu. Mesmo assim, quando ela chegou, os não-escravos não aceitaram dar os mesmos direitos aos ex-escravos e seus filhos, negando-lhes terra e escola. Continua resistindo na última trincheira da escravidão: a escola como privilégio para poucos, ricos, na maior parte brancos. A luta atual pela igualdade na qualidade da educação tem este mesmo lento ritmo. As pessoas começam a ter sentimentos de vergonha pelo atraso educacional no país, a perceber que a evolução tecnológica está exigindo conhecimento, mas sem aceitar a ideia de que a escola deve ser a mesma para ricos ou pobres.
Quase 100 anos depois da Abolição, criamos um sistema de escolas pública municipais, programas para merenda e livro didático, Emenda Calmon; determinamos obrigatoriedade de matrícula dos 6 anos até os 14 anos; depois desde os 4 anos até os 17, implantamos Fundef, Fundeb, PNE-I, PNE-II, Piso Nacional Salarial, mas não nos atrevemos a uma estratégia educacionista. Nenhum partido, nenhum governo, de direita ou de esquerda, defende e se compromete com uma estratégia com duas metas: o Brasil ter educação com a qualidade das melhores do mundo, e toda criança ter acesso igual a esta educação, independente da renda ou do endereço de sua família. Eleitores e eleitos, não acreditam ou não querem, tanto quanto na escravidão muitos não queriam a Abolição e outros não acreditavam que ela fosse possível.
A igualdade escolar é o gesto que ficou faltando na Abolição. A desigualdade na qualidade da escola é um resquício da escravidão, sua última trincheira. Mas a ideia educacionista não seduz a opinião pública. Nem mesmo o movimento negro tem esta bandeira para completar a Abolição, porque se concentra na luta correta, mas insuficiente, para beneficiar os afrodescendentes que terminaram o ensino médio e querem entrar na universidade, mas sem lutar pela alfabetização dos pobres na idade certa, pela erradicação do analfabetismo que ainda tortura 12 milhões de adultos, e garantir a cota de 100% dos jovens brasileiros concluírem o ensino médio com qualidade e qualidade igual. Comportamento parecido com o dos antigos humanistas contra maus tratos, mas sem aceitar a Abolição.
A última trincheira da elite social e econômica é manter para seus filhos o privilégio de uma escola com mais qualidade do que a escola dos filhos dos pobres. Por isto é difícil um pacto social para uma estratégia que objetive colocar a educação brasileira entre as melhores do mundo, e que todas as escolas sejam concessão pública, abertas para todos os alunos. Mesmo assim, seguindo o exemplo dos abolicionistas, não podemos deixar de lutar por esta bandeira, ainda sabendo que até mesmo aqueles que se incomodam com o vergonhoso quadro de nossa educação vão continuar defendendo os paliativos que caracterizavam os humanistas-contra-os-maus-tratos. Da mesma maneira que o “fim do tráfico” o “ventre livre”, a “alforria dos sexagenários”, a prorrogação do Fundeb é um passo positivo, mas muito distante da Abolição Educacional: escola com a mesma qualidade para todos, independente da renda e do endereço: a implantação de um Sistema Unificado Federal de Educação.
Luiz Carlos Azedo: O peso das desigualdades
“Para viabilizar o investimento de R$ 30 bilhões em obras, a ideia é mesmo recriar o imposto sobre operações financeiras, enquanto a reforma administrativa é empurrada com a barriga”
O governo Bolsonaro anunciará, nesta semana, o programa Pró-Brasil. Para os que não sabem, é o projeto de obras de infraestrutura que havia sido apresentado pelos ministros da Casa Civil, Braga Neto; da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas; e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, logo no começo da pandemia, à revelia do ministro da Economia, Paulo Guedes. Gerou uma crise que levou o mercado a reagir algumas vezes, com forte especulações sobre a saída de Guedes, que não saiu. Entrou numa negociação com os demais ministros, mediada pelo presidente Jair Bolsonaro, que resultou na mudança de enfoque do programa, no qual ganharam mais densidade as propostas de desoneração da folha de pagamento e de transferência de renda mínima, chamados de Carteira Verde e Amarela e Renda Brasil, respectivamente.
Para viabilizar o investimento de R$ 30 bilhões em obras em fase de conclusão, a ideia é mesmo recriar o imposto sobre operações financeiras, ou seja, aumentar a carga tributária, enquanto a reforma administrativa é empurrada com a barriga pelo presidente da República. Há controvérsias sobre a manutenção do teto de gastos, do qual o ministro Paulo Guedes, com apoio do mercado, não abre mão. Mas o assunto continua em pauta, porque há economistas que defendem uma nova política monetária, como André Lara Resende, com menos preocupações fiscais. A torcida do Flamengo, os ministros militares, Freitas e Marinho, os políticos do Centrão e o presidente Jair Bolsonaro simpatizam com essas teses, contra as quais Guedes bate o pé. O velho conflito entre liberais e desenvolvimentistas está instalado no governo.
Há uma ligação entre os governos Vargas, Geisel e Dilma Rousseff, cujo fio condutor é o desenvolvimentismo. Boa parte das obras que Bolsonaro quer concluir, principalmente as que envolvem infraestrutura de transportes e energia para viabilizar a expansão do agronegócio e da mineração e de suas cadeias de exportação — interligando o Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte à rota de comércio do Pacífico, via o canal do Panamá, na América Central —, foi iniciada nos governos Lula e Dilma. A política dos “campeões nacionais” do BNDES e a “nova matriz econômica”, que resultaram em grandes escândalos de corrupção do governo Lula e no desastre econômico do segundo mandato de Dilma Rousseff fazem parte desse mesmo processo. Vale lembrar que Rogério Marinho foi o articulador da reforma trabalhista do governo Michel Temer, no qual Tarcísio de Freitas foi o braço direito de Moreira Franco no programa de investimentos em infraestrutura e parcerias público-privadas. Há um fio de história em tudo isso, que as narrativas à esquerda e à direita procuram ocultar.
O tema da modernização conservadora, que alguns chamam de “via prussiana” e outros de “revolução passiva”, está tendo sua recidiva nos bastidores do governo Bolsonaro. Os militares que o hegemonizam são desenvolvimentistas, saudosistas do “milagre econômico” do regime militar e começam a esboçar um projeto de desenvolvimento para o país sob a bandeira da ordem. O problema é que a ordem é democrática, ou seja, pressupõe o respeito à Constituição e aos demais poderes, o que complica bastante a implementação de projetos sem um amplo consenso político e social. Como o governo Bolsonaro não é de construir amplos acordos, vive do confronto com seus adversários, certas convergências programáticas com a oposição se inviabilizam. Mas essa é outra discussão.
Estado e mercado
De onde vem a força do desenvolvimentismo nos tempos atuais? Vem, sobretudo, da experiência dos chamados Tigres Asiáticos — Coreia do Sul, Cingapura, Taiwan e Hong Kong —, que alcançaram altos níveis de desenvolvimento combinando intervenção governamental e relação com o mercado. Esses países investiram pesadamente na educação e na infraestrutura e mantiveram uma forte relação com o mercado, com subsídios e incentivos fiscais, sem interferir na relação entre as empresas. O mesmo modelo foi adotado na América Latina e na África e fracassou, por causa do tratamento preferencial dado às empresas, sufocando a concorrência, e da corrupção. Não faltam exemplos, mas nos basta o que aconteceu por aqui. A China, hoje, é o país mais bem-sucedido em termos de modelo de “Estado desenvolvimentista”, mas é uma outra coisa, porque manteve o planejamento centralizado e o controle absoluto do Partido Comunista sobre a maioria das empresas chinesas, embora também existam grandes empresas 100% privadas e integradas às cadeias globais de comércio.
Com a pandemia e a recessão, as deficiências do sistema educacional, a política ambiental retrógrada, as tensões políticas e a explosão da dívida pública, fica muito difícil financiar a modernização da infraestrutura. Como não temos poupança interna nem capacidade de endividamento, o financiamento dos grandes projetos depende de investimentos estrangeiros, o que requer segurança jurídica e estabilidade política, além de atender às modernas exigências de sustentabilidade, transparência e responsabilidade social. Além disso, nossas desigualdades contribuem para frear o crescimento econômico: a concentração de renda gera insatisfação social e pressiona o governo por políticas mais distributivistas, que somente são possíveis com aumento de impostos, que acabam por reduzir as taxas de crescimento. Essa ciranda, diante da crise que estamos vivendo, inviabiliza tanto o projeto ultraliberal de Guedes quanto a proposta desenvolvimentista de seus adversários no governo. Estamos num jogo de perde-perde.
Cristovam Buarque: Falta Nabuco
Educação no Brasil continua entre as piores no mundo
No século XIX, adotamos políticas em favor dos escravos — fim do tráfico, ventre livre, liberdade a sexagenários — sem defesa da Abolição. A maldade no tratamento aos escravos ficou mitigada, mas a barbaridade do regime continuou, amarrando a economia e comprometendo a decência. Em 1888, os abolicionistas venceram a luta pelo fim do sistema escravocrata, mas até hoje mantemos uma trincheira da escravidão: a reserva da educação de qualidade para poucos.
Desde 1980, diversas medidas beneficiam a educação — Emenda Calmon, merenda, livros didáticos, Fundef, Fundeb, PNE-I e II, BNCC, piso salarial — mas ela continua entre as piores e mais desiguais no mundo, emperrando a eficiência da economia e dificultando a justiça social.
Quando imaginamos a tragédia que ocorreria se o Fundeb fosse extinto, em 31/12 próximo, sua prorrogação deve ser comemorada. Mas, ao lembrar que já está em vigor há dez anos, imaginamos que, apesar de alguma melhora, a educação ainda não dará o salto de que precisamos. Devemos parabenizar os que não deixaram o Fundeb acabar e até conseguiram ligeiro aumento de recursos. Parabenizá-los como a Rio Branco, pelo ventre livre; Eusébio de Queiroz, pela proibição do tráfico, Saraiva e Cotegipe, pela Lei dos Sexagenários. Mas nenhum deles foi um Nabuco, e o Fundeb está longe de ser nossa “Lei Áurea do século XXI”: educação entre as melhores do mundo e com qualidade da escola igual para todos.
Para concluir a Abolição, será necessário mais do que leis, uma estratégia com a meta de colocarmos nossa educação entre as melhores do mundo e igual para todos os brasileiros, independentemente da renda e do endereço da criança. Para isso, tratar educação de base como questão nacional, implantarmos um Sistema Unificado Nacional de Educação, com carreira federal para os professores, definição de padrões nacionais para edificações e equipamentos, todas as escolas em horário integral, todas como concessão federal. Uma estratégia educacionista que derrube a última trincheira da escravidão, rompa as amarras ao nosso desenvolvimento e construa justiça social.
*Cristovam Buarque é professor emérito da Universidade de Brasília
Ribamar Oliveira: Remanejar verbas para garantir investimentos
Saúde e educação sofrerão cortes neste ano
O ministro da Economia, Paulo Guedes, encontrou uma forma de atender ao desejo das alas militar e política do governo por mais investimentos em infraestrutura neste ano, sem furar o teto de gastos. A equipe econômica está finalizando um projeto de lei, que deverá ser enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias, remanejando verbas orçamentárias no valor de até R$ 5 bilhões. A estratégia é reduzir as dotações de alguns setores, que não ainda não foram empenhadas, como as da saúde e da educação, e aumentar os investimentos.
Tudo será feito, segundo fonte credenciada ouvida pelo Valor, respeitando os gastos mínimos previstos na emenda constitucional 95/2016 para a saúde e a educação. O projeto de lei (PLN) em elaboração será submetido ao Congresso, que dará a última palavra. Está descartada, portanto, a edição de medida provisória abrindo crédito extraordinário para fugir do teto de gastos, como inicialmente foi pensado pelo ministro chefe da Casa Civil, Braga Netto, e pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
As Secretarias de Orçamento Federal e do Tesouro Nacional estão fazendo levantamentos para identificar as áreas do governo que estão com “excesso” de verbas e que podem ser remanejadas para outros ministérios, particularmente o da Infraestrutura e o do Desenvolvimento Regional. As alas militar e política querem concluir investimentos em rodovias e em obras de combate à seca no Nordeste. Apenas as dotações que ainda não foram empenhadas poderão ser remanejadas. Ou seja, só aquelas para as quais o governo ainda não autorizou o gasto, que é a primeira fase da execução orçamentária.
A área de educação deverá perder recursos, pois a dotação para este setor está bem acima do mínimo constitucional, como informou a fonte do governo. A área da saúde também está bem acima, pois o governo destinou uma grande quantidade de recursos para o setor no combate aos efeitos da pandemia da covid-19, por meio de créditos extraordinários.
Outros setores do governo também poderão perder recursos. Em defesa de sua estratégia, o governo alega que, se as verbas não forem remanejadas, haverá um “empoçamento”, ou seja, mesmo que o gasto seja autorizado, o Ministério ou órgão não conseguirá gastar os recursos neste ano e o dinheiro ficará no caixa, sem uso. Até junho, o “empoçamento” já atingia R$ 31,1 bilhões. Desse total, o Ministério da Cidadania tinha R$ 8,1 bilhões, o Ministério da Saúde, 6,1 bilhões e o Ministério da Educação, R$ 3,9 bilhões.
Com a estratégia, a equipe econômica espera diminuir as pressões de ministros e aliados políticos contra o teto de gastos. Mas, certamente, enfrentará resistências da oposição ao governo no Congresso, pois deputados e senadores terão dificuldade, especialmente em ano eleitoral, em cortar verbas para a saúde e a educação, mesmo que seja para aumentar investimentos em áreas estratégicas.
Agora, o problema da área econômica é encontrar espaço dentro do Orçamento de 2021 para os investimentos. A proposta orçamentária ficou muito difícil de fechar, pois o teto de gastos foi reajustado em apenas 2,13%. As despesas discricionárias (investimento e custeio da máquina administrativa, exceto gasto com pessoal) ficarão abaixo de R$ 100 bilhões, de acordo com fontes do governo, ante um valor de R$ 120 bilhões previsto para este ano.
O governo só conseguirá fechar a proposta sem cortar ainda mais os investimentos se o Congresso adiar a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de salários de 17 setores da economia e se conseguir adiar algumas despesas para 2022, como é o caso do Censo Demográfico, feito pelo IBGE, previsto para o próximo ano.
No caso do veto à desoneração, os aliados do governo estão tentando adiar a decisão do Congresso para setembro, após o envio da proposta orçamentária no dia 31 de agosto, pois, nesse caso, caberá aos parlamentares dizer onde cortarão outras despesas para compensar esse gasto. A desoneração representa uma despesa para o Tesouro, submetida ao teto. Ele é obrigado, por lei, a compensar a Previdência Social pela perda de receita com a desoneração.
Inadimplência histórica
Neste mês, poderá ocorrer uma das maiores inadimplências de tributos federais da história, pois as empresas terão que pagar duas parcelas do PIS/Cofins (referentes a março e julho) e duas parcelas da contribuição patronal de 20% sobre a folha de salários ao INSS (referentes a março e julho).
Como todos se recordam, uma das medidas de combate aos efeitos da recessão econômica provocada pela pandemia foi o adiamento do pagamento de alguns tributos, o que é conhecido na área técnica como diferimento. O PIS/Cofins referente a março, que seria pago em abril, foi adiado para agosto, o mesmo acontecendo com a contribuição patronal ao INSS devida em março.
A medida representou um alívio naquele momento para as empresas, mas agora chegou o momento de pagar a conta. O Valor perguntou à Receita Federal se não teme um elevado grau de inadimplência em agosto, devido ao fato de que as empresas ainda estão em fase de recuperação e muitas delas não terão condições de pagar duas parcelas das três contribuições no mesmo mês.
Por meio de sua assessoria de imprensa, a Receita disse que “diversos indicadores já apontam em direção a uma recuperação da economia”. Segundo ela, as vendas no Brasil no mês de junho mostraram o maior patamar do ano de 2020, pois tiveram um resultado 15,6% maior que o de maio deste ano e de 10,3% superior ao de junho de 2019. Além disso, observou, em junho, todas as regiões brasileiras mostraram recuperação no ritmo de vendas, tanto em valor como em quantidades de notas emitidas.
De qualquer forma, é uma aposta, cujo resultado saberemos mais adiante. O ideal talvez fosse encarar o problema e propor o pagamento parcelado dos atrasados.
Luiz Carlos Azedo: A modernização autoritária
“Cingapura virou uma referência em desenvolvimento em todos os quadrantes, da Europa à América Latina, da África à Ásia. Muitos sonham com a longevidade do poder de Lee Yew”
Ao contrário do que muitos imaginam, o paradigma do projeto comunista da China não é o velho livro vermelho com as ideias de Mao Zedong, é o pensamento modernizador de Xi Jinping e o modelo de Cingapura, estudado na nova escola de quadros do Partido Comunista chinês. Fundada há 86 anos numa caverna da província de Jiangxi, o complexo da academia hoje ocupa centenas de hectares junto ao Palácio de Verão de Pequim e abriga 1,5 mil alunos. Em 2018, a escola se fundiu com a Academia Chinesa de Governo para incorporar um novo objetivo: “investigar e disseminar o pensamento de Xi sobre o socialismo com caraterísticas chinesas para uma nova era”.
A grande preocupação dos dirigentes chineses continua sendo vencer a desigualdade social na China de hoje, uma contradição com as teses históricas do PCCh. Centenas de milhões de chineses saíram da pobreza nas últimas décadas, mas as grandes fortunas acumuladas na economia de mercado coexistem com salários baixíssimos e condições de vida precárias, em muitas regiões do país. O medo dos comunistas é que o avanço tecnológico e as vertiginosas mudanças possam afastar os jovens do regime. O massacre de Tiananmen, de 1989, e a Revolução Cultural (1966-1976) são temas proibidos nos currículos da escola de quadros, vértice de um sistema com 2,5 mil centros distribuídos por todo o país. Onde Cingapura entra nessa história?
Com seus arranha-céus, jatinhos particulares e carros de luxo, a cidade-estado, apesar de ter apenas 5,6 milhões de habitantes — contra 1,393 bilhão da China —, é o quarto país mais rico do mundo em poder de compra de seus habitantes, superado por Catar, Luxemburgo e Macau. Tornou-se um dos principais centros financeiros do Oriente, com número crescente de milionários e o custo de vida mais alto do mundo. Há 50 anos, porém, era apenas uma ilha pobre e sem recursos naturais, uma ex-colônia britânica que se separou da Malásia em 1965, sob a liderança de Lee Kuan Yew, cofundador do Partido da Ação Popular (PAP, na sigla em inglês), que governa o país desde 1959. Lee foi primeiro-ministro de Cingapura por 31 anos, vencendo sete eleições, até deixar o poder em 1985. Vem daí o paradigma político que interessa aos chineses: o regime de partido dominante, hoje comandado por Lee Hsien Loong, seu filho mais velho.
O sistema legal de Cingapura é baseada em leis herdadas do colonialismo britânico na Índia, sem seus valores liberais. Não existe tribunal de júri, por exemplo. Há castigos físicos e até a pena de morte para homicídios e tráfico de drogas, o que leva à maior taxa de execuções do mundo por habitante. Entretanto, é considerado um dos países menos corruptos do mundo, embora seja um notório paraíso fiscal para lavagem de dinheiro. Não existe ampla liberdade de expressão nem de reunião. Qualquer manifestação com mais de cinco pessoas precisa de autorização policial. Entretanto, o modelo econômico que viabilizou a modernização de Cingapura é estudado em todo mundo, principalmente nos países emergentes.
Corrida mundial
Advogado formado na Universidade de Cambridge, Lee foi uma espécie de déspota esclarecido moderno. Comandou o país durante sua fusão e a subsequente separação da Malásia, com a ambição de construir uma nação meritocrática e multirracial. Elaborou um extenso programa de reformas para tirar Cingapura do “buraco negro da miséria e da degradação” e transformá-la em um país industrializado e moderno, sob um modelo capitalista com controle estatal rígido. Beneficiou-se do fabuloso porto que abrigava a esquadra britânica da Ásia e sua localização estratégica, na rota comercial da China, da Índia e do Sudeste Asiático, além da proteção dos Estados Unidos.
O governo promoveu grandes programas de geração de emprego e a construção de moradias sociais, ao lado de uma política que acompanhava o controle da vida privada e a supressão de liberdades individuais, incluindo a prisão de opositores sem levá-los a julgamento e a aplicação de castigos corporais. Impressiona pelos altos níveis de educação, saúde e competitividade econômica, saltando de uma economia baseada na manufatura tradicional para um centro financeiro e tecnológico, com grandes investimentos estrangeiros, com uma população que fala quatro línguas: malaio, inglês, mandarim e tamil. Suas forças armadas são modernas, seguem o modelo israelense, e consomem 4,5% do orçamento, com bases aéreas na Austrália, Estados Unidos e França.
Cingapura virou uma referência para a modernização autoritária em todos os quadrantes, da Europa à América Latina, da África à Ásia. Muitos governantes sonham com a longevidade do poder de Lee Kuan Yew, como Vladimir Putin, na Rússia, e Tayyip Erdogan, na Turquia, sem falar nos ditadores de antigas repúblicas soviéticas e da África, além dos xeiques árabes. Tornou-se um ponto de referência na corrida mundial para reinventar o Estado, na qual o Ocidente enfrenta os problemas da economia de mercado aliados às disputas próprias dos regimes democráticos. Por isso, é melhor é ficar de olho no que acontece na política brasileira. Historicamente, sempre estivemos numa encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente.
Bernardo Mello Franco: Mais armas, menos livros
O governo quer gastar mais com militares do que com estudantes em 2021. O plano é coerente com a trajetória de Jair Bolsonaro. O capitão foi para a reserva há 32 anos, mas nunca tirou os pés do quartel. Na política, sempre atuou como um sindicalista da farda.
O Brasil não está em guerra e não tem motivos para se preocupar com as fronteiras. Mesmo assim, o Planalto pretende aumentar as verbas do Ministério da Defesa em 49% na comparação com o projeto de Orçamento enviado ao Congresso no ano passado.
Segundo o jornal “O Estado de S.Paulo”, a pasta deverá receber R$ 5,8 bilhões a mais do que o Ministério da Educação. Isso não ocorre há uma década, quando o investimento nas salas de aula ultrapassou as despesas com a caserna.
Desde que vestiu a faixa, Bolsonaro mima as Forças Armadas com vantagens e privilégios. Os militares foram poupados na Reforma da Previdência, ocuparam dez ministérios e abocanharam mais de seis mil cargos civis. Em julho, ganharam reajuste de até 73% num penduricalho incorporado ao contracheque.
O presidente não desgruda da tropa. É arroz de festa em posses, aniversários e formaturas de cadetes. Na última viagem ao Rio, ele visitou três quartéis e inaugurou uma escola cívico-militar. Em todos os compromissos, levou a tiracolo o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Na sexta-feira, capitão e pastor se deixaram fotografar diante do escudo do Bope. O emblema é composto de uma caveira, uma faca e dois revólveres. A simbologia perfeita do bolsonarismo, que exalta as armas e despreza o conhecimento.
Nem a pandemia convenceu o governo a dar prioridade à educação. Ontem o MEC anunciou um plano para levar internet a alunos de universidades e institutos federais. Levou cinco meses para notar que estudantes pobres não têm banda larga em casa.
Agora o Ministério da Economia quer taxar a venda de livros, isenta de impostos desde 1946. O novo encargo ameaça sufocar editoras e livrarias. Paulo Guedes não se importa. Em debate com parlamentares, ele sugeriu que ler é passatempo de rico.
O Estado de S. Paulo: Ministério da Defesa deve ter mais dinheiro do que a Educação em 2021
Proposta do governo Bolsonaro deixa área de ensino com menos verbas do que militares pela 1ª vez em dez anos; desvantagem é de R$ 5,8 bilhões
Mateus Vargas, O Estado de S.Paulo
BRASÍLIA – O governo de Jair Bolsonaro prevê reservar R$ 5,8 bilhões a mais no Orçamento do ano que vem para despesas com militares do que com a educação no País. A proposta com a divisão dos recursos entre os ministérios está nas mãos da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, e deve ser encaminhada até o fim deste mês ao Congresso. Caso confirmada, será a primeira vez em dez anos que o Ministério da Defesa terá um valor superior ao da pasta da Educação.
Egresso do Exército, Bolsonaro foi eleito tendo os militares como parte de sua base de apoio. Na quinta-feira passada, na “live” semanal que faz nas redes sociais, o presidente disse sofrer pressão para aumentar os recursos destinados às Forças Armadas, mas reclamou que “o cobertor está curto”. “Alguns chegam: ‘Pô, você é militar e esse ministério aí vai ser tratado dessa maneira?’ Aí tem de explicar. Para aumentar para o Fernando (Azevedo e Silva, ministro da Defesa) tem de tirar de outro lugar. A ideia de furar o teto (de gastos) existe, o pessoal debate, qual o problema?”, disse o presidente, em referência à regra que limita aumentar despesas acima da inflação. Na mesma ocasião, ele afirmou que a Defesa pode ter “o menor orçamento da história”.
Não é o que está na proposta mais atual em discussão no governo, à qual o Estadão teve acesso. Segundo a previsão, a Defesa terá um acréscimo de 48,8% em relação ao orçamento deste ano, passando de R$ 73 bilhões para R$ 108,56 bilhões em 2021. Enquanto isso, a verba do Ministério da Educação (MEC) deve cair de R$ 103,1 bilhões para R$ 102,9 bilhões. Os valores, não corrigidos pela inflação, consideram todos os gastos das duas pastas, desde o pagamento de salários, compra de equipamentos e projetos em andamento, o que inclui, no caso dos militares, a construção de submarinos nucleares e compra de aeronaves.
A previsão de corte nos recursos da Educação em 2021 já era tratada no governo há alguns meses e, como revelou o Estadão em junho, gerou reclamações do ex-ministro Abraham Weintraub. Pouco antes de sua demissão, ele afirmou que a proposta em discussão poderia colocar em risco até mesmo a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano que vem. Na semana passada, reitores de universidades federais também alertaram que a possível redução do dinheiro pode inviabilizar atividades nas instituições.
Ajustes
Os pedidos do MEC e de outros ministérios por mais recursos foram avaliados na quinta-feira passada pela Junta de Execução Orçamentária, composta por Guedes, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, e técnicos do governo. O grupo aceitou elevar em R$ 896,5 milhões a verba da Educação. A maior parte para o pagamento de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e para reforçar o caixa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável por compra de livros escolares, transporte de alunos e financiamento estudantil, entre outros programas.
Guedes e Braga Netto também foram generosos com o Ministério da Defesa. Os ministros aceitaram aumentar em R$ 768,3 milhões as despesas discricionárias previstas para a pasta – aquelas que não são obrigatórias e podem, por lei, ser remanejadas. É o dinheiro para pagar água, luz, obras e programas considerados estratégicos para os militares, como os submarinos e os caças. Mesmo com o acréscimo, o valor reservados para este tipo de gasto deve cair de R$ 9,84 bilhões neste ano para R$ 9,45 bilhões.
O governo também decidiu manter no ano que vem a “blindagem” ao orçamento da Defesa, excluindo a pasta de possíveis tesouradas. Na Educação não há essa restrição e, no ano passado, bolsistas da Capes sofreram com os contingenciamentos.
As discussões sobre o Orçamento ocorrem no momento de disputa interna no governo sobre aumentar ou não as despesas públicas. Na terça-feira passada, Guedes alertou que Bolsonaro pode parar na “zona sombria” do impeachment se furar o teto.
Por causa da pandemia, o Congresso autorizou o Executivo a extrapolar as previsões iniciais em 2020. Como resultado, a Defesa, por exemplo, conseguiu elevar seus gastos para R$ 114,3 bilhões, e a Educação, para R$ 118 bilhões. A expectativa da equipe econômica, no entanto, é que os limites sejam respeitados no ano que vem.
Governo diz que proposta ainda pode ser modificada
Os ministérios da Economia e da Defesa afirmam que a proposta de rateio das verbas do Orçamento de 2021 ainda passará por discussões internas e poderá ser alterada. Procurados, Presidência, Casa Civil e Educação não se manifestaram.
Aliado do presidente Jair Bolsonaro e general da reserva, o deputado Roberto Peternelli (PSL-SP) afirmou que o governo prioriza a educação, mas que isso não deve se refletir no Orçamento. “Tenho a plena convicção de que o fator mais importante é a educação”, afirmou. “Agora, ser o mais importante e ter o maior orçamento são análises distintas.”

Não é só no Orçamento que Bolsonaro tem beneficiado seus aliados fardados em um cenário de cortes de despesas. No mês passado, enquanto quase 9,6 milhões de trabalhadores da iniciativa privada tiveram seus salários reduzidos e servidores públicos civis foram proibidos de ter aumento por causa da pandemia do novo coronavírus, integrantes das Forças Armadas passaram a ter direito a um reajuste de até 73% como bonificação.
Chamado de “adicional de habilitação”, o “penduricalho” foi incorporado na folha de pagamento de julho dos militares, com impacto de R$ 1,3 bilhão neste ano e de R$ 3,6 bilhões em 2021. O reajuste foi aprovado com a reforma da Previdência dos militares, no fim de 2019.
É o gasto com pessoal o que mais consome a verba da Defesa. Na proposta para 2021, 91% dos gastos irão para salários, benefícios e pensões. “O presidente tem um pendor especial pela sua corporação”, avaliou Carlos Melo, cientista político e professor do Insper. “Foi assim na reforma da Previdência e tende a ser assim em qualquer situação. / COLABOROU ADRIANA FERNANDES
RPD | Entrevista Especial | Arnaldo Niskier: 'Falta tudo à educação brasileira'
O professor Arnaldo Niskier avalia que o país sofre sem um plano nacional de educação e com o principal órgão – o Ministério da Educação – minado por uma gestão precária que mistura ideologia com gestão escolar. “Essa mistura não é saudável: prejudica os beneficiários do processo – os estudantes”, avalia
Por Cristovam Buarque e Caetano Araújo
Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) e ex-membro do Conselho Nacional de Educação (CNE), Arnaldo Niskier é o entrevistado desta 22ª edição da Revista Política Democrática Online. Autor de mais de 100 livros, especialmente sobre educação. É professor aposentado de História e Filosofia da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ) e Doutor em Educação pela UERJ. Foi membro do Conselho Federal de Educação (CFE), do Conselho Estadual de Educação (CEE-RJ) e secretário de Estado do Rio de Janeiro por quatro vezes.
Nesta entrevista que concedeu ao presidente do Conselho Curador da Fundação Astrojildo Pereira (FAP), o ex-senador Cristovam Buarque (Cidadania-DF), e a Caetano Araújo, da Diretoria Executiva da FAP, Niskier comenta a situação atual do educação no Brasil e possibilidades de futuro, entre outros temas.
“Talvez eu esteja sendo otimista em excesso, mas sei que o país precisa que o Ministério da Educação acorde definitivamente; que monte uma equipe positiva, uma equipe que se preocupe com os verdadeiros problemas da educação; e que não faça da ideologia um procedimento prioritário, porque não é essa a prioridade do nosso país”, avalia Niskier.
Confira, a seguir os principais trechos da entrevista de Arnaldo Niskier à Revista Política Democrática Online.
Revista Política Democrática Online (RPD): Estamos no quarto ministro da Educação deste governo. Os três primeiros foram inoperantes ou polêmicos, ou ambos. O quarto, depois da posse, não pôde trabalhar porque caiu vítima da Covid 19. A educação no Brasil aguenta essa conjuntura?
Arnaldo Niskier (AN): Não, acho que não. Na linha do meu artigo publicado na Folha de S. Paulo, considero que o MEC não sai do lugar, e que todo lugar em que ele ficou foi infelizmente um lugar desairoso. Falta tudo à educação brasileira, e o Ministério da Educação não corresponde às expectativas que temos em relação a este importante órgão público. Não corresponde, porque inclusive existe um Plano Nacional de Educação (PNE) que previa operação de 20 metas bastante objetivas, 20 metas e mais de 50 indicadores, e, dessas todas, duas ou três andaram um pouco, e as outras todas ficaram na saudade.
O problema não é, para mim, só o dinheiro, porque dinheiro acaba aparecendo. O problema é fundamentalmente a gestão do órgão que tem sido precária. Há uma mistura de ideologia com gestão escolar, e essa mistura não é saudável: prejudica os beneficiários do processo – os estudantes. O Brasil tem 60 milhões de estudantes nas escolas do país, e eles estão mal servidos, na minha opinião. Não estão tendo a cobertura devida para suas necessidades, e isso é, sem dúvida, negativo.
“O Brasil tem 60 milhões de estudantes nas escolas do país, e eles estão mal servidos, na minha opinião. Não estão tendo a cobertura devida para suas necessidades, e isso é, sem dúvida, negativo”
O quarto ministro, Milton Ribeiro, inspira-me alguma esperança. É um pastor presbiteriano, egresso da Universidade Mackenzie. Meu irmão, Silvio, trabalhou lá cerca de 25 anos, e sempre me passou relatórios muito favoráveis sobre funcionamento da instituição, que aprendi a admirar. Acredito, portanto, que, tão logo ele se recupere da Covid-19, poderá dar um jeito na situação.
Talvez eu esteja sendo otimista em excesso, mas sei que o país precisa que o Ministério da Educação acorde definitivamente; que monte uma equipe positiva, uma equipe que se preocupe com os verdadeiros problemas da educação; e que não faça da ideologia um procedimento prioritário, porque não é essa a prioridade do nosso país. A prioridade é acabar com o analfabetismo, que ainda atinge 12 milhões de pessoas acima dos 15 anos de idade; aperfeiçoar o ensino fundamental; dar a implementação devida ao ensino médio; tratar adequadamente o ensino superior. Eis algumas prioridades que alinho.
Cristovam Buarque (CB): Não há dúvida de que se deve receber bem o novo ministro. Comparado com os anteriores, é muito melhor. Mas a questão é se precisamos de ministro, de um Ministério da Educação de base. O MEC é um ministério que só cuida das universidades, do ensino superior, cujos sindicatos e associações dos estudantes tornam o ministro um prisioneiro. As universidades são muito fortes. Quando Paulo Renato criou o ENEM, o foco era avaliar o Ensino Médio. Mas ninguém dava importância. Quando virou um instrumento para o ingresso na universidade, que foi uma boa coisa, realmente, acho que mudou no tempo do Haddad, aí todo mundo descobriu o ENEM, para reservar, porém, maior importância à educação superior, descuidando-se da educação de base. Não seria o momento de o MEC voltar-se para a educação de base, deslocando-se o ensino superior para algum outro ministério, centrando-se a educação de base como tema primordial do governo federal, no colo do presidente da República?
E uma segunda pergunta: comemorei quando o FUNDEB foi renovado, depois de 20 anos. Mas o que vai mudar? O FUNDEF já tem dez anos. O primeiro PNE, com 15 anos; o segundo, com cinco. Há oito anos, alterou-se o piso nacional de salário para os professores. Isso melhora, mas não permite o salto, está aquém das possibilidades, das necessidades, da ambição.
AN: Recordo que o Brasil ocupa colocação lastimável no PISA. Estamos no 57º lugar entre 80, 90 países. Somos uma vergonha em matemática, em português e leitura.
CB: Dez anos depois do FUNDEB, tenho duas ambições: que o Brasil se situe entre os melhores no plano da educação, e que o filho do pobre estude numa escola tão boa quanto a do filho do rico. Em qualquer país decente do mundo, a escola não tem nada a ver com CEP, nem com o CPF. No Brasil, depende-se do CPF ou do CEP, de onde mora ou de quem é o pai. Não estamos querendo fazer uma comparação entre o nós hoje e o nós ontem, mas entre o “nós” daqui a 20 anos e a Finlândia daqui a 20 anos. Para isso, um Ministério da Educação específico terá de assumir a educação de base. São as duas perguntas: a ambição e a estrutura. Um MEC centrado na educação de base, para nos situarmos os melhores do mundo, e a escola igual para todos.
“Tive a oportunidade de conversar com o ministro da Educação finlandês, um jovem de cerca de 40 anos, a quem perguntei qual a razão principal do sucesso da Finlândia em matéria de desenvolvimento. E ele me respondeu: ‘São três razões. A primeira é educação, a segunda é educação, e a terceira é educação’”
AN: Você tem razão. Sei que tem defendido a ideia de que, para o ensino superior, deveria haver um outro ministério, mais ligado ao desenvolvimento científico, tecnológico e à inovação. Isso pode ser uma bela ideia. Mas é preciso que isso seja algo que esteja também na alma do presidente da República. Tenho a impressão de que ele não entende nada do que está acontecendo na nossa educação. As declarações que ele faz são desastrosas. Na discussão do FUNDEB, foi derrotado. A equipe dele, os deputados que o apoiam, foram fragorosamente derrotados pelas ações do presidente Rodrigo Maia. A versão que ficou do FUNDEB foi a função prioritária dada pelo Rodrigo Maia ao exame da matéria. Por que o FUNDEB foi importante? Porque ele mexe com 4.800 municípios brasileiros. Dos 5.500 que nós temos, 4.800 são abrangidos, recebem recursos do FUNDEB. Então, não é algo que se possa desprezar. Ao contrário, nós temos de prestigiar. Eu acho que você tem toda a razão de exigir que o MEC tenha uma ação sobre o ensino fundamental ou a educação básica, para abranger também o ensino médio. Isso seria muito importante, mas só vai ocorrer quando houver uma compreensão geral do processo, a partir, como eu insisto, do próprio presidente da República, que tem de ter uma compreensão maior e melhor do processo.
RPD: Que avaliação se pode ter sobre o presidente da República na área da Educação? Parece que, enquanto estivermos neste governo, com este presidente, o ministro pode até ser esforçado e bem-intencionado, que os resultados serão modestos nessa área. Haveria algum espaço para se fazer algo mais?
AN: A prática tem demonstrado que o tratamento dado pelo presidente à educação é rigorosamente precário. Ele não leva a educação a sério. A gestão do ministro Weintraub, mais de um ano no ministério, foi uma catástrofe. Declarações e ações absurdas. Acho que nossa educação não merece isso. Temos necessidades prementes, que precisam ser supridas, precisam ser atendidas, e se a atitude do presidente fosse outra, é claro que Weintraub não ousaria cometer os absurdos perpetrados durante aquele quase ano e meio. Eu conheço bem o Ricardo Vélez. Coitado, tentou ideologizar sua ação no ministério, e deu tudo errado. Sucedeu-lhe o Weintraub, pior ainda. Aí veio o ministro Decotelli, que cometeu o inexplicável, incluir em seu currículo tanta coisa que não tinha concluído. Era um mau princípio, ele começou com o pé esquerdo e, naturalmente, não sobreviveu. Chega, agora, o vice-reitor da Universidade Mackenzie, onde se formou. São credenciais que muito o habilitam a desempenhar-se bem da nova difícil missão.
RPD: Quando se compara o Brasil inclusive com outros países em desenvolvimento, verifica-se grande diferença, não em nosso favor, quanto à consciência de que a educação e a qualificação da mão de obra são instrumentos imprescindíveis para que logremos índices mais altos de avanços na economia e nas relações sociais. Por que é tão difícil cristalizar essa visão? Será preciso um trabalho de base junto à cidadania para convencer o quanto essas prioridades são inexoráveis?
“Eu acho que você tem toda a razão de exigir que o MEC tenha também uma ação sobre o ensino fundamental ou a educação básica, para abranger também o ensino médio. Isso seria muito importante, mas só vai ocorrer quando houver uma compreensão geral do processo, a partir, como eu insisto, do próprio presidente da República”
AN: Você suscita ponto importante. Anteontem, no canal Futura, apresentei em meu programa habitual “Identidade Brasil”, às19h30, em horário nobre, portanto, uma nova escola, em Helsinki (Finlândia), bem sintonizada com a mentalidade de um país voltado prioritariamente para a educação. Trata-se de uma escola bonita, inaugurada há sete ou oito anos, para 1.100 alunos, em que as aulas demoram 90 minutos, para permitir ao professor avançar, inclusive na parte de aplicação prática dos conhecimentos que são ministrados aos alunos. Nos intervalos, os alunos podem frequentar os laboratórios, as bibliotecas que estão a serviço do alunado dentro da escola. Enfim, são lições admiráveis. Já tinha estado algumas vezes na Finlândia, porque tive a honra de ser durante 13 anos o cônsul da Finlândia no Rio de Janeiro. Um país pequeno, de população pequena, que conseguiu destacar-se com um nível educacional dos mais altos do mundo.
No curso de uma viagem anterior, tive a oportunidade de conversar com o ministro da Educação finlandês, um jovem de cerca de 40 anos, a quem perguntei qual a razão principal do sucesso da Finlândia em matéria de desenvolvimento. E ele me respondeu: “São três razões. A primeira é educação, a segunda é educação, e a terceira é educação.” É o que a gente tem na cabeça também, é a educação que leva um país ao desenvolvimento, leva um povo à sua felicidade, à realização do emprego, da obtenção dos recursos, para que possa sobreviver dignamente. Voltei dessa viagem com a sensação de que tinha ido ao encontro de uma questão extraordinária, que é a prioridade que se deve dar ao trato da coisa pública. Educação em primeiro lugar, em segundo e em terceiro. Infelizmente, estamos longe disso, bem longe disso.
CB: É possível a gente chegar a esse nível numa estratégia de 20, 30 anos? Demora, a Finlândia começou nos anos 1970 a fazer isso, mas a pergunta permanece: é possível fazer isso apenas mexendo nos municípios, a exemplo do que o FUNDEB faz? Só mexendo, a gente vai chegar ao padrão Finlândia? Ou vai-se precisar muito mais do que mexer? Adotar os sistemas municipais com liberdade pedagógica e com descentralização gerencial? Basta mexer com mil reais por ano por criança que o FUNDEB passa, ou vai-se precisar mais do que mexer, como fizeram a Finlândia e a Irlanda, mas intervir, digo, o Brasil intervir? Claro, não vai ser esse governo que está aí. Mas, se o governo passa, volto à pergunta: será suficiente mexer, ou tem-se de intervir, isto é, a nação brasileira, na educação de cada criança?
AN: Tem de intervir, de modo saudável. Você falou na Finlândia. Não podemos concentrar nossa preocupação apenas no modelo finlandês, embora ele seja extraordinário. Conheci também o caso da Coreia do Sul, outro bom exemplo. A Coreia do Sul deu prioridade à educação a partir do Ensino Fundamental, e hoje é também um tigre asiático de primeira ordem. Agora, tivemos, ou estamos tendo, competência para criar o auxílio emergencial. O Brasil lavrou um tento pagando esse auxílio emergencial a mais de 50 milhões de brasileiros; é fantástico, não há como negar. Teve alguns problemas, alguns deslizes, mas isso é natural, o que será corrigido ao longo do processo. Se apareceu o dinheiro para o auxílio emergencial, por que não aparece para ajudar a educação a realizar seus projetos? Como você disse bem, Cristovam, a partir dos municípios. O Brasil, eu insisto, tem 5.500 municípios. Vivem, em sua grande maioria, num estado de absoluta pobreza e precariedade. Se houver uma preocupação saudável de mexer com a educação a partir da base, que ela venha via município, e os municípios que sejam assistidos financeiramente pela União, que é quem detém o cofre público. Acho que é por aí que se pode desenhar uma solução para o futuro do país.
RPD: Professor, o senhor foi um dos pioneiros do ensino a distância.
AN: Eu que criei, no antigo Conselho Federal de Educação, depois, Conselho Nacional de Educação, os elementos que foram cedidos ao senador Darcy Ribeiro, para que ele pudesse fazer a lei 9.394, de 1996, em que, pela primeira vez, se tratou oficialmente, em cinco artigos, do que seria a educação a distância. Tenho essa honra, esse orgulho, e hoje vejo que essas coisas evoluíram muito. Em matéria de educação a distância, em matéria de ensino remoto, ou híbrido, como o futuro se desenha nesse sentido, o Brasil é um modelo que pode – e deve – ser imitado. Ainda há desavenças quanto à qualidade do ensino remoto. Os professores ainda não foram devidamente preparados. Ainda não há internet em todas as escolas. A grande maioria de nossas escolas, de um total de 190 mil escolas em todo o Brasil, ainda não tem condições operacionais legítimas, diante da ausência da internet. E como funcionar sem internet? Não dá. É preciso, pois, que os recursos sejam direcionados para a montagem dessas escolas e a formação adequada de seus professores. Falar em formação adequada dos professores é falar também em remuneração condigna, porque os professores brasileiros estão ganhando muito mal em comparação com outras nações.
RPD: Como tudo no Brasil, as novidades só “pegam” diante de alguma crise. A pandemia criou essa crise, e hoje, as escolas estão sendo obrigadas a dar aulas remotamente, de uma maneira intuitiva, é verdade, com professores ainda não preparados para isso, improvisando metodologias e soluções. A pandemia poderá contribuir para desenvolver e amadurecer o que foi iniciado abruptamente com o ensino à distância?
“A grande maioria de nossas escolas, de um total de 190 mil escolas em todo o Brasil, ainda não tem condições operacionais legítimas, diante da ausência da internet. E como funcionar sem internet? Não dá”
AN: Acho que sim. Mas temos de tratar a pandemia com o devido respeito, e o devido cuidado. Estou há cinco meses em casa, me cuidando, porque estou no grupo de risco, com 85 anos… É preciso, portanto, ter cuidados e, certamente, não vamos ter saudade da pandemia. Em nenhuma hipótese, ela não nos servirá de exemplo, a não ser da resistência do povo brasileiro a esse tipo de sofrimento, porque, no fundo, é um sofrimento. Tantas mortes, tanta gente que foi infectada e que teve de passar por um processo penoso de recuperação. É uma recuperação que não se tem certeza de ser para sempre. Ainda se teme uma segunda onda, ou até uma terceira. Não temos certeza de nada. Agora, existe a notícia de que a Rússia já encontrou a vacina, e que vai começar a vacinar no mês de outubro, antecipando o que outros países vêm tentando. Na verdade, há 26 vacinas em estudos no mundo. A que está mais avançada, parece que é essa russa.
O Brasil tem experiências com a da Universidade de Oxford, tem experiências com a China também, e estamos rezando para que essas coisas se aperfeiçoem o mais breve possível e possam ser utilizadas em tempo hábil pelo povo brasileiro. No meio desse processo, existe a educação. Nossa esperança é a de que possamos sair dessa crise imensa, com tantas mortes sofridas, tantas mortes que lamentamos, com uma nova educação. O novo normal não será igual ao que acontecia antes da pandemia. Teremos um novo normal, com toda a certeza, e a educação pode e deve exercer papel primordial nesse processo, com qualidade. Virá a nova educação.
RPD: É possível esboçar um horizonte otimista para o futuro da educação no Brasil?
AN: Acho que melhor do que eu, o Cristovam, pela qualidade dos serviços já prestados ao país, como reitor da Universidade de Brasília, um reitor admirável; como governador de Brasília; ministro e senador da República, estaria em melhores condições de começar a responder a essa pergunta. Depois poderia fazer um fecho, se vocês concordarem.
CB: Começo cumprimentando Niskier por seu papel no impulso da ideia do ensino a distância. Ele agiu, como alguém que, no começo do século XX, soube entender a mudança do teatro para o cinema. E isso é mais importante ainda do que a própria característica remota. A aula vai tender a deixar de ser teatral, de um professor, e vai ser cinematográfica, feita por uma equipe. E esse produto, essa peça vai ser transmitida. Niskier podia ser mais reconhecido ainda como quem deu os primeiros passos nessa mutação. Mas ele pediu que eu dissesse alguma coisa para ele arredondar.
Quero dizer, então, que acredito que um dia, da mesma maneira que há em cada cidade uma agência do Banco do Brasil, vamos ter uma Escola do Brasil. Hoje, não existe a Escola do Brasil, hoje a escola é municipal, e, enquanto ela for municipal, não vai ter a qualidade que a gente espera, porque os municípios são pobres, e não só em dinheiro. Então, a ideia de que a Escola do Brasil possa replicar-se em cerca de 200 mil, desfrutando cada uma da devida liberdade pedagógica, é um horizonte ambicioso, por enquanto otimista, do que vai acontecer no país. Não dá para falar de marco temporal para tal conquista. Mas gostaria de deixar essa mensagem de que um dia, além do Banco do Brasil, a escola também vai ser do Brasil.
AN: Você tem toda a razão, reforçada por palavras de qualidade e de respeito. De minha parte, tenho lido muito ultimamente sobre esses pontos. E escrevi um livro, Memórias da Quarentena, que espero lançar nas próximas semanas. Fiz uma avaliação do que as coisas representam, coloquei neste livro muito da minha experiência como professor de História e Filosofia da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde militei por mais de 30 anos, uma escola pública de qualidade. Acho sinceramente que nós devemos dar prioridade aos recursos para a educação. Eles existem, não se iludam. Essa ideia de que o Brasil não tem dinheiro é uma ideia falsa. O dinheiro existe e aparece, como apareceu agora, conforme eu fiz referência, na pandemia, com o auxílio emergencial.
Temos também de formar bem os professores, melhorar os cursos de pedagogia, promover o interesse dos alunos pelos cursos de formação de magistério, o que não ocorre em nossos dias. Hoje, de todos os que fazem o ENEM, só 2% têm interesse em seguir a carreira do magistério. Isso é muito pouco, é um absurdo. Em comparação com outros países, é quase uma aberração. Temos de promover o interesse do aluno pelo magistério, e que isso se faça também com a promessa de salários compatíveis com a dignidade humana, como diz a nossa lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Em síntese, defendo, entre outras, a adoção das algumas premissas sobre as quais será mais viável pensar no novo normal, numa nova educação: prioridade para as escolas municipais, como ressalta Cristovam; canalização de recursos públicos para aprimorar a educação híbrida – essa que combina o virtual e o presencial; aperfeiçoamento do que se deve fazer nas universidades, que não podem continuar sendo criticadas como foram na gestão de Weintraub; antes, têm de ser respeitadas e utilizadas como formadores de recursos humanos adequados e compatíveis para o desenvolvimento da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação em nosso país.
Bruno Boghossian: Governo reforça seu projeto para sucatear a educação
Corte de orçamento proposto pelo MEC é novo capítulo de uma ruína premeditada
Enquanto Jair Bolsonaro e seus aliados tentam arrumar um dinheirinho para turbinar sua operação política, o Ministério da Educação preferiu afiar a tesoura. A pasta anunciou a intenção de cortar 18% de suas despesas não obrigatórias no ano que vem. A proposta facilita os esforços do Palácio do Planalto para sucatear o ensino público.
A ruína é premeditada. Obcecado pelo fantasma de um aparelhamento nas universidades, o presidente faz de tudo para esvaziar a área. Manteve dois titulares desqualificados para comandar a pasta e incentivou um estrangulamento de pesquisas e da educação superior, principais pontos de atuação federal no setor.
O próprio Bolsonaro e seus assessores nunca esconderam a intenção de usar o orçamento como arma política. Ao chegar ao MEC, Abraham Weintraub avisou que fecharia os cofres para instituições que fizessem o que ele chamava de “balbúrdia”. A ideia era asfixiar aqueles que contrariassem a agenda do governo.
O presidente nunca se interessou em apresentar projetos para a educação. Ele preferiu explorar o tema como parte de sua cruzada ideológica e usou o desempenho do país em exames internacionais para fustigar adversários políticos.
Quando o Congresso começou a discutir a ampliação do fundo que financia a educação básica, Bolsonaro decidiu ignorar o assunto. Depois, trabalhou contra a medida e foi obrigado a ceder para evitar uma derrota política humilhante.
Agora, o MEC reconheceu o papel de coadjuvante. Sensibilizada pela crise econômica, a pasta se antecipou ao arrocho de Paulo Guedes e disse que pretende gastar menos R$ 4,2 bilhões no ano que vem. O Orçamento só será fechado no fim do mês, mas o ministério jogou a toalha.
Ao explicar o corte, a pasta disse que a pandemia exige um esforço de “priorização das despesas”. Os filhos feios de Bolsonaro devem sofrer mais com a tesourada. Já o Ministério da Defesa, favorito do presidente, pediu um aumento de 37% nos investimentos do ano que vem.
Demétrio Magnoli: O único consenso nacional
A polarização política contaminou as discussões sobre a crise sanitária
‘Já enfrentávamos uma crise de ensino anterior à pandemia. Agora, estamos diante de uma catástrofe de toda uma geração que pode desperdiçar potencial humano e levar a décadas de atraso, exacerbando a desigualdade.’ António Guterres, secretário-geral da ONU, concluiu dizendo que a educação merece o qualificativo de atividade essencial: “Colocar os alunos de volta às escolas da forma mais segura possível precisa ser a maior prioridade”. No Brasil, porém, o debate sobre o tema foi virtualmente interditado.
As escolas particulares de Manaus reabriram há 35 dias, colocando 60 mil alunos em aulas presenciais. A cidade vive nítido declínio da transmissão do vírus, mas está longe de erradicar o contágio. A maioria dos modelos epidemiológicos e dos estudos em países que retomaram aulas revelam riscos muito baixos. Nada, porém, parece capaz de evitar que as redes públicas de ensino brasileiras sigam fechadas indefinidamente.
Um fator relevante é psicossocial: os pais temem por seus filhos. Quando adotados padrões sanitários e de testagem apropriados, é muito reduzida a probabilidade estatística de contágio entre professores e funcionários e, especialmente, de complicações sérias em crianças. Obviamente, o risco não é nulo — como, aliás, no caso de outras doenças contagiosas. E se meu filho for o ponto fora da curva?
O medo tem um contexto. A polarização política contaminou as discussões sobre a crise sanitária. O negacionismo bolsonarista provocou uma reação dogmática, que domina a imprensa e a parcela mais esclarecida da opinião pública: “Se Bolsonaro fala em abrir, exigimos fechar”. No lugar do debate racional de custos e benefícios de cada restrição sanitária específica, as vozes indignadas com a criminosa negligência do governo federal refugiam-se no clamor genérico por lockdowns. Nesse passo, o pensamento supostamente progressista limita-se a reproduzir a cartilha bolsonarista — apenas virando-a pelo avesso.
Na prática, como quarentenas prolongadas são insustentáveis, o clamor só contribui para moldar o ritmo e as formas da reabertura inevitável. Os governos autorizam a retomada dos setores politicamente organizados, capazes de exercer pressão eficiente, como templos, escritórios, indústrias e shoppings. Escolas? As crianças não têm associações de classe — e não votam. A política, não a epidemiologia, decide a sorte de “toda uma geração” de brasileiros sem voz.
Fora do Brasil, há negacionistas de direita, como Trump, e de esquerda, como o sandinista nicaraguense Daniel Ortega e o nacionalista mexicano López Obrador. No Brasil, porém, a esquerda cavou sua trincheira no quadrante mais extremo do fundamentalismo epidemiológico. O medo elege: a bandeira da irredutível “defesa da vida” descortina caminhos oportunos para a denúncia geral de governadores e prefeitos que, ao longo do tempo, flexibilizam quarentenas. É nessa moldura que se inscreve a exigência da manutenção de escolas fechadas “até a vacina”, já explicitada pelo candidato do PT à prefeitura de São Paulo.
Os alunos não têm voz, mas os sindicatos de professores têm — e utilizam poderosos megafones para sabotar o mero debate sobre reabertura escolar. Manaus é mais um indício de que é possível reabrir escolas com segurança nas cidades que descem a ladeira da curva pandêmica. Daí surge a palavra de ordem “Não antes da vacina!” — que, nas condições atuais, equivale a aguardar a descoberta do genuíno Santo Graal ou do mapa da Serra das Esmeraldas. Escolas, só depois da Segunda Vinda de Cristo, diriam os chefões sindicais, se empregassem a linguagem dos bispos.
Guterres não tem chance no Brasil. Bolsonaro, que fingiu decretar a reabertura de quase tudo, nunca falou em abrir escolas. Aqui, a elite segregou seus filhos em colégios-butique, cujas anuidades são mais bem expressas em dólar, os governos de esquerda jamais se importaram com a tragédia educacional retratada nas comparações internacionais do Pisa, e o governo da extrema direita entregou o MEC a um analfabeto funcional malcriado.
Educação pública é bem supérfluo — eis o único consenso nacional.
Demétrio Magnoli: Vírus ainda mais contagioso controla os portões escolares, a política eleitoral
Um ano sem aula cobrará preço devastador em vidas intelectuais e profissionais amputadas
Vejo, melancólico, as fotos de Adriano Vizoni, das escolas públicas fechadas (Folha, 27.jul). Lembro das primeiras escolas em que dei aulas, em Carapicuíba e Caucaia do Alto, nos idos de 1978. A placidez com que o Brasil encara a interrupção eterna do ano escolar é um retrato em preto e branco do desprezo nacional pelos pobres —e pela educação.
Cito os estudos científicos sobre as escolas básicas suecas, que nunca fecharam, e alemãs, reabertas em maio? Eles mostram o risco irrisório do retorno parcial às aulas, sob os conhecidos protocolos sanitários, durante o declínio das infecções. Menciono a orientação do Centro de Controle de Doenças dos EUA —são médicos, não agentes de Trump— de próximo retorno às aulas (bit.ly/30ac7AZ)? Melhor não.
"Você quer matar as crianças, os professores, os pais e os avôs!"; "arauto da necropolítica!"; "genocida!". As réplicas rituais surgem, aos gritos, de quem jamais lerá estudo algum —mas não cansa de empregar a palavra "ciência".
Falar em escolas já produziu até uma nova especialidade acadêmica. Um matemático da FGV criou um modelo profético que garantia a morte de milhares de crianças em poucas semanas de aulas. Depois, voltou atrás, alegando "empolgação", reconhecendo equívocos de comunicação e estratosféricas incertezas estatísticas. Com o vírus, ao lado da Matemática Pura e da Aplicada, nasceu a Matemática Empolgada.
"Uma única vida perdida", porém, seria suficiente para manter as escolas fechadas, concluiu o matemático, jogando no lixo seu monumento estatístico em ruínas. De acordo com o modelo mental hegemônico entre governantes e especialistas fechados na bolha da alta classe média, crianças sem aula foram isoladas em tubos de vácuo: não brincam nas ruas, não retornam às suas casas e, portanto, não transmitem o vírus.
Sindicatos de professores concorrem, em corporativismo, com associações de policiais. A simples menção à hipótese longínqua de reabertura escolar deflagra ameaças de greves. Dirigentes das entidades querem evitar a volta às aulas até o advento da vacina. O fenômeno é mundial: um manifesto do sindicato de professores de Los Angeles lista dezenas de pressupostos para a reabertura, inclusive a implantação de um sistema universal de saúde nos EUA. Esqueceram de exigir a prévia abolição do papado.
O Plano São Paulo prevê a retomada de aulas apenas um mês depois de todas as regiões atingirem em uníssono a etapa amarela. Por que uma escola paulistana não pode reabrir enquanto ainda pesam restrições sanitárias em Araçatuba? João Gabbardo, do centro de contingência, explicou que o obstáculo não decorre de critérios epidemiológicos, mas de uma norma de uniformidade da Secretaria de Educação.
De fato, um outro vírus, ainda mais contagioso, controla os portões escolares. O nome dele é política eleitoral.
Os pais têm medo, um sentimento compreensível, em parte derivado da "empolgação" jornalística. Nos dias em curso, a notícia lateral de que a França foi obrigada a fechar novamente algumas dezenas de escolas soterra a informação sobre a reabertura em segurança de 40 mil escolas. Nesses tempos, apesar do elogio editorial à ciência, um matemático empolgado ganha as manchetes que ignoram pesquisas epidemiológicas baseadas em evidências.
Na escola, as crianças aprendem a aprender. Um ano sem aula cobrará preço devastador em vidas intelectuais e profissionais amputadas. Bons professores sabem disso —e não precisam curvar-se às ordens dos chefões sindicais.
Como os médicos e enfermeiros, eles têm o dever cívico de levantar as mãos, declarando-se prontos a enfrentar riscos muito menores. De minha parte, vai aqui uma mensagem de voluntariado ao governo estadual: estou pronto a voltar a meus 19 anos, substituindo professores recalcitrantes em qualquer escola pública —até a vacina.
*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.