cientista político
Economista: espero que o Brasil consiga sair com mínimo de sequelas possíveis
João Vítor*, com edição da Coordenadora das Mídias Sociais da FAP, Nívia Cerqueira
Às vésperas do segundo turno das eleições, a população presencia cada vez mais casos de violência política. “Nós estamos vendo a escalada crescente da violência num contexto amplo. A democracia brasileira está ameaçada sim e nós não podemos fingir que o problema não existe. Eu espero que o Brasil consiga sair desse processo com o mínimo de traumas e sequelas possíveis”, diz o economista Benito Salomão. O tema será debatido em evento virtual organizado pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília, nesta quarta-feira (26/10), às 18h .
O cientista político Sérgio Fausto e o advogado Fábio Feldman confirmaram presença no webinário, que terá transmissão ao vivo no Youtube, site e Facebook da FAP. Salomão fará a mediação do debate. Ele acrescenta que neste momento tão importante da política, a democracia necessita ser esclarecida à sociedade. “O evento é no sentido de alertar a população desses riscos e discutir a importância da manutenção da democracia no Brasil”, enfatiza o economista.
Os eleitores vão às urnas no dia 30 deste mês de outubro para definir o próximo presidente da República. Os candidatos para representar o Brasil a partir de 2023 são: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro (PL).
“Acho que a nossa democracia está ameaçada como nunca esteve. Nós vemos uma tentativa de coação do poder judiciário, que é quem define as regras, é o árbitro da partida. Nós vemos uma tentativa de constrangimento constante às autoridades que são responsáveis pela questão das regras do processo eleitoral, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”, diz Benito.
Serviço
Webinário : Riscos democráticos para o Brasil 2023
Realização: Fundação Astrojildo Pereira
Data: 26/10, às 18h
Transmissão no YouTube e Facebook da FAP
*Integrante do programa de estágio da FAP sob supervisão.
José Álvaro Moisés: "PSDB jogou fora oportunidade”
Para cientista político, quem vencer prévia tucana vai ter que disputar com Moro e Ciro
Cristian Klein / Valor Econômico
Rio - A crise gerada pelas prévias do PSDB expõe um partido dividido que terá um trabalho redobrado para retomar o protagonismo da disputa presidencial, afirma o cientista político José Álvaro Moisés, da Universidade de São Paulo (USP). O que já era difícil, para um partido que obteve 4,7% dos votos ao Planalto em 2018 e tem pré-candidatos com baixa pontuação nas pesquisas para 2022, se tornou “um panorama extremamente complexo”, diz Moisés, ex-secretário no Ministério da Cultura nos dois mandatos do governo de Fernando Henrique Cardoso.
Tanto o governador de São Paulo, João Doria, quanto o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disputam as prévias do PSDB com o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, poderiam se beneficiar do grande holofote que a disputa interna ganhou para se cacifarem nacionalmente. Mas o fiasco tecnológico e as brigas de caciques que vieram à tona geram descrédito sobre a capacidade de os tucanos liderarem a terceira via. “O PSDB jogou fora essa oportunidade, pelo menos até agora. Poderia ter dado visibilidade ao grande legado do partido durante as prévias”, diz o cientista político.
Para Moisés, os pré-candidatos do PSDB figuram numa espécie de terceiro pelotão da corrida presidencial, já bastante polarizada com a dianteira do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que reúne cerca de 40% das intenções de voto, e do atual, Jair Bolsonaro, que amealha por volta de 25% das preferências. Sobram 35% para a fragmentada terceira via, calcula.
No segundo pelotão, já não está fácil o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) crescer pela centro-esquerda, pois “Lula está muito estabilizado”, afirma. Por outro lado, também não está fácil para o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) atrair parte do eleitorado bolsonarista. “Outra figura da terceira via vai encontrar situação muito difícil, precisando disputar com Moro o voto de Bolsonaro e com Ciro o eleitorado de Lula. Difícil prever que quem quer que vença as prévias vá superar esses obstáculos”, diz Moisés.
Seja Doria ou Leite, os favoritos na disputa tucana, o grande desafio, em primeiro lugar, será o de unificar o partido, rachado pelo próprio acirramento das prévias e pelas correntes bolsonarista e oposicionista. A construção de uma candidatura ao Planalto minimamente competitiva passa pelo que Arthur Virgílio chamou de processo de “desbolsonarização do PSDB”, aponta Moisés.
“Ainda assim, quem vencer vai ter que disputar com dois nomes [Moro e Ciro] que já estão mais bem estabelecidos, com 10%, 11% das intenções de voto”, afirma o coordenador do Grupo de Pesquisa sobre a Qualidade da Democracia, no Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP.
Pesquisa Genial/Quaest divulgada há duas semanas mostra dois cenários em que Lula oscila entre 47% e 48%, contra 21% de Bolsonaro. Moro registra 8%, Ciro varia entre 6% e 7%, enquanto Doria surge num cenário com 2% e Leite no outro com apenas 1%.

Para Moisés, a candidatura Doria seria mais competitiva, pela maior estrutura partidária do PSDB em São Paulo. “Agora, quem, de alguma maneira, acenou com possibilidades mais amplas de negociação, durante alguns debates das prévias, foi o Eduardo Leite. Então é difícil discriminar inteiramente quem dos dois vai desempenhar melhor o papel de unificação do partido e ao mesmo tempo de negociar com outras forças para se chegar a um nome de consenso”, afirma.
Professor aposentado da USP, Moisés diz que será muito difícil se chegar a esse nome de consenso da terceira via entre Moro, Ciro e o PSDB. “Chegar a um consenso entre esses três significaria transpor barreiras muito complicadas, políticas, ideológicas e mesmo regionais, que não estão tão visíveis” diz. “Mas é muito difícil. Até agora não se vislumbrou essa possibilidade. E no caso do PSDB, que de alguma maneira, estava querendo, digamos, montar o cavalo nesta direção, mancou e perdeu uma perna. E agora está tentando se reconstituir. Não vai ser fácil, mas está tentando”, conclui.
Para Moisés, a recuperação do eleitorado perdido pelos tucanos depende de o PSDB “trazer uma versão inteiramente nova e um compromisso com a social-democracia, não a keynesiana clássica”. “Mas é preciso redefinir o pacto do partido, numa combinação do enfrentamento das desigualdades sociais com a defesa da economia de mercado”, diz, lembrando que essa tese também tem sido pregada por Arthur Virgílio.
O ex-prefeito de Manaus, ao lado de Doria, tem sido um crítico duro da atuação do deputado federal e ex-senador mineiro Aécio Neves, apoiador de Leite. Aécio é apontado como líder da ala bolsonarista do partido, que resiste a adotar um tom oposicionista de olho em emendas e cargos oferecidos pelo governo federal. A expectativa é que uma vitória de Doria nas prévias possa provocar a desfiliação de tucanos simpatizantes de Bolsonaro. Por outro lado, se Leite vencer, o PSDB estaria mais propenso a abrir mão de candidatura própria, o que nunca aconteceu desde a redemocratização, nas últimas oito eleições presidenciais.
Indagado sobre o destino em disputa do partido, se mantém a vocação ao Executivo federal ou se converte-se numa típica legenda fisiológica, Moisés afirma que “as duas hipóteses estão colocadas”. Um dos problemas, ressalta, é que deputados do PSDB têm demonstrado a preocupação com o volume de recursos do fundo eleitoral que uma campanha à Presidência irá drenar, em vez de abastecer as campanhas dos parlamentares.
Fonte: Valor Econômico
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/11/26/partido-jogou-fora-oportunidade.ghtml
'Todos subestimam Bolsonaro: assim ele virou presidente e pode ser reeleito'
Para Creomar de Souza, oposição se fragmenta ao subestimar força do presidente, o que deve facilitar sua ida ao segundo turno, com chances de vitória
Mariana Schreiber / BBC News Brasil
A ideia de dar um segundo mandato ao presidente Jair Bolsonaro hoje é rejeitada pela maioria da população, segundo diferentes pesquisas eleitorais. Esses mesmos levantamentos mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como favorito para vencer a disputa presidencial do próximo ano.
Apesar disso, o cientista político Creomar de Souza, professor da Fundação Dom Cabral e fundador da consultoria política Dharma, avalia que Bolsonaro se mantém um candidato competitivo, com chances de permanecer no Palácio do Planalto em 2023.
Em entrevista à BBC News Brasil, ele lembra que o presidente mantém nas mãos a "chave do cofre", ou seja, recursos para tentar reverter sua impopularidade com políticas de governo, como o aumento de transferências de renda, seja com a prorrogação do auxílio emergencial ou a ampliação do Bolsa Família.
Além disso, acredita que "o canal paralelo de comunicação" construído por Bolsonaro e seus apoiadores por meio de grupos de WhatsApp e Telegram terão novamente papel importante na eleição, como forma de divulgar mensagens favoráveis ao presidente e "destruir reputações" de adversários. Para Souza, mesmo narrativas que pareçam pouco convincentes para parte da população podem cativar eleitores.




























































"O desemprego, o retorno da fome, a inflação: tudo isso gera uma enorme dificuldade para Bolsonaro. O que o presidente tem feito é jogar a conta da inflação no (discurso do) 'fique em casa durante a pandemia'. Me parece ser uma manobra muito difícil, mas não é uma manobra que não possa colar", afirma.
"Não podemos trabalhar com a ideia de que o eleitor é invulnerável a percepções que nós não consideremos objetivas da realidade. Temos que lembrar que, no fim das contas, muita gente tomou cloroquina e outros medicamentos que não tinham comprovação científica alguma. Isso acontece", reforça.
Para o professor, o cenário de 2018 está se repetindo agora, com uma ampla subestimação do potencial do presidente.
"Todo mundo subestima o Bolsonaro. O Lula subestima o Bolsonaro. Quem está com o Bolsonaro subestima o Bolsonaro. Quem quer fazer terceira via subestima o Bolsonaro. E uma característica bem importante do Bolsonaro como persona política é o fato de que ele chegou onde está com todo mundo o subestimando", lembra.
"Assim ele chegou à Presidência da República. Assim ele vai finalizar provavelmente o mandato sem impeachment, e assim ele pode inclusive ser reeleito", acrescenta.
Na sua visão, ao subestimar Bolsonaro, a oposição tende a se fragmentar, gerando um cenário mais favorável para o presidente estar no segundo turno, com chances de se reeleger.
"Em algum sentido, essa fraqueza aparente do Bolsonaro dá a impressão de que qualquer outro candidato pode derrotá-lo, e esse é o principal vetor que impede a construção de qualquer tipo de coalizão", ressalta.
"Essa é a melhor chance do Bolsonaro. Quanto mais fragmentada for essa oposição, quanto mais candidatos existirem, melhor pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma base concentrada de votantes. Se os (demais) votos estiverem muito diluídos em outros nomes, ele está no segundo turno", diz ainda.
Confira a seguir os principais trechos da entrevista.

BBC News Brasil - A alta rejeição de Bolsonaro medida nas pesquisas eleitorais tem indicado um caminho difícil para o presidente em 2022. Ele continua sendo um candidato competitivo com chances de se reeleger?
Creomar de Souza - O presidente ainda é competitivo por duas razões. A primeira delas está no campo bem tradicional da política: tem a chave do cofre. E quem tem a chave do cofre pode criar mecanismos, instrumentos, pra reverter percepções negativas sobre si mesmo. Isso não significa dizer que presidente é favorito ou ganharia a eleição com a fotografia que temos hoje. Mas o fato é: hoje o presidente conseguiria estar muito provavelmente no segundo turno. E isso não pode ser menosprezado.
A segunda razão que acho muito importante vem de um elemento mais novo da política, que tem muito impacto a partir de 2018 e acredito que terá muito impacto também em 2022: o presidente foi muito bem-sucedido em construir um canal paralelo de comunicação, se utilizando de WhatsApp e de Telegram de forma que, até onde eu sei, não há outra liderança política utilizando isso de maneira tão eficaz.
E a gente precisa lembrar de alguns dados. Por exemplo, uma pesquisa da consultoria Mckinsey mostra que o Brasil é o quarto país mais plugado à internet. Todo mundo usa WhatsApp, a ponto de quando tem algum problema no WhatsApp as pessoas confundem com queda de internet. Então, isso gera um impacto em termos de jogo político e eleitoral que não é desprezível.
O presidente da República e seus apoiadores têm um canal muito bem construído de construção de informações e de percepções e de destruição de reputação de inimigos. Então, em uma eleição que tem tudo pra ser altamente tumultuada, que caminha pra ter dois protagonistas (Bolsonaro e Lula) que são antagonistas e que despertam muitas paixões positivas e negativas, essa conjuntura gera um caldeirão que acaba diminuindo o componente de uma eleição que seria normal ou racionalizada.
Isso acaba sendo muito bom pro Bolsonaro em específico. Quanto mais raivosa for a eleição, melhor para ele. Porque a gente tem certeza de que os apoiadores do Bolsonaro vão às urnas. A gente não tem certeza se os eleitores nem-nem, que não sejam nem Bolsonaro nem Lula, vão comparecer à cabine de votação.
E tem outras variáveis como por exemplo o voto envergonhado. Aquelas pessoas que não dizem nas pesquisas que votam em Bolsonaro (mas na urna votam). Então, é importante levar todos esses elementos em consideração quando tentamos estabelecer uma compreensão responsável do processo eleitoral e não meramente aquilo que se deseja que seja o processo eleitoral.
BBC News Brasil - Os grupos de WhatsApp e Telegram são canais em que Bolsonaro se comunica com uma base mais fiel e radicalizada. A princípio, esse público não é suficiente para elegê-lo. Qual a importância de ter essa base radicalizada e o que ele precisa fazer pra conquistar apoio fora dela?
Souza - Creio que tem dois elementos importantíssimos nessa construção da persona política do Bolsonaro. A gente vai ter um Bolsonaro do WhatsApp, do Telegram, o Bolsonaro do YouTube, que fala para a base. E essa base é muito importante porque é o ponto de partida dele, a base que pode empurrá-lo ao segundo turno.
De outro lado, teremos um outro Bolsonaro que vai tentar ser mais palatável pra determinados pedaços da sociedade. E aqui tem um elemento que não se pode esquecer: a sociedade brasileira é em grande parte composta por pessoas conservadoras.
E onde essas duas linhas se encontram? Na junção entre a capacidade que os grupos de WhatsApp e Telegram tenham de produzir conteúdo e de manter essa base de apoio agregada, e o fato de que alguns desses conteúdos sejam palatáveis o suficiente pra atingir os concorrentes de Bolsonaro do ponto de vista eleitoral, como requentar as denúncias do Lula acerca de corrupção, falar de alguma característica de caráter do Ciro Gomes, ou fazer algum tipo de ataque a um outro candidato, como Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB), João Dória (governador de São Paulo pelo PSDB), (ex-ministro da Saúde, do DEM, Luís Henrique) Mandetta, quem quer que seja.
O entroncamento desses dois elementos me parece criar uma lógica e uma ação que o grupo do presidente hoje acredita que seja o suficiente pra requentar alguns elementos da narrativa de 2018, sobretudo a ideia de que Bolsonaro é um mártir diante de um sistema que é muito corrupto, que é muito pouco engajado na transformação do país, e ele pode usar isso com um mix de "olha, mesmo diante de todas essas dificuldades, nós entregamos algumas reformas".
Para o governo, hoje mais importante do que uma reforma (econômica) que seja boa, é ter reformas. Porque o governo precisa dizer para atores de mercado, para determinados atores da sociedade, que as reformas foram entregues. Se elas vão precisar ser refeitas em 2023 ou não, isso acaba se tornando uma questão menor.
Nesse aspecto, ele tem tido grande apoio do (presidente da Câmara dos Deputados) Arthur Lira (PP-AL), mas de outro lado tem-se uma dificuldade pra que se avance no Senado. Por exemplo, o senador Ângelo Coronel (PSD-BA) deixou muito claro que a reforma do Imposto de Renda não vai avançar e que o governo tem outras alternativas pra prorrogar o auxílio emergencial que não envolvam necessariamente rebatizar o Bolsa Família.
BBC News Brasil - O governo não conseguiu até o momento criar um programa para substituir o Bolsa Família, ao mesmo tempo que desemprego e inflação seguem altos. A economia e a atuação do governo na pandemia são fatores que dificultam a reeleição?
Souza - Sendo bem pragmático, eu creio que a pandemia não será o principal tema da eleição. A vacinação vai avançar, devagar os casos tendem a se reduzir e talvez a gente não tenha (em 2022) uma grande reflexão sobre o que foi a pandemia, sobre o papel do governo. Talvez o timing nesse aspecto da pandemia vai ser mais gentil com Bolsonaro do que foi com (o ex-presidente americano Donald) Trump por exemplo. O Trump entrou no processo eleitoral no meio da tempestade da pandemia. O Bolsonaro vai conseguir se distanciar disso.
Agora, o desemprego, o retorno da fome, a inflação: tudo isso gera uma enorme dificuldade para Bolsonaro. O que o presidente tem feito é jogar a conta da inflação no "fique em casa durante a pandemia". Me parece ser uma manobra muito difícil, mas não é uma manobra que não possa colar. Não podemos trabalhar com a ideia de que o eleitor é invulnerável a percepções que nós não consideremos objetivas da realidade. Temos que lembrar que, no fim das contas, muita gente tomou cloroquina e outros medicamentos que não tinham comprovação científica alguma. Isso acontece.
É uma estratégia que existe desde o primeiro dia de governo: tudo aquilo que é bom é sempre responsabilidade do Bolsonaro, e tudo que está errado ele sempre transfere o ônus. O presidente vai tentar terceirizar o ônus para os governadores e pros concorrentes políticos que foram favoráveis a medidas mais restritivas durante a pandemia.




























A questão é: vai colar? Isso depende da capacidade que o governo tem de por dinheiro na mão das pessoas, principalmente dos mais pobres, que são os que decidem a eleição. Vai depender de conseguir reativar o auxílio emergencial (previsto para acabar em outubro) ou ampliar o Bolsa Família.
BBC News Brasil - A vitória do presidente em 2018 é em boa parte atribuída ao antipetismo, que teria levado pessoas moderadas a votar em Bolsonaro. Esse fator perdeu força agora, dificultando a reeleição?
Souza - Me parece que o antipetismo é uma força de longa duração, assim como o petismo. O sistema político brasileiro da redemocratização é povoado por partidos fisiológicos, os partidos não são orgânicos. Você não vê uma pessoa na rua entusiasmada com uma bandeira do MDB ou do DEM, por exemplo. Já os partidos que são mais orgânicos em sua maioria são nada competitivos. E você tem uma exceção: o PT conseguiu se construir como um partido orgânico e competitivo.
Isso gerou dois elementos muito importantes. O primeiro é dentro do DNA do PT uma lógica de hegemonia. O PT quer ser um partido hegemônico. E os militantes do partido acreditam piamente que tenham direito a essa conquista hegemônica porque são o partido mais orgânico da República.
O segundo elemento é que, como não há uma cultura de vida partidária na sociedade civil como um todo, você desperta encantamento e estranhamento. Esse estranhamento se cristalizou numa lógica de antipestismo que vem mesclada com reminiscências de conservadorismo da sociedade, da ideia de que o PT é um partido comunista e coisas do gênero, que são anteriores até ao próprio partido.
Então eu creio que, assim como o petismo conseguiu sobreviver, saiu ferido mais saiu vivo de toda essa crise que vem de 2013 até 2016, o antipetismo é uma força de permanência.
Durante muito tempo se criou a ideia de que o PSDB era o partido orgânico do antipetismo, e o Bolsonaro veio pra destruir isso. O Bolsonaro elevou o antipetismo a um novo patamar. Ele conseguiu dizer: "o problema é que falta alguém que tenha coragem de dizer o que deve ser dito acerca desses caras. Eu vou dizer". Ele disse e foi bem-sucedido.
A questão é que hoje tem um antipetismo que está cristalizado no Bolsonaro, mas esse anti bolsonarismo está cristalizado no PT? Talvez essa seja a pergunta de um milhão de dólares pra eleição do ano que vem. Um cenário que no segundo turno teremos Lula contra Bolsonaro não será uma eleição de escolha positiva, será uma eleição em que a rejeição vai dizer mais que a aceitação. Com o retrato que nós temos hoje, provavelmente o Bolsonaro tem um problema, que é o fato de que ele tem mais rejeição que o Lula (segundo as pesquisas atuais).
O antipetismo é uma força de longa duração e o PT trabalha muito pouco com a ideia de reduzir essas arestas. Acaba, em algum sentido, sendo cômodo também para o partido trabalhar com a ideia de que eleitores que não gostam dele são moralmente não comprometidos com uma transformação social. Assim, os coloca em um ponto de vilania. Isso é parte do processo também.
BBC News Brasil - A principal aposta dos potenciais candidatos da terceira via hoje parece ser o derretimento de Bolsonaro e a possibilidade de uma dessas alternativas disputar o segundo turno com Lula. É um cenário provável ou estão subestimando o presidente?
Souza - Eu creio que todo mundo subestima o Bolsonaro. O Lula subestima o Bolsonaro. Quem está com o Bolsonaro subestima o Bolsonaro. Quem quer fazer terceira via subestima o Bolsonaro. E uma característica bem importante do Bolsonaro como persona política é o fato de que ele chegou onde está com todo mundo o subestimando.
Todo mundo acha que não vai dar em nada, que o Bolsonaro de fato não é uma ameaça ou que ele vai estar sob controle de alguém. E ele vai galgando as posições e assim ele chegou à Presidência da República. Assim ele vai finalizar provavelmente o mandato sem impeachment, assim ele pode inclusive ser reeleito presidente da República.
Para além disso, eu creio que para a terceira via está faltando mensagem. Sem uma mensagem você não tem voto.














































E aí, por exemplo, caso o (apresentador José Luiz) Datena saia candidato pelo União Brasil (partido que será criado com a fusão de DEM e PSL) ou que a gente imagine um cenário de uma chapa do Eduardo Leite com Datena, com um monte de dinheiro, tempo de TV (para propaganda eleitoral), possibilidade de fazer um monte de coisa, mas isso não necessariamente significa que você consegue entregar algo, porque no fim você precisa de uma mensagem.
E nós aqui (na consultoria política Dharma) acreditamos que essa mensagem vai estar num tripé que envolva melhoria econômica, qualidade de política pública e, em específico, o tema saúde. A covid vai ter um elemento nisso, mas a reflexão sobre o SUS vai ser um elemento importante também.
Nesse aspecto, me parece que Bolsonaro, numa manobra muito arriscada, vai se negar a discutir vários desses temas e vai insistir na ideia do anticorrupção, de "não tem escândalo no meu governo". Ele ganhou uma eleição negando os debates, então isso pode funcionar de novo, não se pode descartar isso.
O Lula vai trabalhar muito com a memória (do seu governo), e essa terceira via, os candidatos que queiram esse voto nem-nem, vão ter que entregar alguma coisa, trazer uma mensagem bem construída.
BBC News Brasil - Esse cenário de predominância da preocupação econômica na eleição, do aumento da miséria, parece ser um cenário que favorece Lula a trabalhar com a memória do seu governo. Qual seria a fraqueza dele, algo que pode atrapalhar esse caminho?
Souza - Eu creio que o grande inimigo na candidatura do ex-presidente Lula será certamente todo o imbróglio que envolve a Lava Jato. Por mais que o ex-presidente e o partido hoje tenham uma narrativa de dizer que Lula foi inocente, para um número considerável de eleitores isso é uma história muito confusa, muito mal explicada. Muito provavelmente todos os inimigos de Lula farão uso disso de forma muito forte porque o líder da corrida eleitoral sempre é o alvo preferencial.
O Bolsonaro vai tentar tirar uma casquinha, o Ciro vai tirar uma casquinha, o candidato do PSDB vai tirar uma casquinha. É isso, o Lula vai virar a grande vidraça, cada outro candidato vai dar sua tijolada. E talvez por isso o Lula esteja sendo até aqui, muito inteligentemente, bastante parcimonioso em termos de exposição. O Lula não tem ido pra manifestações de rua, ele tem tentado manter uma variável de controle em que ele só dialogue em espaços em que sabe que mesmo quando vier alguma crítica, essa crítica vai ser muito tranquila.
Então, o grande obstáculo pra ele será como lidar com esse passivo. Pra uma parte da sociedade, o Sérgio Moro ainda é um herói nacional. E você precisa de todos os votos possíveis. Não é uma eleição em que as pesquisas estão dizendo que o Lula leva no primeiro turno. Muito provavelmente vai ser uma eleição muito acirrada, com muito tumulto e alguma instabilidade.
BBC News Brasil - Então, embora exista um discurso de que Bolsonaro é autoritário e de que tem que haver uma união das forças democráticas contra ele, na prática Lula, por ser o líder das pesquisas, pode virar o alvo preferencial?
Souza - E esse me parece ser um ponto bem interessante. Em algum sentido, essa fraqueza aparente do Bolsonaro dá a impressão de que qualquer outro candidato pode derrotá-lo, e esse é o principal vetor que impede a construção de qualquer tipo de coalizão. E essa é a melhor chance do Bolsonaro.
Quanto mais fragmentada for essa oposição, quanto mais candidatos existirem, melhor pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma base concentrada de votantes. Se os (demais) votos estiverem muito diluídos em outros nomes, ele está no segundo turno. E segundo turno é aquele negócio que a gente não sabe como termina, é muito difícil pra um candidato em reeleição perder em segundo turno. Esse é um ponto muito crítico e muito importante da conjuntura do ano que vem.
Fonte: BBC Brasil
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58936883
RPD 35 || Jairo Nicolau: "Urna eletrônica é motivo de orgulho, não de polêmica"
ENTREVISTA ESPECIAL - JAIRO NICOLAU
Militância do presidente da República na suspeição do voto digital pode ter contaminado cerca de um terço do eleitorado brasileiro, acredita o cientista político Jairo Nicolau
Por Caetano Araujo, Arlindo Oliveira e André Amado
Entrevistado especial da edição de setembro da Revista Política Democrática Online, o cientista político Jairo Nicolau critica duramente os ataques contínuos do presidente da República à urna eletrônica - e ao processo eleitoral brasileiro -, considerada por ele como um dos processos de votação mais eficientes do mundo. "A urna eletrônica foi um grande passo para aperfeiçoar o processo de votação no Brasil. É, assim, um sucesso tanto contra a corrupção como na adulteração da vontade do eleitor no momento da votação e, claro, depois na contagem dos votos", avalia.
De acordo com o professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV), estima-se que a militância do presidente da República na suspeição do voto digital possa ter contaminado cerca de um terço do eleitorado. "O estrago é tão lastimável como irreversível. Poderá ser um período grande de desconfiança, de crises políticas graves", lamenta.
Mestre e doutor em Ciências Políticas no Iuperj, com pós-doutorado na Universidade de Oxford e no King’s Brazil Institute, Jairo é autor de vários livros sobre a política brasileira, como História do Voto no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002 e Sistemas Eleitorais. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. O último deles, publicado já durante a epidemia, é “O Brasil dobrou à direita: Uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018”.
Na entrevista à Revista Política Democrática Online, Jairo Nicolau também comenta termas como o sistema político brasileiro, reforma política, fragmentação partidária e processo eleitoral, entre outros. Confira, a seguir, os principais trechos:
Revista Política Democrática Online (RPD): Seu livro sobre a história do processo eleitoral no Brasil louva nosso sistema eleitoral por ser isento de fraudes. Como avaliar os questionamentos que se têm levantado recentemente quanto à inteireza do sistema de votação e, em particular, de apuração?
Jairo Nicolau (JN): Dei ênfase à redução das fraudes, não a seu banimento. Até pouco tempo, as fraudes aconteciam em dois momentos. No momento da votação propriamente dita - e todos aqui somos da época da urna de lona, da cédula de papel, e nos lembramos de como era difícil controlar as fraudes, mesas sendo arranjadas para facilitar que certas forças políticas comparecessem para encobrir o comparecimento de uma pessoa, votar no lugar de outra. E, na hora da apuração, quando todas as cédulas eram depositadas sobre mesas situadas em ginásios esportivos. Pegava-se um uma cédula, lia-se o nome de um e cantava-se o nome de outro. Se não tivesse um fiscal ali, na hora de transformar os votos contados para os boletins de urna, ninguém detinha as fraudes. Fui presidente de sessão eleitoral durante muitos anos e acompanhei as apurações e lembro bem de alguns casos.
Esse tipo de fraude terminou com a urna eletrônica. Além da urna eletrônica, temos hoje também um cadastro nacional de eleitores, de que pouca gente fala, que é checado periodicamente para evitar duplicação de entrada de eleitores. Dispomos ainda da leitura biométrica da identificação dos eleitores que exclui qualquer possibilidade de termos um eleitor inscrito em mais de uma sessão eleitoral ou uma pessoa votando em nome da outra. A urna eletrônica é, assim, um sucesso tanto contra a corrupção como na adulteração da vontade do eleitor no momento da votação e, claro, depois na contagem dos votos.
"Nossa fragmentação é tão alta que vamos levar muito tempo para voltar, por exemplo, ao que éramos na década de 90, com oito ou dez partidos. Isso só não aconteceu em 2018 por uma razão puramente contingente, o arrastão bolsonarista"
Subsistem algumas denúncias no atual processo eleitoral, como as de compra de votos, vale dizer, a influência política de alguns segmentos das elites sobre eleitores mais vulneráveis em certas áreas do Brasil. Isso não está mapeado, mas, de fato, ocorre. Ainda não contamos com um sistema de eleição semelhante a países com elevado nível de educação, como na Escandinávia, por exemplo. Mas o que a urna eletrônica fez já foi uma grande conquista. Não se dispõem de estatísticas confiáveis a respeito da confiabilidade das urnas eletrônicas. Estima-se que a militância do presidente da República de suspeição do voto digital possa ter contaminado cerca de um terço do eleitorado. O estrago é tão lastimável como irreversível.
Do nosso lado, dos democratas, das pessoas que acreditam que a urna foi um grande passo de aperfeiçoar o processo de votação no Brasil, resta sempre um movimento de reação. Reação significa campanha, denunciar fake news. Mas o estrago já está feito, justo quando deveríamos estar celebrando o reconhecimento de um dos processos de votação mais eficientes que conseguem traduzir a vontade do eleitor em preferência política do mundo. Diria até que, do ponto de vista da logística, é o melhor do mundo.
E esse sistema foi colocado em xeque pelo senhor Jair Bolsonaro. Poderá ser um período grande de desconfiança, de crises políticas graves. Continuo otimista com relação a nossa urna eletrônica e, agora, com o voto biométrico. É, sem dúvida, motivo de orgulho, não de polêmica, para todos nós, brasileiros.
RPD: Mais uma vez, estamos presenciando tentativas de alteração do sistema eleitoral a pouco mais de ano do pleito 22. Toda essa movimentação obedece ao receio dos deputados de não se reelegerem reflete, de fato, a necessidade de aprimorar o sistema eleitoral? A seu juízo, que alterações se justificariam para além dos interesses da sobrevivência eleitoral de A, B ou C?
JN: Em razão da regra de que qualquer mudança eleitoral só vale depois de um ano de aprovada, os anos ímpares costumam acumular propostas várias de reforma das regras do processo de votação. Aprovou-se, por exemplo, um calendário de entrada em vigor da cláusula de desempenho, ou seja, que os partidos devem ter uma votação mínima em âmbito nacional para eleições para a Câmara, para o partido ter, depois da eleição, acesso a recursos importantes, como fundo partidário, tempo de televisão. Essa regra já está em vigor, e a legislação prevê que ela vai aumentar até 2030. Ou seja, é possível fazer reformas nas regras eleitorais necessariamente para entrar em vigor na eleição seguinte.
Mas o quadro que a gente tem hoje, pelo menos desde 2014 sobretudo, é que, com algumas reformas, ficou claro que o intuito dos deputados era muito mais de se preservar politicamente do que pensar algum tipo de reforma mais generosa para o país, de aperfeiçoamento do sistema representativo. Acompanho, há muito tempo, os debates na Câmara e compreendo que a motivação dos deputados para reformas não exclui sobrevivência política. Seria estranho imaginar-se partidos cometendo suicídios políticos. Vejamos a questão do voto distrital. Sabemos que, por essa via, partidos de opinião praticamente desapareceriam. Ninguém espera um cálculo político absurdo desse tipo. Defende-se, também, a representação proporcional. Será apenas para proteger os interesses de minoriais? Difícil dizer. Em toda eleição tem um pouco de malícia, de auto-interesse, o que não é necessariamente ruim.
É o que tem acontecido, e aconteceu primeiro com o fundo eleitoral. Quando os deputados e senadores criaram, em 2015, o fundo eleitoral, perceberam que seria estratégico para a sobrevivência política. O dinheiro da campanha viria, sobretudo, do fundo; só faltava criar regras para proteger quem já tinha mandato. Na confecção do fundo, foram muito generosos consigo mesmos. Os partidos maiores ficaram com muito mais dinheiro do que os menores. Como era uma primeira eleição com o fundo, não custava ter deixado uma parte maior para distribuir para os pequenos partidos. Mas, não, eles concentraram o dinheiro do fundo.

"Quando os deputados e senadores criaram, em 2015, o fundo eleitoral, perceberam que seria estratégico para a sobrevivência política. Só faltava criar regras para proteger quem já tinha mandato"
Para proteger a elite política da incerteza da recondução eleitoral, cresceram as perspectivas do chamado Distritão, proposta agora derrotada na Câmara. Na visão dos políticos - tenho muitas dúvidas se eles estavam corretos nessa análise – o Distritão protegeria os deputados que tem mandato. Lembrem-se que, na última eleição, por exemplo, partidos, como o PP, o Progressista, deram muito mais dinheiro para quem tinha mandato, tentando atraí-los para suas legendas. Chegou-se a prometer dois milhões e meio por candidato. Ou seja, o partido não lança candidato à presidência, economiza e, com as sobras, celebra as barganhas. Apoiavam-se em propostas substantivas, republicanas, de melhor servir à cidadania? Não, prevalecia a ideia clássica que move os deputados: o interesse de pessoas, de políticos, nada a ver com os interesses dos partidos.
Reformas desse tipo, que chamo de egoísmo extremado, haverão de conduzir ao desaparecimento de partidos, que se atomizariam e se fragmentariam ante a ânsia incontida dos políticos de sobreviverem abraçandos mandatos, avessos a tudo que possa soar republicano, orgânico, de interesse público.
Não devemos esquecer que, em 2017, houve reforma profunda das regras eleitorais: acabou-se com a coligação e criou-se um sistema de cláusula de desempenho que vai subindo até 2030. O mais curioso é que, até agora, não se testou numa eleição nacional o fim das coligações, muito embora já conste da Constituição, o que um absurdo, é demais. Tanto mais quando já se tenta retirar da Carta Magna o que não foi testado. O que é isso se não é auto interesse? Se há quatro anos era importante para o Brasil acabar com as coligações, o que mudou agora?
A meu ver, esse debate foi muito mal encaminhado, conjugado ainda com essa discussão descabida sobre voto impresso. Com base em minha experiência de estudar esse assunto há muito tempo, digo que nunca vi um debate tão ruim, tão mal feito, tão mal escrito, tão desalinhado como esse das três comissões que o analisaram. É o sinal dos dias, uma legislatura medíocre que se meteu num tema que exige certa especialização e que não poderia ter produzido outra coisa que não um resultado medíocre.
RPD: Seu livro sobre o processo eleitoral para a câmara foi publicado em 2017, meses antes da promulgação da emenda constitucional que proíbe coligação, e a possibilidade de adoção de uma cláusula de barreira de 1,5%, progressiva no tempo, que terminou sendo adotada pela emenda de iniciativa do senador Ferraço. Acredita que a cláusula de desempenho nessa década funcionará com o propósito tal como foi imaginada, isto é, de 2%, 2,5%, em 2026, e 3%, em 2030?
JN: Acho que sim. A gente chegou a tamanho grau de pulverização e fragmentação partidárias que, independentemente do fim da coligação, iniciou-se um processo que se assemelha a uma onda. A onda foi ao máximo com a pulverização de partidos pequenos. Não há congresso algum no mundo que tenha o maior partido representado com menos de 60 membros. Tal hiperfragmentação é disfuncional. A cada votação na Câmara, tem-se de contar com 26 indicações de lideranças. Viu-se isso no processo de impeachment da Dilma. O eleitor não consegue mais seguir um partido diante de tantas siglas. Os políticos não logram criar uma identidade com uma legenda, porque a confusão é total.
É ruim para o presidente. A própria presidente Dilma mencionou que, na época do Fernando Henrique, do Lula, eles tinham cinco, seis partidos na coalizão. No caso dela, eram 14 ou mais.

"Além da urna eletrônica, temos hoje também um cadastro nacional de eleitores, de que pouca gente fala, que é checado periodicamente para evitar duplicação de entrada de eleitores"
Mas há uma razão que me parece fundamental para esse processo que eu estou apontando de encolhimento do quadro, de fragmentação, que é o dinheiro. Quer dizer, não dá para pulverizar o dinheiro, a elite política percebe que tem de concentrá-lo na mão de um número menor do que 26 forças políticas. Já algum movimento nessa direção. Alguns políticos do PSD falam de fusão com o PP e o PSL, que daria um mega partido de direita, ultrapassando 100 deputados, pela primeira vez em mais de 20 anos.
O problema maior pode ser para as pequenas legendas. O que têm acrescentado no debate nacional, com algumas exceções? Muito pouco. A cláusula de desempenho não foi mexida, vai manter-se a mesma, então o que mexe com o dinheiro não é a coligação, lembrando que a coligação é uma decisão do político, o fato de ter a norma não significa que, na prática, ela se concretize. Na campanha de 1986, muito poucos partidos se coligaram. O PT e o PSD, do Kassab, sempre se opuseram a coligações, e não será, agora, quando passam por um bom momento político, que haverão de rever sua posição de base.
Tudo indica, portanto, que quem quer coligar-se não tem cacife e quem não quer vai partir para atuações isoladas em alguns Estados, decididos a não se prestar a dar carona a partidos menores. Daí porque eu achar que o congresso de 2022 vai ser mais compacto do que o atual. Claro, não vamos chegar ao modelo inglês, com dois grandes partidos e alguns partidos pequenininhos. Nossa fragmentação é tão alta que vamos levar muito tempo para voltar, por exemplo, ao que éramos na década de 90, com oito ou dez partidos. Isso só não aconteceu em 2018 por uma razão puramente contingente, o arrastão bolsonarista. Caso contrário, o DEM, PSDB e MDB teriam bancadas mais expressivas com 50, 60 deputados cada um.
Quer dizer, o que o Bolsonaro fez em 2018, com aquele desempenho impressionante no primeiro turno, que se traduziu numa bancada gigantesca de deputados, ajudou, digamos assim, a quebrar um padrão, mas isso, para mim, não continua. Nem sempre há eleições extraordinárias. Vimos muitas eleições depois da redemocratização, e só em uma, um partido, fez o estrago. Se a gente olhar e comparar o que aconteceu com o maior partido do Brasil, o Partido dos Trabalhadores, para chegar a 50 deputados, o PT passou por umas cinco eleições. Teve oito em 82, dobrou para 16 em 86, foi para 30 e poucos em 90, chegou em torno de 50 em 94. Quer dizer, o partido levou uma década e meia ou duas décadas para chegar a 50 deputados, e o PSL numa eleição chegou a isso. Isso nunca tinha acontecido.
O surgimento do PSL trouxe um elemento ainda de fragmentação. Agora, o PSL, não é à toa que ele está buscando uma aliança com outro partido, porque eles estão percebendo que ali de baixo não tem nada, é oco. O partido não tem nome, aquilo ali foi um arrastão ocasional. Eu apostaria, intuitivamente, é uma aposta só de conversa fiada, vamos dizer assim, que uma boa parte, sei lá, 60%, 70% dos deputados do PSL não se reelegem mais, eles entraram ali e vão sumir como surgiram. Para mim, 22 será o momento de compactação política. Mas, de novo, não vai ser a compactação como conhecemos na década de 90, mas tampouco vamos repetir esse modelo de hiperpulverização de 2018.
RPD: Sabemos que nosso sistema eleitoral nas eleições proporcionais não é um sistema frequente no mundo. Normalmente, quem adota o sistema proporcional adota o sistema com alguma forma de fechamento ou pré-ordenamento das listas. Dado que nós temos uma certa singularidade nesse ponto, quais seriam, do ponto de vista dos eleitores, os principais problemas que esse sistema acarreta para nós?
JN: Para mim, o maior efeito desse sistema é que tem muitas formas de organizar-se a representação proporcional. O que há em comum entre os vários países que usam a representação proporcional é o princípio de que cada partido lança uma lista de nomes. Se a gente for na Polônia, na Bulgária, em Portugal, na Espanha, qualquer país do mundo que usa a representação proporcional, o fundamento é: lance uma lista de nomes, o voto dessa lista vai ser contado e nós vamos distribuir as cadeiras proporcionalmente segundo o volume de votos de cada lista. Isso é o que há de comum. Em Portugal, por exemplo, o eleitor não vota em nomes, porque a lista já vem prontinha de casa. Digamos que se no Brasil o sistema português fosse adotado, nós chegaríamos na seção eleitoral, olharíamos a ordem dos nomes. Primeiro lugar, candidato fulano, beltrano, ciclano. Assim funciona em Portugal, de modo de que na hora que se olha para a cédula, só marca um xis onde está seu partido. Como a gente votava para presidente no Brasil na época da cédula de papel, é uma cédula portuguesa para deputados: aparecem o símbolo do partido e o nome. A marcação do lado indica que se comprou o pacote, não se está escolhendo um nome.
"É o sinal dos dias, uma legislatura medíocre que se meteu num tema que exige certa especialização e que não poderia ter produzido outra coisa que não um resultado medíocre"
O que temos no Brasil é um sistema cuja ênfase no nome no candidato é muito forte. Costumo dizer que isso é agravado para os eleitores comuns pelo próprio processo de votação. A urna eletrônica, em que pesem todas as virtudes que identifiquei, não ajuda passar para o eleitor a sensação que ele está votando numa lista e não num nome. Se eu tivesse, por exemplo, um eleitor peruano que usa o sistema brasileiro de lista aberta, ele tem uma cédula grandona com o nome de todos os candidatos e as listas. Ele vai lá e marca um nomezinho na cédula, com todos os candidatos. Claro, no Brasil não daria porque são 400, 500 candidatos. Mas, se fossem 80, na época da cédula de papel, você faz uma cédula peruana, grandona, com retratinho, você vai lá e escolhe o retratinho, você está votando no nome. No Brasil, a gente não tem isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o maior problema que eu vejo na lista aberta é que o papel do político individual é muito grande. E como os Estados cresceram muito em tamanho, a população ficou muito grande e a sociedade brasileira, mais complexa, a política ficou mais democrática, os interesses atomizados da sociedade começaram a adotar o lugar da política, dos partidos, de uma maneira, fazendo uma ligação direta, que não existia no passado. Claro que sempre houve padre, um radialista, um artista da televisão fazendo política, lideranças da sociedade sempre entraram na política da vida. Nem todo mundo precisa começar a carreira política se filiando no diretório local, sendo vereador, depois deputado estadual. Essa carreira, digamos linear, acontece, mas o que eu percebo, recentemente, é que com essa mudança da sociedade brasileira, o atalho entre celebridades, lideranças da sociedade civil e a política, tanto para bem quanto para mal, ficou muito curtinho, ficou muito rápido.
A bancada do PSL é isto, não é? São 50 personalidades, raríssimos políticos de carreira ali, são pouquíssimos. Isso aparece com interesses econômicos, empresários que no passado faziam lobby, tinham amigos na política, começaram a se meter com política. Não estou falando de grandes empresários, do presidente da CNI, não, eu estou falando de empresários locais, dono de uma transportadora, um pecuarista que resolve ele mesmo entrar na política. Interesses, claro, do outro lado, sindicais. Não mais interesses religiosos, a gente não está falando de um líder religioso nacional, a gente está falando de um pastor de uma igreja pequena, de uma região do Rio de Janeiro, o sujeito vai direto. É um pastor de uma igreja rural, não tem atalho, ele entra num partido um ano antes da eleição, se elege federal. Ele é representante de quem? Ele é simplesmente o intermediador em Brasília entre os interesses da igreja e dos moradores lá da região dele.
RPD: A fragmentação está relacionada ao sistema? A falta de transparência e de inteligibilidade para os próprios eleitores está relacionada com isso? O que fazer para poder avançar na solução dessas questões?
JN: Acho que de certa maneira não tem como tirar a responsabilidade do sistema proporcional de lista aberta combinando com a mudança que o país passou. Quando a elite política era mais fechada, ela resolvia bem isso. Digamos, colocava os quadros, pensando até recentemente, no PSDB, nos partidos que fizeram a constituinte. Você tinha uma elite parlamentar que controlava a política e às vezes aparecia uma figura dessa, mas ele ficava na franja do sistema político, ele era em menor número. Agora, o Brasil mudou, o sistema eleitoral é o mesmo. Esse atalho é feito em ligação direta. Como a gente fazia no passado, ligava o carro em ligação direta, você não tem chave, não tem intermediação, isso me preocupa.
Para mim, mesmo uma reforma política, no que a gente está falando aqui de compactação, vai melhorar um pouco a inteligibilidade do sistema, ele vai ficar um pouco mais arrumado, mas essa questão mais funda, do hiperparticularismo dominando a política, que tem a ver com a lista aberta – claro, você pode botar uma lista fechada e não resolver esse problema –, que a lista aberta agrava esse problema eu não tenho dúvida. Isso veio para ficar, ou seja, o legislativo brasileiro está muito pulverizado não só em termos partidários, mas do particularismo dos interesses locais, interesses pontuais. A gente vê uma campanha para deputado, eu lembro que, no ano passado, tinha um sujeito que era representante dos porteiros do Rio de Janeiro, ele queria voto como representantes dos porteiros e trabalhadores nos prédios. “Eu quero representá-los em Brasília”. Veja, não é mais o interesse territorial, é o hiperinteresse. Isso realmente me preocupa, e eu não sei como a gente tem como mudar isso. Porque depois que a gente coloca essas pessoas no Legislativo, aí que elas não vão querer um sistema de lista fechada, porque elas provavelmente vão ficar na rabeira da lista, não é mesmo? É um modo de reprodução que é difícil quebrar nesse caso.
RPD: Devidamente autorizado por sua experiência na academia e nos corredores da política, que proposta gostaria de ver vitoriosa nas mudanças que se insinuam na área eleitoral?
JN: Para ser totalmente honesto, e diante dessas propostas, eu diria nenhuma. Nesse momento, era melhor deixar do jeito que está. A gente fez a reforma em 2017, ela não foi experimentada, eu acho que foi uma reforma que tem mais acertos do que erros. Talvez num momento dois, digamos, a partir da próxima legislatura eleita não com essa excepcionalidade que foi a eleição de 2018, nós possamos começar a discutir, não sei se nessa seguinte ou na outra, talvez uma forma de dar um pouco mais de contenção partidária a essa lista aberta brasileira. Talvez dando aos partidos mecanismos de ordenar a lista, como se faz em Portugal, ou até um formato que é usado em alguns países europeus, que eu gosto, particularmente, que é o seguinte: você fecha a lista, mas dá ao eleitor a opção, caso ele queira, de votar num nome específico. Com isso, caso um nome tenha algum destaque, ele pode se eleger. Quer dizer, você quebra um pouco, dá uma flexibilidade, por isso este modelo se chama lista flexível, à lista. Mas tudo isso pode ser discutido num ambiente em que, primeiro, a gente acabou com as coligações, tem uma certa compactação partidária e fique um ambiente melhor para conversar. Nesse ambiente, agora, desse atomismo que a gente conversou, eu acho melhor não mexer em nada. 2022, com as mesmas regras de 2018, com aperfeiçoamento de um fim da coligação e um aumento dos 2% da cláusula de desempenho.
Saiba mais sobre o entrevistado
Jairo Nicolau
É cientista político, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV). Mestre e doutor em Ciências Políticas no Iuperj, com pós-doutorado na Universidade de Oxford e no King’s Brazil Institute, é autor de vários livros sobre a política brasileira, como História do Voto no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002 e Sistemas Eleitorais. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. O último deles, publicado já durante a epidemia, é “O Brasil dobrou à direita: Uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018”.
Saiba mais sobre os entrevistadores

Caetano Araújo
É graduado em Sociologia pela Universidade de Brasília (1976), mestre (1980) e doutor (1992) em Sociologia pela mesma instituição de ensino. Atualmente, é diretor-geral da FAP e Consultor Legislativo do Senado Federal. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Teoria Sociológica e Sociologia Política.

Arlindo Fernandes de Oliveira
É advogado, especialista em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Público, IDP, especialista em Ciência Política pela Universidade de Brasília, UnB, bacharel em direito pelo Uniceub. Foi assessor da Câmara dos Deputados e da Assembléia Nacional Constituinte (1984-1092), analista judiciário do Supremo Tribunal Federal (1992-1996) e assessor da Casa Civil da Presidência da República (1995). Professor de Direito Eleitoral no Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, desde 2004. Desde 1996, consultor legislativo do Senado Federal, Núcleo de Direito, Área de Direito Constitucional, Eleitoral e Processo Legislativo.

André Amado
É escritor, pesquisador, embaixador aposentado e diretor da revista Política Democrática On-line. É autor de diversos livros, entre eles, A História de Detetives e a Ficção de Luiz Alfredo Garcia-Roza.
Christian Edward Cyril Lynch: Bolsonaro expõe autoritarismo de neoliberais e nova 'jornada de otários' de liberais
Cientista político analisa distinções de duas vertentes do liberalismo na história brasileira
Professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), é autor de ‘Da Monarquia à Oligarquia: História Institucional e Pensamento Político Brasileiro (1822-1930)’ (ed. Alameda), entre outros livros
[resumo] A adesão e o repúdio ao autoritarismo conservador de Jair Bolsonaro demonstram com clareza as distinções históricas de duas correntes do liberalismo no país, diz cientista político. Embora ambos tenham sido acometidos em períodos de crise pela tentação do golpismo, os liberais democratas têm como princípio central a defesa das liberdades individuais e políticas, o que pode trazer no bojo também a econômica, enquanto os neoliberais veem no livre mercado a razão de ser da ordem social, mesmo que às custas do desgaste do Estado de Direito.
O tema do neoliberalismo está em voga desde a década de 1980, quando a crise da social-democracia europeia trouxe a crítica do planejamento econômico pelo Estado e a defesa do liberalismo econômico como fórmula capaz de superar a estagnação.
Nos últimos dez anos, seu prestígio cresceu e seus partidários aderiram à chamada "nova direita", parte da qual viria a apoiar o governo Bolsonaro. O debate público sobre o conceito de liberalismo é intenso. Hoje, o tema guarda grande atualidade, tendo em vista o referido endosso de Paulo Guedes e de maioria dos neoliberais brasileiros às tendências conservadoras e autoritárias de Jair Bolsonaro.
Entre os pretendentes dessa ideologia política, a querela gira em torno de um liberalismo democrático inimigo do autoritarismo político (a vertente liberal democrata), que mantém relações pragmáticas com a economia, e um outro, para quem a liberdade política depende essencialmente da econômica, ponto de vista segundo o qual o verdadeiro autoritarismo seria a intervenção do Estado na economia (a vertente neoliberal).
Os neoliberais se apresentam como “liberais”, ou como sendo os “autênticos liberais”, alinhando-se, todavia, a pautas reconhecidamente conservadoras em sua dimensão política. Tentam, assim, conciliar em abstrato a distinção histórica entre conservadorismo e liberalismo, sem deixar de aderir a uma coalizão de vocação autoritária, que conta com conservadores reacionários (olavistas) e estatistas (militares).
Eles enfrentam sempre a oposição de outros “liberais”, que se pretendem progressistas e negam a compatibilidade entre liberalismo e conservadorismo ou autoritarismo político.
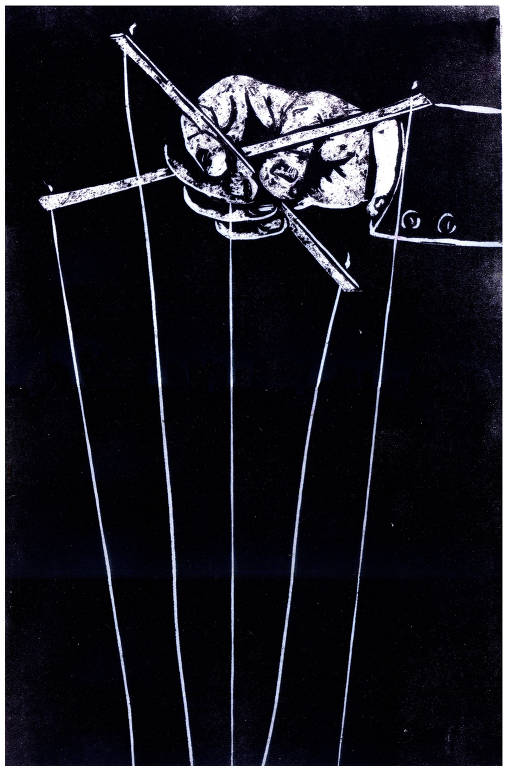
Vários estudiosos conferiram grande importância à questão das chamadas famílias, tradições ou linhagens do pensamento político brasileiro. Esse tipo de classificação tem entre suas vantagens a capacidade de servir de anteparo ao presentismo: a tentação de ver os problemas do momento atual como puramente inéditos. Assim, podemos revisitar a tradição do liberalismo brasileiro, buscando suas regularidades no tempo.
Desde o começo do século 19, os liberais associaram o suposto atraso brasileiro a um problema de origem. A baixa capacidade de os portugueses estabelecerem as bases de uma civilização moderna nos trópicos, a influência da Igreja Católica, a concentração da grande propriedade agrária e a escravidão teriam produzido uma sociedade civicamente egoísta, indiferente à ciência, dependente de um Estado autoritário e patrimonial, avessa ao indivíduo autônomo e incapaz de cooperação —como descrito, por exemplo, por Raymundo Faoro em “Os Donos do Poder” (1958).
Para além do transplante de instituições anglo-saxãs, o programa liberal inspirado por Stuart Mill tem se pautado por políticas públicas voltadas para a abertura comercial e cultural, para a descentralização político-administrativa, desregulação econômica e redução da burocracia.
Do ponto de vista político, o liberalismo brasileiro de tendência democrática manifesta um certo centrismo. O mais destacado intelectual liberal brasileiro do período pós-independência, Evaristo da Veiga, já celebrava a moderação como a virtude política por excelência. Essa postura confere aos liberais um dinamismo de se deslocar para a direita ou para a esquerda, conforme percebam a ameaça autoritária vindo de um dos lados opostos, socialista ou conservador.
No governo, o liberalismo democrático brasileiro tende a ser mais cauteloso, hesitando a respeito da conveniência e do ritmo da expansão dos direitos sociais e políticos. Acreditando que a colonização teria conformado uma sociedade inclinada a soluções políticas messiânicas, populistas e estatistas, os liberais acabam por não confiar no “bom senso” das massas. Daí a tendência a um excesso de moderação que conduz ao elitismo, ou seja, a circunscrever o centro decisório a uma minoria homogênea de cidadãos em termos de renda e cultura.
Desde que a democratização começou a surgir no horizonte, a partir da Campanha Abolicionista com Joaquim Nabuco e, depois, com a Campanha Civilista de Rui Barbosa, a classe média entrou no radar dos liberais. Como segmento social, exprimiria as qualidades da sociedade civil, por sua sensibilidade a temas como participação política, liberdade, mérito e moralidade.
Entretanto, por vezes, os liberais democráticos se perceberam em um clima de polarização entre a esquerda e a direita radicais que reduzia o seu espaço de atuação em defesa das liberdades públicas e inclinava o país para o autoritarismo. A sociedade brasileira parecia não se adequar à pedagogia dos valores cosmopolitas liberais.
Inoculada nas massas, a hostilidade a esses valores inclinaram-nas à tutela de um líder carismático; daí a fortuna de um conceito controverso como o de “populismo” tanto entre liberais quanto entre socialistas cosmopolitas. Tal diagnóstico leva muitos liberais democráticos a periodicamente advogarem mecanismos institucionais como o parlamentarismo e o judiciarismo.
Este último é uma velha aspiração que data da queda da Monarquia e encontrou seus grandes defensores em Rui Barbosa e Pedro Lessa, para quem a República transferira para o Supremo Tribunal a função arbitral exercida antes pelo Poder Moderador.
Somente na Nova República, todavia, com a retirada de cena do Exército, o judiciarismo se tornou hegemônico, auxiliado pelo desenho institucional da Constituição de 1988. No começo do século 21, voltou a ser apresentado como um remédio para as tendências corruptoras e oligárquicas da representação política.
Em épocas de polarização e crise aguda do Estado de Direito, quando as instituições constitucionais parecem indiferentes ou hostis à cultura do liberalismo, nasceu frequentemente entre os liberais democratas brasileiros a tentação do golpismo.
Desde 1889, o liberalismo nacional tendeu a encarar esse recurso como legítimo em momentos críticos para salvar a liberdade contra seus inimigos percebidos como autoritários. Quem melhor representou essa ambiguidade foi o próprio Rui Barbosa. O temor de um eventual reinado reacionário da princesa Isabel o fez embarcar no golpe militar e a se tornar ministro da ditadura republicana, interpretada por ele como um autoritarismo transitório que preparava um Estado de Direito mais sólido, conforme o figurino estadunidense.
Depois de combater o militarismo dos presidentes Floriano Peixoto e Hermes da Fonseca, Rui voltou a cogitar a intervenção do Exército no começo dos anos 1920, quando lhe pareceu que a República marchava de novo para o autoritarismo.
O golpe de 1964 também foi apoiado por liberais democratas, a exemplo de Afonso Arinos e Carlos Lacerda, como um breve período de exceção destinado a afastar o risco de ameaça comunista. Na prática, em todas essas ocasiões, os liberais brasileiros só participaram de uma “jornada de otários”, que precipitou o advento de um autoritarismo de direita que terminou por voltar-se contra eles e persegui-los como subversivos.
Embora se imagine sempre uma correlação automática entre liberalismo econômico e político, essa relação, ao longo dos últimos três séculos, é mais complexa e nem sempre de fácil distinção. Se a liberdade de mercado é parte das liberdades modernas, o foco sobre a liberdade política, aquela plasmada na forma dos direitos e das garantias constitucionais, distingue o liberalismo democrático daquele que via no livre mercado o objetivo principal de uma ordem liberal.
A esta última vertente poderíamos chamar de libertarianismo econômico, ou neoliberalismo. Surgido pelas mãos de Herbert Spencer por volta de 1880 como reação ao processo de democratização política, impulsionado pelo socialismo e pelo alargamento do sufrágio, o neoliberalismo consiste em um híbrido de liberalismo e conservadorismo: ao mesmo tempo em que apresenta características liberais, como o individualismo, eleva o mercado à condição de gerador e ordenador da vida social, intangível porque produto de forças extra-humanas —uma suposta “ordem espontânea” do universo social fruto da interação não planificada entre os indivíduos.
Os neoliberais apresentam seus argumentos em uma roupagem supostamente “técnica” ou “científica”, defendendo suas posições como as únicas “realistas”, não capturadas pela tentação idealista e normativa da mentalidade planificadora e maximizadora do Estado que teria marcado as ideologias democráticas desde o século 18, como se notaria tanto nos liberais quanto nos socialistas.
Na ideologia neoliberal, a função do Estado é essencialmente a preservação das condições de competição dos indivíduos no mercado. A justiça social é produto das leis do mercado, cujo livre funcionamento por parte de empresários “empreendedores” e criativos, em um contexto de população tecnicamente educada, geraria de forma mais ou menos automática riqueza pública e emprego, através de sucessivos ganhos de produtividade.
Para os neoliberais, o Brasil estaria sempre patinando entre a barbárie e a estupidez, carecendo constantemente de abertura comercial e financeira para o mercado exterior. Aqui, empreender teria muito mais obstáculos a enfrentar devido à ausência de uma cultura moderna, ou seja, capitalista. Em contraste, os países do Atlântico Norte costumam ser referenciados como modelares.
O cosmopolitismo neoliberal demonstra, coerentemente, grande apreço a organismos internacionais —mas não os de caráter político, como a Liga das Nações ou a ONU, enaltecidas pelos liberais democratas, e sim os financeiros, como o FMI, bancos e empresas multinacionais.
E se é verdade que ambas as tradições liberais podem ter uma aproximação instrumental com o autoritarismo, no caso dos neoliberais essa dimensão é muito mais acentuada. De todo esse diagnóstico negativo dos libertários econômicos sobre a situação do Brasil resultava um descompromisso ainda maior com a democracia.
A necessidade de um choque civilizador de capitalismo vindo de fora justificava métodos autoritários. A marca acentuadamente demofóbica já estava presente nos fundadores libertários da República, como os irmãos Alberto e Campos Sales, que ajudaram a urdir o golpe de 1889 contra os liberais e defendiam a toda força o presidencialismo, na crença de que só um governo forte e enérgico poderia enfrentar o “socialismo”.
No século 20, Eugênio Gudin e Roberto Campos demonstraram idêntico descaso com o regime democrático. Diziam que as constituições de 1946 e 1988, por não corresponderem às suas doutrinas, eram produtos da ignorância e da utopia. Como nenhuma delas resolvia os problemas do país, duravam pouco e mereciam, por isso, o desprezo geral.
Muitas tensões marcaram a convivência dos dois liberalismos, o democrático e o neoliberal, em nosso país. Para Rui Barbosa, o presidente Campos Sales era o grande artífice do conservadorismo da Primeira República. Ele acusava Sales de autoritário, oligarca e corruptor, assim como via na política neoliberal de seu ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, uma cortina de fumaça doutrinária destinada a favorecer os interesses internacionais. Já Sales e Murtinho chamavam Rui de subversivo e tendente ao socialismo, criticando sua política econômica.
Quando o regime militar impôs a Constituição de 1967, o liberal democrata Afonso Arinos também se queixou de que a nova Carta continha “excessivo liberalismo econômico em contraste com o autoritarismo político”. Em defesa dela, os neoliberais Gudin e Roberto Campos justificaram o fortalecimento do Executivo pela necessidade de passar as reformas modernizadoras de corte libertário.
Roberto Campos também se estranhou publicamente com Carlos Lacerda, quando este atacou sua política neoliberal como própria de tecnocratas e defendeu uma abordagem pragmática da economia. No livro “Brasil entre a Verdade e a Mentira” (1965), Lacerda invocou em seu apoio a autoridade de Rui Barbosa, cuja obra defendeu contra Murtinho e Campos.
Apoiador de primeira hora do golpe militar, Lacerda acabou preso após o AI-5 e teve seus direitos políticos cassados. Também para ele, a adesão ao golpismo resultou numa “jornada de otários”. A história se repetiu recentemente, com a adesão dos liberais democratas ao lavajatismo como método de deposição da esquerda. Ao invés de chegarem ao reino da liberdade republicana, esquentaram a cama para Jair Bolsonaro se deitar.
Depois de 1990, os liberais democratas recuperariam o discurso do liberalismo econômico, voltando a apresentar um ponto de contato com os neoliberais. Nem por isso se tornariam a mesma coisa. Em suas memórias, “A Lanterna na Popa” (1994), Roberto Campos lamentou as brigas com Arinos e Lacerda: “Foi tudo um grande desencontro...”. Ele estava errado. Embora aparentados do ponto de vista “macro ideológico”, o liberalismo democrático e o neoliberalismo, como já se percebia então, são ideologias distintas.
O liberalismo democrático, que representa o tronco principal da linhagem, na segunda metade do século 19 já havia, por meio de Stuart Mill, renunciado a aspectos secundários da doutrina, como o voto censitário e o liberalismo econômico, vinculados ao governo oligárquico e plutocrático.
O neoliberalismo, ao contrário, surgiu como uma reação conservadora à adaptação do liberalismo ao ambiente democrático, destinado a preservar a dimensão oligárquica e plutocrática do Estado de Direito. Onde os liberais viam democracia, os neoliberais passaram a ver socialismo. Longe de preservar o liberalismo oitocentista, os neoliberais deliberadamente o reformularam, modificando seus fundamentos, para se concentrar, quase que exclusivamente, na defesa do Estado mínimo.
O atual contencioso em torno do autoritarismo conservador de Bolsonaro demonstra com clareza a distinção de neoliberais e liberais democratas. A adesão de Paulo Guedes e seus admiradores ao bolsonarismo representa somente a manifestação, nos dias de hoje, do genótipo característico dos neoliberais brasileiros, de natureza plutocrática e oligárquica.
Basta lembrar que no passado apoiaram as ditaduras dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, a oligárquica República Velha e o regime militar de 1964 durante pelo menos dez anos. Como diz o Eclesiastes, não há nada de novo sob o sol...
A quem tiver o interesse de se aprofundar no assunto, recomendo a leitura deste artigo que escrevi sobre a trajetória do neoliberalismo no Brasil.
“Bolsonaro só decepcionou a turma do Posto Ipiranga”, afirma Leandro Machado
Em artigo na revista Política Democrática Online de março, cientista política analisa frustração de promessas liberais
Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) intervém cada vez mais na economia e escanteia Paulo Guedes, de acordo com o cientista político Leandro Machado, que cursa mestrado em administração pública pela Universidade de Harvard, em artigo na revista Política Democrática Online de março.
A revista tem periodicidade mensal. É produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania. A versão flip, com todos os conteúdos, pode ser acessada gratuitamente na seção de revista digital do portal da entidade.
De acordo com o analista, a imagem de Bolsonaro como liberal foi construída no período eleitoral, apesar de seu histórico como deputado federal e o viés nacional desenvolvimentista comum entre militares.
“Com Bolsonaro, guiado pelo guru da economia Paulo Guedes, os caminhos seriam outros. Era tanta admiração por Guedes que o futuro presidente jamais ousaria contrariá-lo”, lembra. “Quase deu certo. Logo no começo de 2019, começaram as negociações pela Reforma da Previdência”, acentua.
Sonhos frustrados
No artigo da revista Política Democrática Online, Machado ressalta que Bolsonaro até aprovou a criação da carteira de trabalho verde e amarela, com benefícios aos empregadores. “Só que, com as crises políticas, a Reforma da Previdência sofreu derrotas no Congresso, frustrando os sonhos de Guedes e dos liberais”, observa.
Daí em diante, de acordo com o cientista político, “Bolsonaro só decepcionou a turma do Posto Ipiranga”. “Ao contrário da promessa, o presidente meteu o bedelho em tudo na Petrobras e, ao contrário das promessas de campanha, vetou qualquer iniciativa de vender três empresas estatais: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e, claro, Petrobras”, assinala.
Na contramão das promessas, conforme lembra Machado, Bolsonaro até criou uma nova estatal, a Nav. “Isso sem contar outros pontos defendidos por políticas liberais – Bolsonaro completa o bingo do que não deveria fazer. A começar por um princípio básico: o liberalismo se pauta pela liberdade política e moral. Bolsonaro defende a ditadura há anos e lotou os ministérios com outros militares que pensam como ele”, analisa.
Leia também:
China tem investimentos em 25 estados brasileiros, diz Luiz Augusto de Castro Neves
Com armamento da população, Bolsonaro acena para guerra civil, diz Raul Jungmann
Saiba o que a tecnologia de vacinas contra Covid pode fazer por outros pacientes graves
“Bolsonaro não é só um mau soldado. É um fascista incapaz”, afirma Alberto Aggio
“Governo Bolsonaro enfrenta dura realidade de manter regras fiscais importantes”
Brasil corre risco de ter maior número absoluto de mortes por Covid, diz revista da FAP
Face deletéria de Bolsonaro é destaque da Política Democrática Online de março
Veja todas as 29 edições da revista Política Democrática Online
Octavio Amorim Neto: 'Militarização distorce processo político'
Retomada do poder de militares na América Latina, em especial no Brasil, traz sérias consequências para democracias, alerta cientista político
Por Malu Delgado, Valor Econômico
SÃO PAULO - Quais são as consequências, para a democracia, quando as Forças Armadas estão no centro da arena política, como no caso brasileiro? A pergunta mobiliza há dois anos o cientista político Octavio Amorim Neto, professor titular da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Em novembro passado, ele publicou um artigo intitulado De volta ao centro da Arena: causas e consequências do papel político dos militares sob Bolsonaro, no “Journal of Democracy”, publicação que é referência mundial sobre o tema. Em parceria com Igor Acácio, Amorim Neto reflete sobre as dificuldades atuais. E não é só o Brasil. Também a América Latina vivencia esse fenômeno, enfatiza.
Em entrevista ao Valor, por videoconferência, Amorim Neto ressalta o problema de termos em órgãos de comando os militares, “organização opaca e radicalmente verticalizada, baseada na hierarquia e na obediência”. Ao formar um ministério com quase 40% de militares e espalhar profissionais das Forças Armadas em mais de seis mil postos do governo, Jair Bolsonaro revela que sabe exatamente o que faz, pois consegue dissuadir o Congresso e a oposição de qualquer tentativa de impedimento. A incerteza sobre o grau de adesão da cúpula militar a um eventual golpe de Bolsonaro numa eventual tentativa de reeleição em 2022 é um ativo que o presidente explora para se manter forte no poder. A seguir, trechos da entrevista:
Valor: A América Latina já é vista por acadêmicos como a “terra das democracias militarizadas”. Quais indícios temos sobre isso?
Octavio Amorim Neto: A pandemia de covid-19 reforçou essa tendência, mas os problemas já estavam ficando patentes antes de 2020. O melhor exemplo é o México, que teve longo período de regime autoritário, com o PRI. O país se democratizou na década de 90, e militares tinham papel muito pequeno no governo. No começo do século 21, por conta do narcotráfico, vem uma reversão de um processo histórico de quase meio século, com a entrada de militares na arena política. Veio a eleição de [Andrés Manuel] López Obrador e a presença de militares aumentou mais ainda. O caso mexicano, junto com o brasileiro, são os dois mais chocantes de militarização recente. Houve, também, o golpe na Bolívia, por conta da última tentativa de reeleição do Evo Morales. Equador Peru e Colômbia sempre tiveram presença muito forte das Forças Armadas, seja para combater o crime ou para lidar com desastres naturais, ou reprimir protestos, como o que vimos no Chile, um país que era tido como democracia exemplar. Mas no Chile os militares viram as péssimas consequências e saíram. Esses são grandes casos que trouxeram a atenção da academia latino-americana e internacional.
Valor: O senhor aponta o governo Bolsonaro como sui generis, com 39% do ministério ocupado por militares, e 6 mil deles no governo. Quais as consequências disso?
Amorim Neto: Em primeiro lugar, Bolsonaro conseguiu criar um fator de dissuasão de tentativas de destituição. A entrada dos militares ajuda a evitar a repetição de um cenário como [Fernando] Collor e Dilma [Rousseff]. A experiência recente do Brasil com o regime militar ainda está viva na memória da classe política. O Brasil tem memória curta, mas de vez em quando esses fantasmas do passado renascem abruptamente. Os militares, desde 1989, são um dos principais atores políticos domésticos do país. Houve a ilusão, na comunidade acadêmica, de que o assunto foi resolvido no começo do século 21. Olha a surpresa que tivemos, a partir de 2018, e não apenas com a eleição de Bolsonaro. Em fevereiro de 2018 que tivemos o primeiro ministro da Defesa, militar, em quase 20 anos, o general [Joaquim Silva e] Luna, nomeado por Michel Temer. Em segundo lugar, Bolsonaro, apesar de estar nas política há três décadas, não tinha quadros. E onde presidentes buscam quadros? Em organizações e instituições em que confiam. Desde janeiro de 2019 eu denuncio as possíveis consequências negativas dessa militarização do governo. O melhor exemplo agora é o general [Eduardo] Pazuello. No regime democrático, a lealdade ao presidente da República tem que ser limitada. Um ministro de Estado não pode ser absolutamente leal ao presidente, tem que falar o que pensa. Se o presidente discorda, ele pede demissão e não acontece nada. No governo Bolsonaro, é totalmente diferente. Discordou, imediatamente vem o ataque da militância digital, e, em seguida, a demissão. Ou se subordina, como o Pazuello.
Valor: E esses que se subordinam inevitavelmente são os militares.
Amorim Neto: Para os militares isso esta entranhado na pele deles, porque presidente da República é o comandante chefe das Forças Armadas. Eles se sentem, mesmo na reserva, obrigados a ser absolutamente deferentes ao chefe supremo. Bolsonaro foi muito hábil neste sentido. A questão são as consequências para a democracia, para as Forças Armadas e para a Defesa Nacional de se colocar no centro da arena política uma organização como essa, opaca, radicalmente verticalizada, baseada na hierarquia e na obediência. No regime democrático, hierarquia tem limite. Para os militares, não.
Valor: A falta de transparência militar é um dos obstáculos mais delicados em democracias?
Amorim Neto: Sim. Partidos políticos, por exemplo, podem ser centralizados, dominados por um chefe, ter uma série de problemas, mas eles votam semanalmente. As preferências dos deputados estão lá, as reuniões de comissões são abertas ao público, as brigas são visíveis. Isso facilita o papel da imprensa e da cidadania, do ponto de vista da informação. Não existe isso nas Forças Armadas. Por dever de ofício, vivem sobre segredo de Estado. E trazem essa cultura para dentro do governo federal, o que o governo Bolsonaro fez massivamente. Isso que é sui generis. Não digo que essa massiva militarização acabou com a democracia, mas distorceu completamente o processo político, e criou ambiguidade enorme em relação ao papel das Forças Armadas. O papel delas não é governar o país.
Valor: O papel dos militares deveria estar circunscrito a postos de Defesa, não sendo recomendável que ocupem postos de governo?
Amorim Neto: Se militares começam a ocupar cargos de civis, o poder político deles aumenta. E ao verem seu poder político maximizado, a tarefa fundamental da democracia, que é o controle civil dos militares, torna-se muito mais difícil. Essa circunscrição é por razões políticas absolutamente fundamentais, e não apenas porque eles conhecem o “métier” militar. É porque se eles extrapolarem da área da Defesa, ou da Segurança Nacional, cria-se um problemão político, como estamos vendo hoje. A definição de carreira militar, dada pelo Comando do Exército Brasileiro é: “A farda não é uma veste da qual se despe com facilidade, até com indiferença, mas uma outra pele que adere à própria alma, irreversivelmente, para sempre”. Quando os militares dizem que militar da reserva é civil, estão negando o que diz o Comando.
Valor: A forma como o Brasil está enfrentando a covid-19 pode alertar o país e o mundo sobre esse risco de militarização na democracia?
Amorim Neto: Sem dúvida nenhuma o fato de termos um general da ativa comandando a Saúde é a expressão suprema das consequências negativas da militarização. Pazuello começou a fazer movimentos em direção à vacina, a falar publicamente. Bolsonaro foi diretamente a ele, subordiná-lo e submetê-lo. E o que ele fez? Aceitou. Isso tem a ver com o “ethos” militar, a cultura da obediência. Essa ficha não vai cair agora, mas no médio prazo, depois dessa tragédia que é a pandemia, vamos começar a ter o que havia nas décadas de 70 e 80, que é uma desconfiança enorme das Forças Armadas pelos quadros civis do país. E isso é péssimo para a democracia e é péssimo para a Defesa Nacional. Acho muito difícil voltarmos a ter um regime militar. Vamos ter sempre algo muito próximo de uma democracia, em que o Congresso terá um papel fundamental na aprovação do orçamento, na determinação de diretrizes básicas da defesa nacional. Como é que vai ser isso no pós-pandemia, no pós-Bolsonaro, depois da experiência de Pazuello e outros ministros fazendo aquilo que não lhes cabe fazer?
Valor: Bolsonaro é a expressão máxima dessa militarização, mas isso já não ocorria gradualmente no pós-impeachment de Dilma?
Amorim Neto: O problema da presença excessiva de militares no governo federal não começa no governo Temer, começa no governo Dilma. Eles foram chamados para o centro do Executivo federal por conta de grandes eventos, Copa, Olimpíadas, mas também pelo uso excessivo de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), para ajudar aos governadores diante de greves das polícias estaduais. Dilma os chamou para uma série de tarefas civis - o Exército foi chamado até para recapear pista do aeroporto de Guarulhos. Esse é o tipo de irresponsabilidade absurda das lideranças civis. E os militares passam a gostar disso. Eles dizem que é desvio de função, mas gostam de ter mais poder político, como qualquer organização. O governo do PT trouxe excessivamente os militares para dentro do governo e, ao mesmo tempo, brigou com eles via Comissão da Verdade. Tragicamente, se repetiram, com a organização militar, os problemas que Dilma teve com as organizações partidárias. Ela chamou 10 partidos para governar e brigou com quase todos. Fez a mesma coisa com militares.
Valor: Dilma foi torturada na ditadura. A esquerda foi consciente ao estimular a militarização?
Amorim Neto: Não, eles não tinham noção do que estavam fazendo. Isso tem a ver com um problema mais amplo: não há, na classe política brasileira, ao centro, à esquerda e à direita, uma reflexão sólida sobre o que fazer com as Forças Armadas. Houve um pragmatismo enorme de usar as Forças Armadas como ‘Bombril’, serve pra tudo. Tem problema na polícia do Maranhão? Manda o Exército. Tem desabamento no Espírito Santo? Manda o Exército. Não consegue recapear o aeroporto em São Paulo? Manda o Exército. Na Paraíba falta água? Manda o Exército. O que é isso! É uma irresponsabilidade. As Forças Armadas não são para isso. Qualquer problema que existe no Brasil e que tem a ver com a fraqueza das nossas capacidades estatais são chamadas as Forças Armadas. Resultado: as Forças Armadas voltaram a ser uma organização política fundamental para o regime democrático brasileiro, e isso veio concomitantemente ao colapso das organizações partidárias. Não houve reflexão nenhuma pelas grandes lideranças políticas civis do Brasil quando passaram a utilizar as Forças Armadas para tudo. Elas também são responsáveis pelo imbróglio que vivemos.
Valor: Cometemos erros na nossa transição democrática?
Amorim Neto: A transição brasileira foi bem-sucedida em vários aspectos, mas precisou de um grande pacto entre civis e militares, que implicou a anistia àqueles que perpetraram violações de direitos humanos. As Forças Armadas Brasileiras deixaram o poder em 1985 relativamente fortes, enquanto que na Argentina estavam totalmente desmoralizadas. A correlação de forças aqui era relativamente boa para os militares. Para mudar isso, precisaria de muita habilidade política, o que fizemos sob Fernando Henrique e Lula. A outra alternativa seria ser muito afirmativo em relação à necessidade da supremacia civil. Isso nossas lideranças partidárias nunca se empenharam para fazer. Por que as elites civis brasileiras têm tamanho desinteresse sobre o papel das Forças Armadas? É uma reflexão escassa. E o Itamaraty é parte deste problema, porque nossos diplomatas são alérgicos a qualquer discussão sobre a presença maior das Forças Armadas na política externa.
Valor: E os militares deveriam estar incluídos neste debate de política externa, democraticamente?
Amorim Neto: Sim, eles têm muito o que dizer. Hoje há problemas na América do Sul que exigem Forças Armadas preparadas. Temos o problemão da Venezuela, o êxodo venezuelano. Qual teria sido a melhor maneira de manejar os militares nos últimos 25 anos? Era ativar arenas institucionais em que eles têm um papel determinado pela lei. Exemplo: a convocação do Conselho de Defesa Nacional. Jamais foi convocado. Se fosse, nossos líderes conheceriam melhor a cabeça dos militares, e os militares conheceriam melhor a cabeça de nossos líderes. Nossos líderes políticos se tornaram alérgicos à questão militar. Se quisermos colocar os militares para fora da política depois de Bolsonaro, tudo terá que ser matéria de reflexão.
Valor: A falência da segurança pública fortaleceu a entrada dos militares na política pelo voto, e temos ainda as milícias. Essa conjuntura não vai interditar esse debate?
Amorim Neto: Não tenha dúvida disso. O debate vai ser dificílimo. Por isso tem que ser tema da campanha presidencial de 2022. Que poder político terá um presidente da República e seus aliados no Congresso para reverterem essa situação de militarização da política num regime democrático como o Brasil? É fundamental essa discussão pública, isso tem que chegar às lideranças políticas. Qualquer um que queira disputar com Bolsonaro, [João] Doria, [Luciano] Huck, Lula, tem que discutir isso. Se optarem por não discutir, pela estratégia de baixo custo, que é a padrão dos civis brasileiros para lidarem com questões militares, vamos continuar convivendo com os fantasmas do pretorianismo.
Valor: A invasão do Capitólio nos EUA suscitou um debate mundial. Há risco de Bolsonaro dar golpe com o aval militar?
Amorim Neto: Em dezembro de 2020, o general [Edson Leal] Pujol participou de teleconferência para discutir os planos do Exército para os próximos 10, 20 anos. Falou, de forma muito suave, que a política não deve entrar nos quartéis. Foi a mensagem mais clara que uma liderança institucional das Forças Armadas deu de que o Alto Comando do Exército não vai se associar a aventuras golpistas. Mas resta a questão dos subordinados. Minha interpretação é que o Exército é radicalmente profissional, e a disciplina vai prevalecer. Se o Alto Comando não quer aventura, os escalões intermediários e inferiores não vão entrar nessa. Essa mensagem foi captada pelo bolsonarismo e não à toa passaram a testar outra instituição. Estamos vendo agora o debate sobre a perda de controle das Polícias Militares pelos governadores. O populismo autoritário de extrema direita, a la Trump, vai testando todas as instituições, Congresso, Judiciário, Forças Armadas, polícia... Se perde aqui, tenta acolá. Se a proposta de maior autonomia das polícias militares é aprovada no Congresso, Bolsonaro e o bolsonarismo ganham. Se é derrotada, ele vai dizer: ‘eu tentei, estou sempre junto dos meus seguidores, quem me derrotou foi a velha política, as elites’. Acho que via militar está bem estreita e fechada agora, depois do pronunciamento do general Pujol. E soube que a Marinha mandou informar a lideranças do Congresso que também está fora disso.
Valor: Há chances de esses projetos das polícias prosperarem ou vai depender da eleição no Congresso?
Amorim Neto: Dificilmente passará, inclusive porque o Exército não gostou da ideia. É um desafio ao monopólio e autoridade, sobretudo do Exército, no que diz respeito ao uso da força legítima dentro do território nacional. Para Bolsonaro ser derrotado não é um problema. O fundamental é marcar posição perante o seu eleitorado radical. E tem o segundo benefício: desvia a atenção da má-gestão do governo na pandemia, educação, etc.
Valor: Parte da cúpula militar está ao lado de Bolsonaro. Como ter tanta certeza sobre o que farão?
Amorim Neto: Essa incerteza persistirá até o final do governo. Isso é um grande ativo na mão do Bolsonaro, a incerteza permanente da classe política, do jornalismo, da academia a respeito de para onde vão as Forças Armadas.
Valor: Por que os militares foram para o governo Bolsonaro?
Amorim Neto: Há décadas os militares reclamam de salários baixos e parcos investimentos, além de instabilidade nos gastos de Defesa. Quase todo o orçamento da Defesa vai para custeio, salários. É papel deles reduzir o gasto com pensões e salários, e o que vimos no governo Bolsonaro foi justamente o contrário. E a questão do anticomunismo sempre esteve presente no coração e nas mentes das Forças Armadas, desde a década de 30. Bolsonaro foi hábil ao pegar essa força subconsciente do anticomunismo militar brasileiro e adequá-la ao século 21, chamando-a de antipetismo. E a corrupção sempre foi o catalisador desse anticomunismo e salvacionismo militar.
Valor: Não há chance de impeachment com a militarização?
Amorim Neto: Vai depender muito do resultado da eleição da Câmara em fevereiro. Se o Arthur Lira (PP-AL) vencer, não teremos impeachment. Bolsonaro continua competitivo, mesmo com as perspectivas negativas da economia em 2021 e 2022. Isso porque a oposição continua muito fragmentada, a esquerda continua brigando entre si. A esquerda, se quiser derrotar Bolsonaro em 2022, terá que se unir para apoiar um candidato de centro. Isso é simples e óbvio, mas essa discussão ainda está muito atrasada.
Fernando Dantas: E se acontecer no Brasil?
Para cientista político Octavio Amorim, invasão do Capitólio reforça que centrodireita e militares têm papel fundamental para evitar que Bolsonaro atente contra a democracia nos próximos dois anos. Mas para derrotar Bolsonaro nas urnas, o dever de casa principal está com a esquerda
A invasão ontem do Capitólio por uma horda de extremistas, atiçada pelo presidente derrotado Donald Trump, trouxe de imediato o temor de que fatos semelhantes, ou até piores, possam ocorrer no Brasil em 2022, caso de Bolsonaro seja batido nas urnas.
Após o tumulto em Washington DC, Bolsonaro voltou a lançar suspeitas completamente infundadas sobre a eleição nos Estados Unidos e sobre o sistema eleitoral brasileiro.
Para o cientista político Octavio Amorim Neto, da Ebape-FGV, o risco é real: “Se uma democracia tradicional e antiga com os Estados Unidos podem passar por isso, imagina a nossa no Brasil, que tem 35 anos – está claro que bravatas presidenciais podem ter consequências radicais e deletérias para a democracia”.
Por outro lado, ele nota, “a ideia da necessidade de defender a democracia do extremismo de extrema-direita se fortalece no mundo inteiro com a invasão do Capitólio”.
Amorim cita editoriais da The Economist e do Financial Times, bíblias do establishment global, de ontem para hoje, com esse teor.
Mesmo aliados importantes de Trump, como o seu vice, Mike Pence, e o líder no Senado, Mitch McConnell, se distanciaram como puderam do episódio de ontem, condenando fortemente os invasores e contribuindo para que a certificação de Joe Biden como próximo presidente dos Estados Unidos ocorresse hoje com tranquilidade no Congresso.
O caos de ontem fez com que vários membros republicanos do Congresso que sinalizavam votar contra os resultados da eleição no Arizona e na Pennsylvania mudassem de posição. Ao final, a vitória de Biden foi confirmada por maciça maioria.
Amorim Neto lembra também da carta aberta, do início de janeiro, exortando as forças armadas norte-americanas a não se envolverem nas tentativas desesperadas de Trump de invalidar a eleição. O documento foi assinado pelos dez ex-secretários de Defesa ainda vivos, incluindo dois que serviram ao próprio Trump. A iniciativa foi coordenada pelo arquiconservador Dick Cheney, que serviu ao presidente George W. Bush.
No Brasil, essa ficha global que caiu, da necessidade de a direita que se pretende decente desembarcar definitivamente do trem do populismo de extrema-direita, pode ter efeito até na eleição para presidência da Câmara, na visão do analista.
O temor do risco à democracia representado pelo extremismo de direita poderia trazer mais alguns votos de centro-direita para a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), que disputa a presidência da Câmara com Arthur Lira (PP-AL), apoiado por Bolsonaro.
“Os políticos têm que analisar seriamente esse tipo de decisão, é hora de deixar de lado o cálculo individualista e a política do varejo, e pensar de forma mais ampla em qual candidatura fortalece o regime democrático no Brasil”, diz o cientista político.
Segundo Amorim Neto, “a bola está com a centro-direita e o Exército”, em termos de conter as ações antidemocráticas de Bolsonaro nos dois anos que lhe restam de governo. Na sua visão, são esses dois atores que mais têm o poder de subtrair do atual presidente a capacidade da atentar contra a democracia.
O cientista político diz que é difícil traçar a linha entre direita e centro-direita hoje em dia, com atores políticos em constante mudança (como João Doria). Mas a frase acima, sobre o papel da centro-direita, abarca, na sua definição, todos aqueles do centro à direita que não fazem parte do grupo extremista que apoia Bolsonaro de forma incondicional.
O papel do Exército também é fundamental. Amorim Neto observa que, em entrevista hoje à BBC sobre a invasão do Capitólio, o célebre cientista político norte-americano Steve Levitsky, autor do recente bestseller “Como as Democracias Morrem”, declarou que o “autogolpe” de Trump só fracassou por não ter apoio dos militares.
Um complicador adicional no caso brasileiro – e também americano, de certa forma – é o cultivo constante que Bolsonaro faz das forças policiais, especialmente da PM, a cujas formaturas o presidente comparece o mais que pode.
Embora em última instância o poder armado superior esteja com os militares, a capacidade de forças policiais, mobilizadas em favor de um presidente, de facilitar e até alimentar movimentos revoltosos não deve ser subestimada. Há uma especulação, inclusive, de que certa leniência da polícia diante dos invasores do Congresso americano poderia estar ligada à simpatia por Trump de grande número dos policiais envolvidos.
Amorim Neto nota que, durante a campanha presidencial, uma associação policial dos Estados Unidos chegou a apoiar Trump, o que deveria ser um ato impensável, a seu ver.
Mas o cientista político acrescenta que, se, em termos de refrear as ações autoritárias de Bolsonaro até 2022, “a bola está com a centro-direita e os militares”, em termos de derrotar o atual presidente na próxima eleição, “a bola está com a esquerda”.
Para ele, “se a esquerda continuar no seu gueto, lançar um candidato como Lula e fazer uma campanha radical, estará ajudando Bolsonaro a se reeleger, caso o presidente sobreviva ao dificílimo ano de 2021 e chegue competitivo a 2022”.
Segundo Amorim Neto, “a esquerda precisa ter sabedoria, se unir, e pensar seriamente em apoiar um candidato de centro em 2022”.
Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)
Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 7/1/2021, quinta-feira.
‘Projeto da frente democrática deve ser mantido’, diz José Álvaro Moisés
Em entrevista à revista da FAP de dezembro, professor da USP afirma que ‘bolsonarismo não vai se desmilinguir’
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
O professor do Departamento de Ciência Política da USP (Universidade de São Paulo) José Álvaro Moisés diz que o projeto da frente democrática deve ser mantido, já que, segundo ele, a premissa é que “o bolsonarismo não vai se desmilinguir por conta própria”. “Isso é uma presunção em relação a um governo que não tem rumo, tem muitos defeitos e muitas vezes comete crimes de responsabilidade que quase potencializam seu impeachment”, afirma, em entrevista exclusiva concedida a Caetano Araújo e Vinicius Müller, publicada na revista Política Democrática Online de dezembro.
Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de dezembro!
Todos os conteúdos da publicação, produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), são disponibilizados, gratuitamente, no site da entidade. Coordenador do Grupo de Trabalho sobre a Qualidade da Democracia do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP, Moisés explica que o bolsonarismo não vai se desmilinguir por conta própria porque, segundo ele, seria como se os bolsonaristas abrissem mão de governar. “Isso não vai acontecer”, afirma.
O professor da Unesp avalia que existe hoje, no Brasil, um vácuo de lideranças democráticas e progressistas capazes de interpretar o momento e os desafios do país e que possam se opor com chances reais de vencer o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Ele é especialista em temas como transição política, democratização, cultura política e sociedade civil.
Moisés publicou diversos livros de análises políticas como “Os brasileiros e a democracia” (Ed. Ática, SP 1995),"Democracia e confiança: Por que os cidadãos desconfiam das instituições públicas?" (edUSP), “O papel do Congresso Nacional no presidencialismo de coalizão” (2011), e "Crises da Democracia: O Papel do Congresso, dos Deputados e dos Partidos (2019), entre outros.
Na avaliação do entrevistado, o grande desafio da oposição para superar o bolsonarismo - tanto os partidos de centro-esquerda como os da esquerda - é o de se constituir em uma força com reconhecimento da sociedade para garantir a sobrevivência da democracia e, ao mesmo tempo, adotar estratégias adequadas para a retomada do desenvolvimento do País. De acordo com o cientista político, isso envolve o enfrentamento das desigualdades sociais e a necessidade de promover o crescimento econômico.
Leia também:
Como o Brasil pode ter inserção positiva na economia mundial? Bazileu Margarido explica
‘Despreparado para o exercício do governo’, diz Alberto Aggio sobre Bolsonaro
Desastre de Bolsonaro e incapacidade de governar são destaques da nova Política Democrática Online
Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online
Claudio Couto: Os resultados das eleições municipais atrapalham os planos de Bolsonaro para 2022? Sim
Perdeu a oportunidade de criar rede de apoio político e larga em desvantagem
Jair Bolsonaro tentou tomar de assalto o partido pelo qual se elegeu, o PSL, em vez de com ele construir boa relação —o que teria sido útil, considerando que a sigla teve a maior fatia do fundo eleitoral neste ano. Fracassou em seu intento, e a organização seguiu sob controle de seu velho cacique, Luciano Bivar. Depois, ensaiou construir seu próprio partido, o Aliança pelo Brasil. Novamente fracassou e, ao notar que não teria como viabilizá-lo em tempo para as eleições municipais, desistiu.
Com isso, Bolsonaro não teve um partido para chamar de seu durante as disputas locais, perdendo a oportunidade que seus antecessores —FHC e Lula— aproveitaram muito bem: fazer crescer sua agremiação pelo país, enraizando-se e criando uma rede de apoio político crucial para as eleições proporcionais vindouras (Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas), mas também para a Presidência da República. Só por isso (obra exclusivamente sua), já sai derrotado das eleições de 2020.
Agora, especula-se que o presidente —eleito por vociferar contra a “velha política”— possa se filiar a um dos partidos do centrão —a quintessência do que ela significa. O mais cogitado é o PP. É aquele que Bolsonaro integrou por mais tempo, a despeito das muitas mudanças de nome, desde que deixou de ser a Arena da ditadura militar e de ter vertebralidade política, tornando-se um mero partido de adesão: esses que apoiam qualquer governo, desde que bem recompensados, sem dar maior importância a ideologias ou programas.
Os partidos do centrão foram os que mais cresceram nesta eleição: PP, PSD, PL, Avante, Patriota, Podemos, PSC, Republicanos, Solidariedade —todos aumentaram o seu número de prefeituras. Até o ex-bolsonarista PSL cresceu. Apenas o jeffersoniano PTB e o MDB, dentre as agremiações de adesão, declinaram —embora este último permaneça o maior em número de governos locais. Hoje estão todos, com parcial exceção do MDB, na base formal do presidente no Congresso. Fosse de fato um governo de coalizão, talvez pudessem caminhar com Bolsonaro até 2022. Contudo, não é o caso.
Ademais, como diz a sabedoria política, o centrão ninguém compra, só aluga. Assim, se o governo seguir errático, improdutivo e perder popularidade país afora da mesma forma como tem ocorrido em grandes cidades, os partidos de adesão se atrelarão a outra candidatura, com maiores chances de ganhos. Ela pode ser de algum partido da centro-direita ou direita tradicional (não bolsonarista) que chegue bem em 2022.
Quem se saiu bem nestas eleições foi o DEM —que não é centrão, ou não teria ficado por mais de 12 anos firme na oposição aos governos petistas. O ex-PFL não só cresceu como ganhou cidades importantes: Salvador e, virtualmente, Rio de Janeiro. Ademais, terá livre de mandato, podendo percorrer o país a partir de janeiro, um dos prefeitos mais populares e jovens do Brasil: Antônio Carlos Magalhães Neto. Considerando-se ainda o contraponto que Rodrigo Maia tem feito ao bolsonarismo no Congresso, há espaço para ocupar o campo da direita com maior moderação e alienar o atual presidente.
Claro que o candidato também pode ser um outsider, como Luciano Huck, embora estas eleições estejam mostrando que o tempo de aventureiros e neófitos parece ter ficado em 2016 e 2018. O astro da TV talvez perca o lugar para um político mais experimentado nas hostes da direita —e esse provavelmente não será Jair Bolsonaro.
*Claudio Couto, professor de ciência política na FGV-Eaesp e coordenador e produtor do canal do YouTube e podcast ‘Fora da Política Não há Salvação
Sérgio Abranches: EUA de volta ao futuro
A vitória de Joe Biden marca um novo momento político nos Estados Unidos. Em um sentido muito direto, ela repõe o país na trilha que havia sido aberta pela eleição de Barack Obama. É mais do que a eleição de Biden, um senior Democrata moderado, para presidente. A eleição de Kamala Harris é um marco em si e além do que Biden representa. É a primeira mulher, a primeira pessoa de origem em várias minorias, negra, latina, asiática, a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos. Esta vitória é resultado da formação de uma coalizão que uniu Democratas moderados e de esquerda, em torno dos dois. Uma nova coalizão progressista, que aposta no Green New Deal e repõe a diversidade americana no caminho da plena cidadania.
A eleição de 2008 foi um marco. Levou à Casa Branca, pela primeira vez na história, um presidente negro. Foi o resultado de uma longa luta, que começou, no plano institucional, com a aprovação da 14a Emenda à Constituição, em 1868, dando aos afroamericanos os direitos de cidadania política. Mas eleitores negros continuaram a ser barrados nos locais de votação e a supressão do voto negro continuou. Para enfrentar mais seriamente este bloqueio, a 15a Emenda à Constituição, aprovada em 1870, determinou mais claramente que o direito aos cidadãos dos Estados Unidos não podem ser negados ou reduzidos pelos Estados Unidos ou qualquer um dos estados, com base em raça, cor, ou situação prévia de servidão. Mas, a luta prosseguiu, penosa e sangrenta. Passou pelos anos 1960 e 1970, por Martin Luther King, seu sonho e seu assassinato, até chegar a 2008 e a eleição de Obama, filho do segundo casamento de um economista queniano e uma antropóloga de origem anglo-saxônica.
Mas, a luta não acabou. As vítimas negras da brutalidade policial, atravessaram o governo Obama e aumentaram com Donald Trump. O assassinato de George Floyd à luz do dia, por dois policiais brancos, tornou-se o leit motiv para o movimento Black Lives Matter, que globalizou. O retorno à trilha inaugurada por Obama, entretanto, é efetivo e relevante. Kamala Harris na Vice-Presidência dos Estados Unidos compartilha os símbolos do poder imperial da Presidência — ela terá a segurança, o avião e o helicóptero Air Force Two, o respeito e a deferência prestados aos governantes dos Estados Unidos. Esta mulher sintetiza, para além de Obama, a possibilidade de estar no poder do conjunto das minorias étnicas do país e das mulheres. Não é pouco, nem é trivial.
Este resultado é importante, também porque demonstra, inequivocamente, a incidentalidade de governantes como Donald Trump. Ele entrou numa eleição atípica, em 2016, e sai numa eleição atípica em 2020. Como eu disse ser a trajetória provável dos governantes incidentais em meu livro (O Tempo dos Governantes Incidentais, Companhia das Letras, 2020). Quando este tipo de governante obtém o segundo mandato, é muito perigoso, porque escala o ataque às instituições democráticas por dentro. Eleição atípica, no segundo caso, por duas razões. A primeira, a campanha desigual, com Biden respeitando as regras de segurança na pandemia, mesmo com prejuízo de sua presença em colégios eleitorais relevantes e da reunião de eleitores no seu entorno. Trump, ao contrário, manteve comícios em desprezo a qualquer protocolo de segurança sanitária e, nos últimos três dias, fez um rali de comícios, chegando a ir a dez estados por dia. E perdeu. A segunda, a quantidade inédita de votos antecipados e, principalmente, por e-mail. Estes votos foram esmagadoramente por Biden, porque ele e seus correligionários convocaram os eleitores a votar desta maneira, o voto era importante e a necessidade de votar de forma segura, sem aglomerações ou filas, também. Foi a vitória da responsabilidade contra a insensatez.
Politicamente, a eleição de Biden foi apoiada por uma ampla coalizão antiTrump e pela democracia, que uniu o centro e a centro-direita do partido à sua esquerda, buscou os independentes e atraiu personalidades republicanas. Uma ampla coalizão que alcançava também os representantes e os movimentos sociais das minorias. Esta amplitude e diversidade teve como representante Kamala Harris.
No plano geopolítico, a vitória de Biden/Harris, tem várias implicações importantes. É uma mensagem dizendo que os governantes incidentais, por mais poderosos que pareçam, podem ser derrotados. É, também, uma convocação para a luta contra a intolerância contra minorias étnicas, imigrantes e todas as demais minorias. Deve demarcar o início do processo de reconstrução do multilateralismo, em maior sintonia com os desafios existenciais desafiando a governança global, como a mudança climática, os refugiados, os imigrantes, a crise global e a vertiginosa transição estrutural e tecnológica.
Biden não mudará radicalmente a atitude internacional dos Estados Unidos. Não tenho a ingenuidade de imaginá-lo como um revolucionário, no plano doméstico ou internacional. Obama tampouco o foi. Mas são avanços significativos e devem ser considerados como tal. Joe Biden e Kamala Harris, presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, repõem os Estados Unidos de volta à trilha do futuro.
*Sérgio Abranches, cientista político
Júlio Aurélio Vianna: 'Olho da reforma é o de manter a oligarquização do sistema partidário'
Pesquisador da Casa de Rui Barbosa acredita que distritão não melhora relação entre eleitos e eleitor
Por Marlen Couto, de O Globo
RIO - No livro "Viver em rede: as formas emergentes da dádiva" (7 Letras), com lançamento previsto para o início de setembro, o cientista político e pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa Júlio Aurélio Vianna Lopes analisa as mudanças provocadas pela emergência das redes sociais no nosso dia a dia e sua relação com a atual crise das democracias em todo o mundo, pano de fundo, no Brasil, das manifestações de junho de 2013 e da reforma política atualmente em tramitação no Congresso. Em entrevista ao GLOBO, Júlio Aurélio afirma que toda mudança no sistema político só é válida se propõe o empoderamento do eleitor e critica a reforma proposta pela Câmara: "É mudar para não mudar".
No livro, o senhor afirma que um candidato doa aos eleitores propostas, que são retribuídas pelos votos, assim como os governantes doam políticas públicas e são retribuídos com apoio dos governados. Hoje, no Brasil, essa conta não fecha e, por isso, há descrença com a política?
O consumo não está só no campo da economia, mas também na política é assim. A democracia moderna se organiza dessa forma: os eleitores são consumidores de políticas públicas e pagam com seus votos. Daí, a competição entre os partidos. Qual é a crise? Na atualidade, os consumidores estão se tornando ativos e não mais passivos, com os direitos do consumidor, clubes de compras, e outras formas de organização, com as redes sociais. Da mesma forma, na democracia, os eleitores sempre foram passivos, objetos das ações políticas partidárias, e hoje todos os sistemas eleitorais estão em crise, sejam distritais, proporcionais, parlamentaristas ou presidencialistas, apresentam descolamento entre eleitos e eleitores, porque há uma emergência de eleitores que querem ser ativos e não mais passivos dentro da democracia.
Com frequência, se diz por exemplo que o eleitor que anula o voto é desinteressado na política. Na verdade, esse eleitor quer participar mais da política?
Não é um desinteresse pela democracia, mas pelo seu atual formato. O eleitor não adere aos partidos porque não lhe dão reciprocidade e, assim, perde sua identificação. Isso ocorre porque os partidos pressupõem um eleitor passivo, a agenda política é definida pelos partidos, não pelo eleitorado, como se o eleitorado não tivesse sua agenda. O eleitorado diz há anos em pesquisas de opinião que saúde é uma prioridade, por exemplo, e isso não se traduz em políticas públicas. Isso está por trás do desânimo, do mal-estar das democracias modernas, o que impõe uma reforma profunda das instituições democráticas. É só contrastar a baixa adesão aos partidos e a crescente intensificação do debate sobre política nas redes sociais. O debate nas redes é muito intenso, independente da qualidade, que acho muito ruim, das bobagens e asneiras ditas. Muita intensidade significa que há potencial e interesse. O que precisamos é que a democracia, a institucionalidade, seja adequada. Em todo mundo, ela não é adequada hoje.
O que podemos fazer?
O dado fundamental vem do movimento de junho de 2013. Constatei que junho de 2013 tem afinidade com outros três movimentos, Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, Plataforma Taksim, na Turquia, e os indignados, na Espanha. Eles tiveram efeitos diversos, mas todos têm críticas implícitas ou explícitas aos representantes, denunciaram em comum a falta de feedback político dos eleitos, a falta de vínculo e confiança, cada um a sua maneira. O modo como a crise da democracia moderna vai ser enfrentada tem que ser proposto. A proposta que trago no livro é o de uma democracia compartilhativa. Esses movimentos mostraram que as redes sociais têm potencial para apresentar agendas governamentais. O que a gente precisa num momento em que estamos nos tornando uma sociedade em rede é adequar a democracia a uma sociedade em rede. A participação esporádica tem que ser tão importante quanto a participação organizada.
Como fazer isso na prática?
A primeira característica é ter um eleitorado interativo, que compartilha suas ideias. A tecnologia já permite isso. No momento de votar, por exemplo, já se poderia por meio da tecnologia definir a pauta legislativa e as prioridades governamentais e do orçamento. São coisas simples que já podem ser feitas. Já temos isso pelo portal do Senado, com o e-cidadania.
Uma reforma política focada no processo eleitoral, como a que está em tramitação, é suficiente ou será preciso olhar também para o período pós-eleição?
Toda reforma política só é produtiva e valerá a pena, se tiver como norte o empoderamento do eleitorado. É isso que o eleitorado quer. Não é necessariamente o que os partidos querem. A reforma acentua o que já acontece no atual sistema. No atual, qual é o problema? 70% do legislativo não é eleito com votos próprios. São os campeões de voto que arrastam mais parlamentares. O distritão é uma proposta que solidifica isso. Já não são os partidos que são valorizados. No sistema atual, a pessoa já importa mais que o partido, no distritão isso se reproduz e se institucionaliza. E não resolve o tema do vínculo entre eleitor e eleitos. Não se empodera o eleitor. No distritão, pode-se ter até uma maioria excluída, porque os que votaram nos candidatos não eleitos não são contemplados e eles podem ser a maioria. Os partidos no Brasil já sofreram a maldição de um cara chamado Robert Michels (sociólogo alemão), que dizia que todos os partidos se tornariam oligarquias. Ele disse isso pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E o sujeito foi acertando. Todos os partidos, de direita e de esquerda, foram se fechando em si mesmos. A reforma como está sendo pensada hoje é mudar para não mudar. Não muda a campanha eleitoral e faz-se um fundo bilionário. O sistema eleitoral deveria ser discutido junto do sistema de governo e do partidário. É um tripé. O olho da reforma é o de manter a oligarquização do sistema partidário. Os partidos impermeáveis e de aluguel ficam mantidos.
Por que não há reações e manifestações à discussão sobre a reforma política e ao governo Temer como as que ocorreram em junho de 2013?
As interpretações de junho de 2013 causam a atual polarização da política brasileira. As interpretações foram duas e formam o que o Pablo Ortellado (professor da USP) chama de polarização. Como movimento, junho de 2013 trouxe o tema da corrupção na política. Não podemos esquecer que a Lava-Jato é posterior, começou em 2014. Os protestos de 2013 foram um movimento pela qualidade dos serviços públicos republicano e democrático. A corrupção foi colocada como primeiro obstáculo a ser vencido para se ter saúde de qualidade, educação de qualidade, mobilidade urbana e serviços públicos em geral. A polarização não nasceu na eleição de 2014, mas a partir da interpretação do que foi esse movimento. Nenhuma duas interpretações sintetiza completamente o que foi de fato junho de 2013. Uma coloca que o PT é uma quadrilha responsável pela corrupção no Brasil, embora a manifestação tenha sido contra toda a classe política. A interpretação oposta é de que a corrupção não é o principal problema do país, mas uma distração para não enxergar as desigualdades sociais, os principais problemas. No entanto, essa interpretação não questiona a questão da qualidade dos serviços públicos, tema da manifestação de junho. Essa divisão da sociedade brasileira impede que haja manifestação, é uma trava. O que sustenta o governo Temer é essa divisão, a paralisia. Um lado não admite o outro e não conversa com o outro. Até para fazer e convocar uma manifestação, eles ficam sem chão. O governo Temer não resistiria, se houvesse uma manifestação unificada. Outra coisa é o cansaço. Mesmo nas manifestações contra a Dilma, havia um contingente que dizia assim: “sou contra todos esses políticos”. A maior parte do contingente em todas as manifestações pelo impeachment não era contra a Dilma apenas, mas contra a classe política. Tem gente que não participa dessa polarização, mas está cansada, desanimada. É o mal-estar da democracia moderna. Ele vai continuar e está fermentando.















