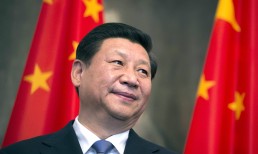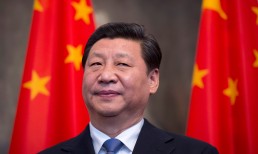China
Luiz Carlos Azedo: A modernização autoritária
“Cingapura virou uma referência em desenvolvimento em todos os quadrantes, da Europa à América Latina, da África à Ásia. Muitos sonham com a longevidade do poder de Lee Yew”
Ao contrário do que muitos imaginam, o paradigma do projeto comunista da China não é o velho livro vermelho com as ideias de Mao Zedong, é o pensamento modernizador de Xi Jinping e o modelo de Cingapura, estudado na nova escola de quadros do Partido Comunista chinês. Fundada há 86 anos numa caverna da província de Jiangxi, o complexo da academia hoje ocupa centenas de hectares junto ao Palácio de Verão de Pequim e abriga 1,5 mil alunos. Em 2018, a escola se fundiu com a Academia Chinesa de Governo para incorporar um novo objetivo: “investigar e disseminar o pensamento de Xi sobre o socialismo com caraterísticas chinesas para uma nova era”.
A grande preocupação dos dirigentes chineses continua sendo vencer a desigualdade social na China de hoje, uma contradição com as teses históricas do PCCh. Centenas de milhões de chineses saíram da pobreza nas últimas décadas, mas as grandes fortunas acumuladas na economia de mercado coexistem com salários baixíssimos e condições de vida precárias, em muitas regiões do país. O medo dos comunistas é que o avanço tecnológico e as vertiginosas mudanças possam afastar os jovens do regime. O massacre de Tiananmen, de 1989, e a Revolução Cultural (1966-1976) são temas proibidos nos currículos da escola de quadros, vértice de um sistema com 2,5 mil centros distribuídos por todo o país. Onde Cingapura entra nessa história?
Com seus arranha-céus, jatinhos particulares e carros de luxo, a cidade-estado, apesar de ter apenas 5,6 milhões de habitantes — contra 1,393 bilhão da China —, é o quarto país mais rico do mundo em poder de compra de seus habitantes, superado por Catar, Luxemburgo e Macau. Tornou-se um dos principais centros financeiros do Oriente, com número crescente de milionários e o custo de vida mais alto do mundo. Há 50 anos, porém, era apenas uma ilha pobre e sem recursos naturais, uma ex-colônia britânica que se separou da Malásia em 1965, sob a liderança de Lee Kuan Yew, cofundador do Partido da Ação Popular (PAP, na sigla em inglês), que governa o país desde 1959. Lee foi primeiro-ministro de Cingapura por 31 anos, vencendo sete eleições, até deixar o poder em 1985. Vem daí o paradigma político que interessa aos chineses: o regime de partido dominante, hoje comandado por Lee Hsien Loong, seu filho mais velho.
O sistema legal de Cingapura é baseada em leis herdadas do colonialismo britânico na Índia, sem seus valores liberais. Não existe tribunal de júri, por exemplo. Há castigos físicos e até a pena de morte para homicídios e tráfico de drogas, o que leva à maior taxa de execuções do mundo por habitante. Entretanto, é considerado um dos países menos corruptos do mundo, embora seja um notório paraíso fiscal para lavagem de dinheiro. Não existe ampla liberdade de expressão nem de reunião. Qualquer manifestação com mais de cinco pessoas precisa de autorização policial. Entretanto, o modelo econômico que viabilizou a modernização de Cingapura é estudado em todo mundo, principalmente nos países emergentes.
Corrida mundial
Advogado formado na Universidade de Cambridge, Lee foi uma espécie de déspota esclarecido moderno. Comandou o país durante sua fusão e a subsequente separação da Malásia, com a ambição de construir uma nação meritocrática e multirracial. Elaborou um extenso programa de reformas para tirar Cingapura do “buraco negro da miséria e da degradação” e transformá-la em um país industrializado e moderno, sob um modelo capitalista com controle estatal rígido. Beneficiou-se do fabuloso porto que abrigava a esquadra britânica da Ásia e sua localização estratégica, na rota comercial da China, da Índia e do Sudeste Asiático, além da proteção dos Estados Unidos.
O governo promoveu grandes programas de geração de emprego e a construção de moradias sociais, ao lado de uma política que acompanhava o controle da vida privada e a supressão de liberdades individuais, incluindo a prisão de opositores sem levá-los a julgamento e a aplicação de castigos corporais. Impressiona pelos altos níveis de educação, saúde e competitividade econômica, saltando de uma economia baseada na manufatura tradicional para um centro financeiro e tecnológico, com grandes investimentos estrangeiros, com uma população que fala quatro línguas: malaio, inglês, mandarim e tamil. Suas forças armadas são modernas, seguem o modelo israelense, e consomem 4,5% do orçamento, com bases aéreas na Austrália, Estados Unidos e França.
Cingapura virou uma referência para a modernização autoritária em todos os quadrantes, da Europa à América Latina, da África à Ásia. Muitos governantes sonham com a longevidade do poder de Lee Kuan Yew, como Vladimir Putin, na Rússia, e Tayyip Erdogan, na Turquia, sem falar nos ditadores de antigas repúblicas soviéticas e da África, além dos xeiques árabes. Tornou-se um ponto de referência na corrida mundial para reinventar o Estado, na qual o Ocidente enfrenta os problemas da economia de mercado aliados às disputas próprias dos regimes democráticos. Por isso, é melhor é ficar de olho no que acontece na política brasileira. Historicamente, sempre estivemos numa encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente.
Luiz Carlos Azedo: Nos deixem fora dessa
“Na guerra de fake news, atribuir as mais de 100 mil mortes por covid-19 a um falso “genocídio comunista chinês” reproduz uma mentalidade reacionária, xenófoba e racista”
No seu livro Sobre a China (Objetiva), de 2011, Henry Kissinger analisa a história, a diplomacia e a estratégia chinesas na cena mundial. Artífice da reaproximação entre os Estados Unidos e o “Império do Meio”, durante o governo de Richard Nixon, Kissinger realizou mais de 50 visitas a Pequim e a diversas províncias chinesas, encontrando-se com as principais lideranças que antecederam Xi Jinping, o atual presidente chinês: Mao Zedong, Zhou Enlai e Deng Xiaoping. O ex-secretário de Estado norte-americano previu que a China e os Estados Unidos — uma potência continental e uma potência marítima — travariam uma longa disputa pelo controle do comércio mundial, cujo eixo se deslocara do Atlântico pelo Pacífico. Até aí, nada demais. A coisa fica perturbadora quando ele mostra que essa disputa reproduziria o embate entre a Inglaterra, uma potência marítima, e a Alemanha, uma potência continental, pelo controle do comércio no Atlântico, o que provocou duas guerras mundiais no século passado. Quais seriam a forma e desfecho desse embate entre os Estados Unidos e a China?
A resposta começou a ser dada em fevereiro de 2012, com um anúncio da Chrysler, no intervalo da Superbowl, a final do campeonato de futebol americano: “As pessoas estão sem emprego e sofrendo… Detroit mostra-nos que dá para sair dessa. Este país não pode ser derrubado com um soco”. Começava ali a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China que agora estamos assistindo. A Chrysler traduzia o sentimento de milhões de norte-americanos que responsabilizavam a China pela perda de seus empregos. A empresa evocava o patriotismo ao dizer que comprar seus carros salvaria os americanos. Colou a tal ponto que a tese embalou a eleição de Donald Trump em 2016.
O anúncio fora visto por 111 milhões de pessoas, o que popularizou uma discussão que, na verdade, havia sido iniciada em 2005, por Ben Bernanke, então presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, e que ganhara força depois da crise financeira de 2008. O que dizia Bernanke? O deficit da balança de pagamentos dos Estados Unidos havia subido bruscamente no final dos anos 1990, atingindo US$ 640 bilhões, ou seja, 5,5% do PIB em 2004. A poupança interna também havia caído 16,5% do PIB desde 1996. O deficit só poderia ter sido financiado por investimentos estrangeiros. Para Bernanke, havia uma “fartura de poupança mundial” e os chineses, com um tremendo superavit comercial com os Estados Unidos, não estavam investindo nem comprando produtos norte-americanos, estavam aplicando os ganhos em poupança e reservas de moedas.
A pandemia
Bernanke citava outras causas, como o aumento do preço do petróleo e os “fundos de reservas” dos países para se prevenir em relação a crises, mas os chineses eram apontados como os grandes vilões. Na verdade, os americanos aproveitavam a fartura de crédito e se endividavam numa bolha imobiliária. A crise provocada pela falência do Lehman Brothers, porém, parecia corroborar a tese do então presidente do Fed: “Os superavits em conta-corrente da China foram usados quase todos para adquirir ativos dos EUA, mais de 80% deles em títulos do tesouro e de agências muito seguros”, dizia o ex-presidente do Fed. Muitos economistas contestaram a tese, culpar os chineses era uma desculpa para o próprio fracasso. A desregulamentação exagerada do sistema financeiro e a especulação no imobiliário norte-americano foram as principais causas da crise de 2008. A existência da tal “fartura de poupança” também é um mito. Entretanto, a narrativa está aí até hoje e ocupa o centro da campanha de reeleição de Trump, que, agora, também culpa os chineses pela pandemia de covid-19, que chama de “gripe chinesa”.
No Brasil, essa discussão também é pautada por interesses políticos, pois é uma forma de transferir responsabilidades e encontrar um bode expiatório para a pandemia. Na guerra de fake news, atribuir as mais de 100 mil mortes por covid-19 a um falso “genocídio comunista chinês” reproduz uma mentalidade reacionária, xenófoba e racista. Além disso, essa retórica pode trazer péssimas consequências para a economia brasileira, haja vista que o nosso principal parceiro comercial é a China e não os Estados Unidos, potência com a qual o presidente Jair Bolsonaro estabeleceu um alinhamento automático na nossa política externa. Bastou as autoridades sanitárias chinesas anunciarem a presença do vírus da covid-19 num lote de asas de frango congeladas exportado por um frigorífico brasileiro para que as Filipinas, um parceiro comercial importante, suspendessem as importações de frango do Brasil. Ou seja, melhor fazer o dever de casa e ficar fora dessa briga.
https://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-nos-deixem-fora-dessa/
Dorrit Harazim: Fresta aberta
Saber, curiosidade e humanidade podem emergir após pandemia
Da cidade de Wuhan, onde nasceu, cresceu e escapou o novo coronavírus, os relatos que conseguem driblar a censura do regime chinês ainda são esparsos e picados. Talvez sejam necessárias mais algumas gerações até que se consiga historiar como a Covid-19 transformou aquela cidade em laboratório humano. Mas de Bergamo e comunas vizinhas na Lombardia, berço e epicentro da mortandade na Europa, os relatos de terra arrasada transbordam à medida em que a vida, ali, retoma seu curso. Ou o que dela restou. O repórter Eric Jozsef, do diário francês “Libération”, fez um dos apanhados mais impactantes do que foi aquele manto da morte sobre Bergamo. Diante da escalada pandêmica cada vez mais abstrata, por incompreensível e incerta — 14 milhões de infectados globais, Estados Unidos apontando para 150 mil mortos, Brasil ultrapassando 2 milhões de contaminados —, vale retornar ao horror concreto de menos de 5 meses atrás.
Na próspera Bergamo de 120 mil habitantes, os fornos crematórios não davam conta do fluxo de mortos. Três semanas após o registro do primeiro infectado no país, um comboio de caminhões militares atravessou as ruas desertas da cidade transportando dezenas de caixões para serem incinerados em outros burgos. Foi apenas o primeiro de 45 comboios noturnos semelhantes. Ao longo de 40 dias houve um enterro a cada 30 minutos. Ao todo foram 6 mil, muitos deles sacrificados em função da idade ou do estado de saúde. A jornalista local testemunha: “Houve dias em que parecia haver um atirador de metralhadora disparando a esmo”. A enfermeira não esquece: “Os olhos dos moribundos pareciam lhes saltar da órbita, como se o vírus estivesse ali. Era o olhar da morte”. O pároco relembra: “Tivemos de interromper o tocar de sinos por um mês, tantos eram os mortos”. O septuagenário que perdeu 3 irmãos em duas semanas sentencia: “Eram tantos avisos de óbito que eles passaram a ocupar os painéis publicitários. Uma geração inteira desapareceu”.
Hoje toma-se um spritz ou amaro em praças de Bergamo. Reaprende-se a viver com cautela. E diante da nova realidade, o medo cede à cobrança, à indignação. Onde estiveram as autoridades? Por que demoraram a decretar o confinamento? Qual o peso do lobby dos industriais para não interromper a atividade econômica na província responsável por 22% do PIB italiano? Um comitê de defesa das vítimas constituiu-se espontaneamente em busca de repostas e aponta para o que deve ocorrer em outros países. Mundo afora houve delongas iniciais por desinformação sobre o comportamento da nova peste. Em casos mais gritantes como os do Brasil e dos Estados Unidos, a ausência do poder público foi deliberada, mas por negacionismo.
Todos nós — indivíduos, entidades, lideranças, especialistas em saúde, a mídia, unanimidades nacionais como os doutores Anthony Fauci e Drauzio Varella — tivemos nosso momento delay de percepção do inimigo invisível. Seguimos à risca a recomendação inicial de não usar máscaras por dois motivos básicos: as de uso hospitalar (as únicas que existiam) poderiam vir a faltar para quem trabalha na linha de frente; ademais, seriam inócuas para a defesa de quem não estava infectado. Pensava-se que elas serviriam apenas para diminuir o potencial de transmissão dos já doentes. Um artigo postado em fins de fevereiro pela revista “Forbes”, acessado 4,5 milhões de vezes, teve por título “Não, você NÃO precisa de máscaras contra o coronavírus — Elas podem aumentar seu risco de infecção”. O artigo foi posteriormente atualizado para refletir a farta evidência científica de que máscaras são cruciais para todos nós.
Hoje está entendido que a Europa e a Organização Mundial da Saúde deveriam ter reagido mais rápido às notícias vindas da China, que os Estados Unidos de Donald Trump jogaram fora o tempo de preparo para o inevitável desembarque da peste em suas terras, e que o Brasil conseguiu superar com folga o patamar de desgoverno do colosso americano. O despreparo e a empedernida irresponsabilidade do presidente Jair Bolsonaro continuam a estarrecer o mundo. Caso histórico de homem errado no cargo errado para a hora errada.
Não por acaso, Trump e Bolsonaro procuram se esquivar do fracasso. O primeiro, por ter a reeleição ameaçada. Como observou o professor Todd Belt, da Universidade George Washington, até 2016 o movimento anti-Trump era baseado no que poderia acontecer com o país caso ele fosse eleito; agora, é baseado no que já aconteceu em seus três anos e meio na Casa Branca, com o conjunto da obra desaguando no descontrole da pandemia. Bolsonaro, por sua vez, vivencia a sua tempestade perfeita. Não só na Saúde, como no Meio Ambiente, na Educação e na Economia, como na esfera pessoal/familiar. Nada mais parece estar dando certo.
Pois é desse desmonte de políticas públicas que frestas de racionalidade se entreabrem e conquistam espaço. Pode-se até vislumbrar um futuro escancarar de janelas para a realidade. Em entrevistas para o lançamento nacional do seu mamute mais recente (1.053 páginas), “Capital e ideologia”, o economista francês Piketty soa menos pessimista, fala em ponto de bifurcação possível no mundo sacudido pela pandemia e pela desigualdade.
Razão, ciência, saber, curiosidade e humanidade podem emergir com força da pandemia. “Por vezes é a intricada e mal compreendida dinâmica das moléculas, das células, organismos e ecossistemas que falam à nossa imaginação e deslumbramento”, escreveu Elizabeth Blackburn, codetentora do Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2009, solicitada a definir o belo. “Pode haver beleza na simples ideia de a Ciência procurar a verdade, ou no mero processo de investigação científica através do qual a criatividade e habilidade humanas revelam algo que parecia caótico e incompreensível”.
Cuidemos, pois, da frágil beleza do nosso único lar, a Terra, de todas as suas espécies e conhecimento.
Luiz Carlos Azedo: Estado de choque
“Guedes propõe solução simples para um problema complexo: mais um imposto. Como sabe que é isso, pode ser para criar um cavalo de batalha, justificar seu fracasso e deixar o cargo”
A ideologia de livre mercado do vienense Friedrich August Von Hayek, paradigma da política liberal conservadora do pós-guerra, foi historicamente associada às doutrinas de choque. Embora originárias das décadas de 1920/1930, suas ideias somente ganhariam força após a II Guerra Mundial. Esse caráter de “choque” foi resultado do envolvimento de Hayke com regime ditatoriais da América Latina, entre os quais a ditadura sanguinária do general Augusto Pinochet, no Chile. A doutrina de choque funciona como uma chantagem, porque as pessoas são persuadidas de que a única opção é aceitar o “mal menor” diante das crises, o que se traduz em soluções selvagens para a desregulamentação da economia e alienação patrimonial, assim como a naturalização do desemprego em massa e da chamada “destruição criativa”.
Obviamente, Hayke foi um crítico das teorias de John Maynard Keynes, o que dificultou muito sua vida no imediato pós-guerra, por causa do sucesso das políticas keynesianas nos Estados Unidos, depois da Grande Depressão de 1929, e na reconstrução da Europa Ocidental, com o Plano Marshall, no imediato pós-guerra. Entretanto, Hayke ganhou o prêmio Nobel de 1970 e conquistou corações e mentes dos dois principais líderes ocidentais da década seguinte, Ronald Reagan, presidente republicano dos Estados Unidos, e Margareth Thatcher, primeira-ministra conservadora do Reino Unido. Com isso, sua figura controversa deixou de ser associada aos ditadores latino-americanos e passou ser identificada com a bem-sucedida política “neoliberal” desses dois líderes.
Com o colapso da antiga União Soviética e do comunismo no Leste Europeu, o mundo ingressou num período de aparente unipolaridade, até a Rússia de Putin se reerguer como potência energética, a aliança franco-alemã se consolidar na Europa e a China, emergir como novo player da economia mundial, cujo eixo comercial se deslocou do Atlântico para o Pacífico. Simultaneamente, um filósofo norte-americano, John Rawls, que cresceu em Baltimore e havia servido no Pacífico — Nova Guiné, Filipinas e Japão —, durante a II Guerra Mundial, começou a ser muito discutido nos Estados Unidos, por causa de suas teses sobre a justiça, o direito dos povos e a equidade. Formado em Princeton, no começo dos anos 1950, estudou na Universidade de Oxford, no Reino Unido, onde conviveu com outro gigante do liberalismo, Isaiah Berlin.
Equidade
Justiça, equidade e desigualdades eram as principais preocupações de Rawls, que questionava a forma como os princípios de justiça se baseavam. Ele estava preocupado com a relação entre a política e as desigualdades, que ultrapassa os julgamentos morais individuais. Por essa razão, estabeleceu uma correlação entre os princípios da justiça e a forma como os sistemas educacional, sanitário, tributário e eleitoral funcionam. Crítico da guerra do Vietnã e simpático aos movimentos de direitos civis das minorias, concluiu que todos têm as mesmas demandas para as liberdades básicas e que as desigualdades sociais e econômicas deveriam ter um limite razoável, que fossem associados a cargos e posições acessíveis a qualquer um, de forma a que todos pudessem sobreviver com dignidade. Nesse aspecto, o Estado deveria ser garantidor da justiça com equidade. Suas palestras sobre o tema foram reunidas num livro por ele revisado em 2001: Justiça como equidade: uma reformulação (Martins Fontes), muito adotado nas escolas de direito no Brasil. Sua Teoria da Justiça era o livro de cabeceira do presidente Bill Clinton, do Partido Democrata.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, é um discípulo da Escola de Chicago, liderada por Milton Friedman, outro prêmio Nobel de Economia, de quem foi aluno e apadrinhado na ida para a equipe econômica do general Pinochet. A essência do seu pensamento se baseia na formação de preços, livre mercado e expectativas racionais dos agentes econômicos. Há um ano, o ministro anuncia uma reforma tributária, sem apresentá-la, enquanto o Congresso discute dois projetos, um no Senado, de autoria do ex-deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), e outro na Câmara, do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), com base em estudos do economista Bernard Appy.
Como já vimos, é preciso compatibilizar nosso liberalismo com a justiça social. O que a pandemia escancarou foi o sucateamento da saúde e da educação e a brutal violência e iniquidade social nas favelas, periferias e grotões do país. Entretanto, agora, Guedes anuncia uma proposta de reforma tributária cujo eixo é a criação de imposto com tributação automática de operações digitais, para arrecadar mais de R$ 100 bilhões. Na prática, é uma exumação da antiga CPMF, que foi criada originalmente para viabilizar recursos para a Saúde.
O problema de Guedes é o crescimento da dívida pública por causa da pandemia, que deve elevar o deficit fiscal de R$ 134 bilhões para, aproximadamente, R$ 700 bilhões, o que inviabiliza as políticas de transferência de renda e pode provocar o colapso financeiro do governo federal, se não houver uma reforma administrativa e nova reforma previdenciária no próximo ano. Guedes propõe uma solução simples para um problema complexo: mais um imposto. Política de choque. Como sabe que é isso mesmo, pode ser, também, para criar um cavalo de batalha, justificar seu fracasso e deixar o cargo.
Luiz Carlos Azedo: O grande jogo
“A intenção do Palácio do Planalto é conquistar o comando da Câmara, via articulação com o Centrão, para limitar o protagonismo do Congresso”
Em meio à tragédia da pandemia do novo coronavírus, discute-se intensamente o que virá depois da covid-19. Existem várias dimensões nesse debate, do cotidiano doméstico ao novo mundo das inovações tecnológicas, mas a política não perdeu centralidade. Destaco as eleições nos Estados Unidos e a escolha do novo comando do nosso Congresso, principalmente da Câmara dos Deputados. Nosso futuro imediato dependerá muito desses dois eventos.
A pandemia de coronavírus colocou em xeque a reeleição do presidente Donald Trump, republicano, no pleito de 3 de novembro. Joe Biden, vice-presidente de Barack Obama, hoje lidera a disputa com uma vantagem de 14 pontos. Trapalhadas no combate à pandemia e a recessão jogaram Trump para baixo. A sua esperança é a recuperação da economia em V, mas o coronavírus se espalha por todo o território e Trump terá mais dificuldades. Além disso, a violência policial, que estimulou, provocou forte reação da sociedade, principalmente dos jovens.
Os sinais de que a recuperação acelerada da economia norte-americana seria possível vinham da China, após dominar a pandemia, e também da Alemanha, que segue a mesma trajetória, o que ainda pode se reproduzir em outros países da Europa com economias fortes, principalmente a Inglaterra e a França. Entretanto, a projeção do PIB dos EUA aponta para uma queda de 6,5% em 2020.
A disputa comercial entre os Estados Unidos e a China pelo controle das cadeias de comércio mundiais, cujo eixo se deslocou para o Pacífico, pauta a política mundial. Com a eventual derrota de Trump, não deixará de existir, mas sofrerá mudança radical na forma de atuação dos Estados Unidos. A política de Trump tensiona as relações do Brasil com a China, nosso principal parceiro comercial, porque a atual política externa é esquizofrênica: o alinhamento automático com os EUA está em contradição com nosso lugar na divisão internacional de trabalho. Por isso mesmo, a eventual derrota de Trump terá reflexos na nossa política externa. Como os democratas, hoje, têm melhores relações com a oposição, isso acabará influenciando o governo Bolsonaro.
Sucessão
Vamos à política interna. Nossas eleições municipais serão em 15 de novembro. É pouco provável que a polarização política nacional se reproduza em nível municipal, embora seja previsível o surgimento de candidatos bolsonaristas na maioria dos municípios. Entretanto, a recíproca não é verdadeira: os resultados das eleições municipais repercutirão fortemente na política nacional, principalmente no Congresso.
Depois do tsunami de 2018, que promoveu grande renovação no Congresso, nossa elite política reagiu com muito protagonismo, principalmente nas reformas econômicas. Resgatou para si o grande jogo da política, enquanto o presidente Jair Bolsonaro se enredava na pequena política. Foi uma inversão de tendências, pois sempre coube ao Executivo a iniciativa de reformar o Estado e a economia. Muito desse protagonismo se deve ao desempenho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cujo mandato está acabando, não pode ser reeleito nem tem um sucessor consolidado para o cargo.
É aí que o presidente Jair Bolsonaro pode passar da defensiva à ofensiva em relação ao Congresso. A intenção dos militares que ocupam o Palácio do Planalto, principalmente do ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Ramos, é conquistar o comando da Câmara via articulação com o Centrão: PP (40 deputados), PL (39), PSD (36), Republicanos (31), Solidariedade (14), PTB (12), PROS (10), PSC (9), Avante (7) e Patriota (6). Por ora, o governo joga com pau de dois bicos: Arthur Lira (PP-AL), o preferido do “baixo clero”, e Marcus Pereira (PP-S), bispo da Igreja Universal e atual vice-presidente da Casa. O MDB (34), o DEM (28) e o PSDB (31), apesar da liderança de Maia, ainda não têm um candidato competitivo, que possa dividir o Centrão e obter votos da oposição, para manter a autonomia da Casa.
Demétrio Magnoli: Operação geopolítica da China na pandemia terá implicações de longo prazo
Na aurora de 7 de fevereiro, o nome de Li Wenliang surgiu numa inscrição imensa, desenhada na neve, à margem de um rio chinês.
Três meses e uma pandemia depois, em 29 de abril, a página A5 da Folha foi inteiramente ocupada por um informe publicitário que canta as glórias da China. As duas imagens contam uma história —ou melhor, a inversão de uma história. A operação terá implicações geopolíticas de longo prazo.
O médico Li Wenliang, um dos primeiros a soar o alarme da nova doença, foi calado pelo Estado, contraiu o coronavírus e morreu. A notícia correu nas redes sociais, convertendo-o em herói popular: o símbolo da perversidade do regime.
A página publicitária na Folha traz a voz de Xi Jinping, dublada por um "especialista" brasileiro, um diplomata chinês e o médico-burocrata responsável pela medicina tradicional chinesa. É o segundo funeral de Li Wenliang: o panegírico da "eficiência" sanitária do sistema totalitário.
O primeiro pilar da "guerra da informação" deflagrada por Xi Jinping é a manipulação das estatísticas de óbitos. Segundo os números oficiais, a China encerra sua epidemia com 4.600 mortos, 13 vezes menos que os EUA, onde o vírus continua a ceifar 2.000 vidas por dia.
Deborah Birx, a chefe da força-tarefa dos EUA para a Covid, classificou a contabilidade chinesa como "irreal". A palavra quase apareceu num relatório da Comissão Europeia, mas foi suprimida por temor à represália do principal fornecedor de respiradores, máscaras e EPIs.
O segundo pilar é a campanha de "filantropia sanitária", pela transferência gratuita desses equipamentos e materiais a países em desenvolvimento. Nessa frente, o governo chinês divide o trabalho com Jack Ma, fundador do Alibaba, a "Amazon do Oriente". A iniciativa faz parte de um projeto muito mais ambicioso, a "rota da seda sanitária", que almeja converter a China em ator global no setor multibilionário da indústria farmacêutica.
O surto do ebola na África Ocidental, em 2014, foi o palco da aventura pioneira chinesa na política sanitária internacional. Na ocasião, a China cooperou com os EUA, cumprindo papel coadjuvante. Já na "rota da seda sanitária", ela opera unilateralmente, projetando influência no Sudeste Asiático, na Ásia Central e na África.
A escolha do etíope Tedros Adhanom para a chefia da OMS, em 2017, alavancada por um lobby chinês, converteu a organização em trampolim para a diplomacia sanitária de Xi Jinping na África, que utiliza a Etiópia como cabeça de ponte.
O FMI estima violentas quedas do PIB anual nos EUA (-5,9%), na Zona do Euro (-7,5%), no Reino Unido (-6,5%) e no Japão (-5,2%), mas discreto crescimento na China (1,2%). A crise do coronavírus acelera as tendências prévias de deslocamento do eixo econômico global. Mas o triunfo geopolítico chinês, apoiado na falsificação da história, deriva essencialmente dos fracassos ocidentais.
Os EUA praticaram o esporte primitivo do negacionismo, retrocederam para o isolacionismo e, no fim, renunciaram a disputar influência com a China na OMS. Trump tenta, pateticamente, livrar-se da responsabilidade pela negligência, atribuindo a pilha de 65 mil cadáveres ao "inimigo estrangeiro" (o "vírus chinês") e disseminando teorias conspiratórias (o "vírus de laboratório"), enquanto faz da emergência sanitária um pretexto para radicalizar a xenofobia.
Do outro lado do Atlântico, a União Europeia fechou descoordenadamente suas fronteiras internas e reativa a tensão entre Alemanha e o trio França/Itália/Espanha em torno das estratégias de resgate da economia.
"Para a China, tudo serve a uma utilidade política; um número nada significa para eles", explica Ai Weiwei, o célebre artista dissidente chinês, referindo-se à macabra piada estatística. A China da página A5 soterra a China da inscrição na neve fofa. Ao mentiroso, as batatas.
*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
Luiz Carlos Azedo: A caneta fatal
“Desde que assumiu, Bolsonaro tenta centralizar e verticalizar o poder, o que é uma fonte de conflitos, mas também de equívocos políticos e administrativos”
A caneta Bic é um “case”” de qualidade e produtividade, funciona muito bem e custa relativamente barato. Do ponto de vista da sua finalidade, não fica nada a dever a uma Mont Blanc, objeto de desejo de muitos empresários e executivos vaidosos, como símbolo de riqueza e/ou poder. Lembro de um velho conhecido recém-chegado ao poder que exibiu a sua Mont Blanc na hora de pagarmos o almoço, ficou bravo comigo porque lhe disse, ironicamente, que era caneta de rico. Lascou-se depois, porque a caneta havia lhe sido presenteada por Marcos Valério, aquele publicitário carequinha do escândalo do “mensalão”do PT. Seu nome estava na lista de mimos em poder da secretária, havia ganho a caneta de presente, como brinde de ano-novo.
Secretárias podem ser protagonistas da grande política, assim como a ex-mulher, o motorista ou o caseiro. A política deixou de ser monopólio dos políticos, dos diplomatas e dos militares, como era antigamente. Quando exibe a sua Bic, o presidente Jair Bolsonaro sinaliza para a sociedade que é um homem austero, simples, que não se deixou deslumbrar pelo poder. É um recado que passa para preservar a sua imagem de presidente da República eleito contra o “sistema de poder” e a “velha política”. Será? No seu caso, isso é falso; o problema não é a caneta, é a tinta. Não existe caneta mais poderosa e endinheirada do que a sua Bic. Haja vista a negociação em curso com o Centrão.
Ontem houve a nova troca de cadeiras na Esplanada. Bolsonaro nomeou dois novos ministros: André Mendonça na Justiça e José Levi na Advocacia-Geral da União. Ambos foram elogiados pela competência técnica por Gilmar Mendes e Luís Barroso, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro desistiu de nomear o atual secretário-geral da Presidência, ministro Jorge Oliveira, que trata como afilhado, para o lugar que era ocupado por Sergio Moro, por pressão dos ministros militares e a pedido do próprio Oliveira. Mas ninguém se iluda, a causa da dança nas cadeiras foi a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal, no lugar de Maurício Valeixo, pivô da crise entre Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. O novo diretor-geral chefiava a Agência Brasileira de Informações (Abin).
O juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, de Brasília, deu prazo de 72 horas para a União prestar informações sobre a exoneração de Maurício Valeixo da direção-geral da Polícia Federal. Ele é relator de três ações populares que buscam impedir a nomeação de Alexandre Ramagem por desvio de finalidade. O fato é importante para se ter a dimensão do problema criado pelo presidente Bolsonaro para si próprio, supostamente com objetivo de obter informações confidenciais sobre investigaçoes criminais e relatórios de inteligência. Embora subordinada administrativamente ao Executivo, a Polícia Federal é técnica e judiciária, tem sua própria autonomia, que se traduz na competência dos delegados para presidir os inquéritos policiais.
A Polícia Federal é um órgão de excelência, com pessoal concursado e altamente qualificado, recrutado entre os melhores com vocação para esse tipo de atividade. De certa forma, foi blindada pela Constituição para não cumprir o papel de polícia política, como aconteceu durante o regime militar, quando complementou e legitimou a atuaçao de órgãos clandestinos de repressão política das Forças Armadas. Esse trauma fez com que os constituintes atribuíssem claramente à PF o papel de um órgão de coerção do Estado, e não do governo. A nomeação de Ramagem, um delegado de carreira, resgata esse trauma, não por causa de sua competência técnica, mas devido à motivação da mudança. Além disso, sendo mais novo na carreira, fura a fila das promoções, o que sempre deixa sequelas, haja vista a situação no Itamaraty.
Inércia continental
Vivemos numa democracia de massas, o Estado brasileiro é ampliado, não no sentido da quantidade de servidores ou da intervençao na economia, mas de sua relaçao com os demais Poderes e entes federados, com a sociedade e suas instituições. Desde que assumiu, Bolsonaro tenta centralizar e verticalizar o poder, o que é uma fonte de conflitos, mas também de equívocos políticos e administrativos. Num país de dimensões continentais, a força de inércia das decisões do governo federal é imensa, como a de um grande navio cargueiro na hora de manobrar e de parar. Por isso mesmo, uma decisão equivocada pode se tornar um desastre irreversível. O fato de termos um Executivo que interage com outros poderes e esferas de governo, permeável à sociedade e que se relaciona com suas instituições, reduz a margem de erro e amplia a de soluções.
Agora mesmo, na epidemia de coronavírus, estamos sofrendo as consequências da mudança de postura do governo federal em relação ao distanciamento social. Ultrapassamos a China em número de mortos — mais de cinco mil — e estamos no limiar da barreira das 500 mortes por dia, em consequência do relaxamento da quarentena estimulado por Bolsonaro. É patético ver o ministro da Saúde, Nelson Teich, com cara de mareado no navio; o general encarregado da logística, não se dar conta de que o número de novos contaminados que precisam de UTI é muito maior do que o de respiradores que consegue distribuir; e o principal sanitarista do MS guardar o colete do SUS no armário e, de paletó e gravata, esquecer o bordão que disseminou por todo o país: “Fiquem em casa”. Depois dos Estados Unidos e Reino Unido, somos o terceiro em número de mortos por dia. Ou seja, estamos virando o epicentro da pandemia.
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/__trashed-3/
Nelson de Sá: De NYT a La Stampa, atenção para o apoio a 'golpe militar'
Chinês Xin Jing Bao vê governo dividido e avalia que 'perspectivas do Brasil na pandemia não são otimistas'
Sem chamada em home page, New York Times, o alemão Süddeutsche Zeitung e o italiano La Stampa (reproduzidos abaixo), entre vários outros, trazem enunciados e fotos sublinhando o apelo às Forças Armadas na manifestação de domingo. Pela ordem:
"Presidente do Brasil dá vivas a protesto que pedia governo militar."
"Apoiadores do governo no Brasil conclamam intervenção militar."
"No Brasil, Bolsonaro discursa a militares que louvam golpe militar."

Em Pequim, o Xin Jing Bao já traz extensa análise de Yanran Xu, professora de relações internacionais da Universidade Renmin da China. Ela escreve que, "antes de mais nada, a atitude de Bolsonaro contra o isolamento tem motivação ideológica: quer estar perto dos EUA, pode-se dizer que 'veste as calças de Trump'".
No trecho mais significativo:
"A matriz de poder do governo Bolsonaro é composta de cinco forças, os militares, ruralistas, economistas liberais, evangélicos e participantes da 'Lava Jato'. As cinco têm opiniões diferentes em questões específicas. A maior contradição agora vem dos militares e dos evangélicos. No ato, Bolsonaro gritou slogans, se opõs às medidas de isolamento sustentadas pelo Supremo e por membros do Congresso —e também apoiou intervenção militar. Isso causou forte preocupação. Há também a opinião de que suas declarações inflamatórias, feitas do lado de fora do quartel-general do Exército, não queriam instigar golpe, mas mais manter a 'positividade' de seus seguidores."
Ela conclui dizendo, quanto ao isolamento, que "a maioria não concorda com Bolsonaro, cuja taxa de apoio continua caindo". Que "o governo está seriamente dividido e as perspectivas do Brasil no combate à pandemia não são otimistas".
*Nelson de Sá é jornalista, cobre mídia e política na Folha desde a eleição de 1989.
Demétrio Magnoli: As mentiras nos EUA luzem sob o sol, enquanto na China seguem abaixo da superfície
Trump mente ininterruptamente; já o regime de Xi Jinping fabrica 'verdade' paralela da pandemia
“Na guerra, a primeira vítima é a verdade.” Essa verdade célebre, cuja autoria atribui-se tanto ao senador americano isolacionista Hiram Johnson (1918) quanto ao grego Ésquilo, o pai da tragédia, no século 5º a.C., vale também para a Peste Negra em curso. Mas as mentiras são diferentes: nos EUA, luzem sob o sol; na China, seguem escondidas abaixo da superfície.
Donald Trump mentiu ininterruptamente, retardando a preparação dos EUA para enfrentar a pandemia.
No fim de janeiro, disse à rede CNBC: “Temos isso sob controle total. É uma pessoa vinda da China, e a temos sob absoluto controle”. No início de fevereiro, gabou-se na Fox News: “Nós basicamente desligamos isso, que vinha da China”.
No final de fevereiro, garantiu que “isso é mais ou menos como a gripe; logo teremos uma vacina” e, referindo-se ao número de infecções, acrescentou: “Vamos substancialmente para baixo, não para cima”. Os EUA tinham, então, 68 casos; hoje, são 240 mil.
No meio de março, quando finalmente admitiu que o vírus “é muito contagioso”, ainda adicionou: “Mas temos tremendo controle sobre isso”.
A mentira trumpiana é uma narrativa política em constante mutação. Apoia-se nas muletas dos “jornalistas” chapa-branca e do aparato de difusão de fake news da direita nacionalista nas redes sociais.
Acredita quem quer —e não são poucos. Contudo, ela concorre com as vozes discordantes, que não são caladas pela força, e sobretudo com a verdade (factual), que emana tanto de órgãos oficiais quanto da imprensa independente. A hora da verdade (política) chega nas eleições, ocasião em que a maioria decidirá se prefere a mentira.
A China também mente sem parar, mas de modo diferente, fabricando uma “verdade” paralela.
A mentira chinesa tem raízes fincadas no chão do controle social totalitário. Ela se espraia por toda a vida cotidiana, propiciando a manipulação centralizada das estatísticas hospitalares —isto é, da fonte primária de informações sobre a natureza da crise.
Há indícios alarmantes de que os números fornecidos pelo governo chinês miniaturizaram a epidemia. Nos EUA, estima-se que a Covid produzirá entre 1 e 3 milhões de casos positivos e algo entre 100 mil e 240 mil mortes.
Já na China, situada em latitude semelhante e com mais de quatro vezes a população americana, a Covid teria praticamente estancado, com menos de 83 mil casos acumulados e cerca de 3.200 mortes. O contraste intriga os mais respeitados epidemiologistas —inclusive Deborah Birx, coordenadora da força-tarefa dos EUA para o coronavírus.
No centro do mistério está a contabilidade de óbitos. Os casos pioneiros da Covid em Wuhan ocorreram em dezembro, mas a notícia foi interditada e os médicos que os relataram, silenciados. A quarentena começou em 23 de janeiro. O vírus teve mais de três semanas para se disseminar, enquanto comemorava-se o Ano-Novo chinês.
Testemunhos anônimos de agentes de saúde chineses dão conta de incontáveis internações sem testagens e centenas de óbitos atribuídos a influenza ou pneumonia. No final de março, veículos online chineses publicaram fotos, tomadas por cidadãos comuns, de milhares de urnas funerárias ainda alinhadas em crematórios de Wuhan.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) nada viu de estranho nos números chineses —e celebra a “eficiência” totalitária de Xi Jinping. Tedros Adhanom, seu diretor-presidente, eleito com decisivo apoio chinês, um ex-integrante do núcleo duro do governo autoritário etíope, não parece alimentar dúvidas entre as alternativas de assegurar a bilionária parceria da China com a OMS ou proteger a verdade (estatística).
Mas, de acordo com relatórios sigilosos da inteligência americana que começam a vazar, a China engajou-se na fabricação de uma mentira monumental, iludindo o mundo.
Mentiras são diferentes. Todas elas, porém, cobram vidas.
*Demétrio Magnoli, Sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
El País: Esforço de Eduardo Bolsonaro para demonizar China copia Trump e ameaça elo estratégico do Brasil
Acostumada a criar suas próprias crises, a família Bolsonaro decidiu entrar de cabeça em mais uma briga, com todas os elementos de estratégia diversionista. Dessa vez, envolve a China, o maior parceiro econômico do Brasil, que responde por um quarto da balança comercial —neste ano foi de 15,5 bilhões de dólares até fevereiro. O responsável pela mais recente autossabotagem contagiosa foi o terceiro herdeiro de Jair Bolsonaro (sem partido) e presidente da Comissão de Defesa e Relações Exteriores da Câmara, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Na quarta-feira, o parlamentar comprou pelo Twitter uma narrativa comum entre a rede de militantes da ultradireita. Segundo esse discurso, se a China fosse uma democracia, não uma ditadura, a pandemia de coronavírus teria sido barrada.
“Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução”. Foi uma crise iniciada por uma breve declaração em 45 palavras, em resposta à outra postagem de um usuário. No dia seguinte, como também é comum no jogo bolsonarista de vai-e-vens, o filho do presidente ensaiou baixar o tom em um textão de 560 palavras, no qual diz que não quis ofender o povo chinês. Ao mesmo tempo, no entanto, repetiu ofensas semelhantes em entrevista ao canal CNN Brasil, ao vivo.
Se tudo faz parte do cardápio típico dos Bolsonaro, que sabem como poucos criar uma controvérsia para desviar um assunto incômodo —como os panelaços contra o pai, por exemplo—, inusual foi a reação da China. Pouco frequentador do Twitter, o embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming, recorreu à rede para se queixar de Eduardo, cobrou que ele pedisse desculpas ao seu povo e falou que protestaria junto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao chanceler Ernesto Araújo. Também na rede, a embaixada da China foi ainda mais dura. Acusou o deputado de, após ter voltado de uma viagem a Miami na semana passada, teria contraído um “vírus mental”, que estaria afetando a amizade entre os dois povos.
“Aconselhamos que não corra para ser o porta-voz dos EUA no Brasil, sob a pena de tropeçar feio”, diz uma das postagens da embaixada. O embaixador ainda compartilhou uma postagem na qual a pessoa chamava a família do presidente de “Bozonaro”. A alfinetada, citando os EUA, não é à toa. Eduardo Bolsonaro tem se comportado como um disciplinado defensor dos interesses da Casa Branca no Brasil, inclusive fazendo campanha contra a participação de uma empresa chinesa no leilão da tecnologia 5G. Além disso, Trump também tem usado a crise do coronavírus para irritar Pequim. Sempre que pode chama a Covid-19 de “vírus chinês”.
Ameaças ao embaixador pelo telefone e ‘bombeiros’
Nesta quinta, a embaixada voltou a responder após a entrevista na CNN: “São absurdas e perconceituosas as suas palavras, além de ser irresponsáveis. Não vale a pena refutá-las”. Fontes da diplomacia disseram que Yang foi ameaçado por telefone, depois que respondeu aos ataques do filho do presidente. A alfinetada chinesa não é por acaso.
Os bombeiros tiveram de agir. Do Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o parlamentar não representava o Governo de seu pai. “O Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o Governo”, disse à Mourão ao jornal Folha de S. Paulo. Da Câmara, Maia pediu desculpas em nome dos deputados. “A atitude não condiz com a importância da parceria estratégica Brasil-China e com os ritos da diplomacia”, afirmou pelas suas redes. E do Itamaraty, o ministro Araújo chamou a atenção tanto do embaixador Yang quanto do deputado Eduardo. Afirmou que o chinês ofendeu o presidente brasileiro e que sua reação às críticas do deputado eram desproporcionais. E ressaltou que o parlamentar não falava em nome do Executivo.
A repercussão no Parlamento e entre empresários foi quase imediata e dura. Em nota, assinada pelo seu presidente, Alceu Moreira, a Frente Parlamentar da Agropecuária, da qual participam quase 300 dos 584 parlamentares brasileiros, ressaltou que “declarações isoladas não representam o sentimento da nação ou de qualquer setor”. O Instituto Sociocultural Brasil-China (IBRACHINA) repudiou as críticas do congressista e a tratam como um “ataque discriminatório contra a comunidade chinesa”. Em documento assinado pelo presidente do órgão, Thomas Law, a entidade comparou a atitude de Eduardo a de fascistas. “Culpar o povo chinês, que mais sofreu com o coronavírus, é inadmissível. O filósofo alemão Theodor Adorno definiu esse tipo de ataque com clareza em 1947 ao afirmar que ‘culpar a vítima é uma das características mais sinistras do caráter fascista’”.
Nas redes bolsonaristas, entretanto, o discurso do parlamentar foi aplaudido. Em quatro grupos de WhatsApp que a reportagem monitora era comum receber mensagens como: o “vírus é chinês” ou a “China ataca o Brasil”. Neles, os autores das postagens e das imagens diziam que o deputado Eduardo tinha razão. E apresentavam teorias conspiratórias como a de terraplanistas que creem que os chineses criaram o vírus para ganharem mais dinheiro nas bolsas de valores.
Em seu Twitter, o professor de relações internacionais da FGV e colunista do EL PAÍS, Oliver Stuenkel, disse que o ataque de Eduardo à China era calculado. “[Ele] desvia a atenção da resposta incoerente do Governo à pandemia e mobiliza apoiadores contra um inimigo comum. Tentará criar sentimentos anticomunistas e nacionalistas”. Também classificou a reação do embaixador chinês como um erro. “Afinal, é exatamente isso que ele [Eduardo] precisa para começar a briga. Teria sido melhor ignorar o episódio”.
Assessores do presidente Bolsonaro reclamaram das críticas feitas pelo seu herdeiro e lembraram que, além dos negócios entre os dois países, a parceria no combate ao coronavírus pode ser afetada. Desde a semana passada o Brasil negocia a doação de respiradores e equipamentos de proteção individual que os chineses não estão mais usando após a contenção da pandemia no país.
Até esse episódio de autossabotagem, a relação Bolsonaro-Xi Jinping estava normal, mesmo após as palavras inflamadas do brasileiro na campanha eleitoral e tendo as visões ideológicas distintas. Eles se encontraram em reuniões bilaterais em ao menos duas ocasiões no último ano. Uma demonstração do bom relacionamento foi quando a equipe de Xi concordou em ajudar a gestão Bolsonaro a repatriar 34 brasileiros que viviam em Wuhan, o epicentro da pandemia no mês de fevereiro. Agora, no Ministério da Saúde a expectativa é que prevaleçam os argumentos técnicos, não os de palanque eleitoral.
À noite, a embaixada da China emitiu uma nota na qual cobrou maior empenho do Itamaraty para solucionar essa crise. “Esperamos que o Itamaraty possa tomar ciência do grau de gravidade desse episódio e alertar o deputado Eduardo Bolsonaro a tomar mais cautela nos seus comportamentos e palavras, não fazer coisas que não condigam com o seu estatuto, não falar coisas que prejudiquem o relacionamento bilateral e não praticar atividades que danifiquem a nossa cooperação.”
Luiz Carlos Azedo: O país está parando
“O coronavírus provoca a reorganização do trabalho, em razão das medidas de distanciamento social; governadores e prefeitos se antecipam ao governo federal”
Quem observa o cotidiano da população já constata a redução do movimento de pessoas e de carros nas ruas; filas nas farmácias e supermercados. Não se trata de pânico, mas de prudência, as pessoas estão se dando conta de que o distanciamento social é realmente necessário e começam a se preparar para o confinamento doméstico. O medo do coronavírus é justificado, basta olhar o que está acontecendo no mundo e prestar atenção nas entrevistas e decisões dos governadores e prefeitos.
Ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a falar como um sanitarista experiente, em entrevista na qual dispensou a máscara cirúrgica. Não escondia a tensão em que se encontra, diante do avanço da epidemia. No começo da noite, já havia 635 casos confirmados no país, em 21 estados e no Distrito Federal, com transmissão comunitária em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Sergipe. Sete mortes foram contabilizadas até ontem, cinco em São Paulo e duas no Rio, ou seja, 1,1% dos casos confirmados.
As notícias que chegam do mundo justificam a apreensão da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), eram 207.855 casos confirmados e mais de nove mil mortes por Covid-19 em 166 países e territórios. Em Hubei, província chinesa onde se originou o surto, ocorreram 34% das mortes, com 3.130 óbitos, antes de a epidemia ser controlada. Entretanto, a Itália ultrapassou a China, com 3.405 mortes pelo novo coronavírus, apesar da população algumas vezes menor. Tecnicamente, o Brasil se encontra numa situação em que a curva da doença ainda não se definiu, ou seja, um momento no qual há três cenários, o pior deles é o italiano. O melhor é o cenário da Coreia do Sul, que conseguiu controlar a letalidade da doença.
O ministro Mandetta trabalha com o modelo inglês. Como não somos uma ilha, talvez por isso, a principal medida efetiva de distanciamento social adotada pelo governo federal tenha sido o fechamento das fronteiras, anunciado ontem, no caso dos países vizinhos, alguns dos quais já tinham tomado essa decisão. Outra preocupação foi orientar os planos de saúde privados a não descarregar nos hospitais públicos os seus segurados. Um novo protocolo de atendimento foi anunciado: pessoas com febre, tosse ou dor de garganta e/ou dificuldade respiratória receberão máscaras e serão encaminhadas para isolamento respiratório.
Solidariedade
Pessoas acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, imunossuprimidos, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto terão prioridade. Todas as pessoas com mais de 60 anos deverão evitar comparecimento ao trabalho ou demais ambientes fechados; empregadores devem buscar adaptar-se a essa solicitação. A recomendação é sair de casa apenas para atividades essenciais (mercado, farmácia, serviços de saúde), que não possam ser realizadas por outra pessoa. Comunidades, vizinhos, grupos de amigos devem ajudar as pessoas com mais 60 anos a obter seus bens de primeira necessidade sem sair de casa.
O coronavírus está provocando a reorganização do trabalho, em razão das medidas de distanciamento social; governadores e prefeitos estão se antecipando ao governo federal. Em Brasília, o governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou, ontem, a suspensão das atividades de atendimento ao público em comércios na capital. A medida inclui restaurantes, bares, lojas, salões de beleza, entre outros. O decreto também determina a suspensão de missas e cultos. Poderão funcionar: clínicas médicas, laboratórios, farmácias, postos de gasolina, mercados, lojas de materiais de construção, padarias, atacadistas, peixarias e delivery. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel (PSC), que já vinha adotando medidas duras, quer fechar as divisas do estado e interromper a ponte aérea Rio-São Paulo.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um auxílio para os trabalhadores que recebem até dois salários mínimos e forem afetados pela redução de jornada e salários proposta nesta semana pelo governo federal, que pretende pagar os primeiros 15 dias de afastamento se o trabalhador tiver contraído o coronavírus. O auxílio, destinado aos mais vulneráveis que tiverem renda e jornada reduzidas, busca contemplar 11 milhões de trabalhadores, a um custo de R$ 10 bilhões, com recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-o-pais-esta-parando/
Hélio Schwartsman: Êxito chinês
Surpreende o sucesso do país em conter o alastramento da covid-19
O que surpreende no ritmo de propagação da covid-19 não é a cada vez mais extensa lista de países atingidos, mas o sucesso da China em conter o alastramento da doença.
Se algumas semanas atrás os hospitais chineses estavam apinhados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, agora sobram leitos. Cientistas que conduzem ensaios clínicos de drogas para tratar a doença já não conseguem recrutar pacientes para os testes, como mostrou recente relatório da OMS.
Entender o que está acontecendo pode trazer lições valiosas para autoridades sanitárias de todo o planeta.
A primeira conclusão a tirar é que as brutais medidas de quarentena e isolamento impostas pelo governo funcionaram. Daí não decorre que as técnicas chinesas possam ou devam ser replicadas em países democráticos, mas não dá para fingir que não surtiram efeito ao menos nessa primeira fase da epidemia.
A prova final virá agora, quando as medidas de exceção mais draconianas forem revogadas. Se o contágio sustentado voltar, é porque estamos lidando com um vírus realmente difícil. Se o pior já tiver ficado para trás, é sinal de que vale a pena insistir em tentar isolar cada cadeia de transmissão.
O êxito nos esforços de contenção também é um indicativo de que a proporção de casos assintomáticos e leves que não são detectados é menor do que se especulava. O relatório da OMS traz indícios disso. Em Guangdong, por exemplo, autoridades testaram uma amostra de 320 mil pessoas e apenas 0,14% delas apresentaram resultado positivo para a covid-19. A má notícia aí embutida é que a letalidade do vírus também será um pouco maior.
Outro dado interessante em relação à letalidade é o quanto ela pode variar. Ela foi de 5,8% em Wuhan, onde a epidemia apareceu primeiro e causou mais disrupção, contra 0,7% em outras áreas da China, o que sugere que o caos nos hospitais foi um fator decisivo para o maior número de mortes.