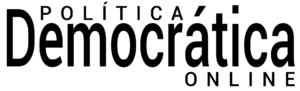Lilia Lustosa, em seu artigo, questiona como podemos mudar a situação de racismo que contamina a indústria cinematográfica do Brasil e do mundo
No mês passado, depois de entregar o artigo aqui para a Revista, ficou mais ou menos acertado que o próximo tema abordado seria o retorno dos Drive-ins, tendo ficado de fora do meu texto anterior, por não conseguir me manter dentro dos limites dos caracteres estipulados. Acabou sendo um bom acidente de percurso, porque, logo depois, impactada pelas notícias da morte do adolescente João Pedro por uma bala perdida no Complexo do Salgueiro e as imagens do sufocamento de George Floyd em Mineápolis, me veio um pensamento à cabeça: e se eu acordasse negra? Encararia a vida da mesma maneira? Teria a mesma segurança para desbravar territórios desconhecidos como venho fazendo nesses últimos doze anos em que vivo fora da minha terra? Teria entrado neste prédio, em pleno coração da branca Recoleta, em Buenos Aires, com a mesma cabeça erguida com que entrei? E do alto do privilégio da minha branquitude, minha resposta, imediata e honesta, foi não.
Recordei as imagens que havia visto dias antes no documentário Minha História (2020), de Nadia Hallgreen, sobre a turnê de Michelle Obama pelos EUA, para o lançamento de seu livro homônimo. Lembro de ter ficado arrepiada ao ver aquela mulher negra lotando estádios nos Estados Unidos de Trump, oferecendo inspiração e esperança a tantas pessoas daquele país. Fiquei, então, imaginando todas as dificuldades enfrentadas para chegar àquele palco. Será que Michelle sempre entrava nos prédios de cabeça erguida? Sentia-se inferior ou invisível aos olhos de alguém? Mas a ex-primeira dama, que já sentou em tantas mesas importantes (palácios, castelos, salas de aula de Princeton e Harvard), afirmou nunca se ter sentido invisível. A razão, segundo ela, teria sido a liberdade que vivenciou naquela mesa simples da sua sala de jantar, no sul de Chicago. Um lugar onde aprendeu o valor de sua voz e se muniu de forças para enfrentar a batalha que a vida lhe iria exigir. Um exemplo extraordinário para tantas meninas negras que se veem ali representadas, mas que não necessariamente têm a mesma sorte. Ao mesmo tempo, uma prova de que a invisibilidade é algo construído. E que, por isso mesmo, também pode ser desconstruído.
O tema foi me inquietando cada vez mais, e o webinar “Imaginários para um audiovisual antirracista”, organizado pelo SPCine, no fim de maio, deixou ainda mais claro o papel que nós, brancos, podemos e devemos ter. Naquele palco virtual, “frente à frente”, para um debate mais que urgente, estavam duas cineastas negras – Renata Martins (Aquém das Nuvens, 2010; Sem Asas, 2019) e Day Rodrigues (Mulheres Negras, 2016) –, e duas cineastas brancas – Laís Bodanzky (Bicho de Sete Cabeças, 2000; Como Nossos Pais, 2017) e Petra Costa (Helena, 2012; Democracia em Vertigem, 2019). A branquitude foi colocada contra a parede. Eu fui colocada contra parede! Muitos nomes de negros que atuam no universo cinematográfico brasileiro foram citados. Mas quantos conhecemos? Quantos nomes podemos citar de cabeça? E de mulheres negras então? Só para se ter uma ideia, segundo a ANCINE, dos 142 longas lançados, em 2018, somente 19,7% foram dirigidos por mulheres, e desses, nenhum teve qualquer negra na direção, nem no roteiro. E o que nós, brancos, temos feito para mudar essa situação de racismo que contamina a indústria cinematográfica do Brasil e do mundo?
Laís Bodanzky, que hoje ocupa a presidência do SPCine, falou da política afirmativa que a instituição vem adotando nos últimos anos, que dá pontos extras aos projetos que trazem pessoas negras em suas equipes. Ou seja, na corrida por um financiamento de produção audiovisual, sai na frente quem contar com talentos negros em seu time. Mas quantas são as instituições que adotam esse tipo de política? Quantos não são os que viram a cara para o sistema de cotas?
Laís chegou a acender uma luz de esperança dentro de mim, mas eis que as imagens da morte do menino Miguel, de 5 anos, deixado aos cuidados da patroa, enquanto sua mãe passeava os cachorros da família branca, relembrou-me que ainda estava muito longe o dia em que poderíamos falar de igualdade neste país. Senti-me sufocada, impotente, apequenada… E entendi o que a negritude chama de “genocídio da população negra”. Não é exagero. É fato. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. E o que nós, branquitude brasileira, temos feito para mudar esta situação? Como eu – historiadora de cinema branca – posso contribuir para virar esse jogo?
Day Rodrigues me deu a pista, ao afirmar que “pesquisa é política”. Ela tem razão. É preciso, então, redefinir nossos temas de estudo, incluir personalidades negras no currículo básico das escolas e universidades brasileiras, já que aquelas foram apagadas de nossos livros de história. É preciso falar de Adélia Sampaio, primeira cineasta negra a dirigir um longa-metragem. É preciso assistir a filmes feitos e escritos por negros. É preciso conhecer Viviane Ferreira (O dia de Jerusa, 2019), Camila de Moraes (Caso do Homem Errado, 2019), Jeferson De (Bróder, 2010), Ava DuVernay (Selma, 2014; A 13a Emenda, 2016; Olhos que condenam, 2019), Ryan Coogler (Fruitvale Station, 2013; Pantera Negra, 2018) e tantos outros. É preciso contratar profissionais negros. É preciso seguir pessoas negras no Instagram, divulgar o que elas fazem, ler os livros que elas escrevem. Tudo o que, até outro dia, me soava como um exagero… Finalmente, entendi que, ao trazer pessoas negras para a cena, estamos viabilizando a criação de um círculo virtuoso, quiçá capaz de se converter em ferramenta de desconstrução da invisibilidade da negritude.
A minissérie “Hollywood”, atualmente em cartaz na Netflix, que conta com produtores e diretores negros, permite-nos, de alguma maneira, sonhar com essa mudança. Ambientada no período pós II Guerra Mundial e baseando-se em alguns fatos e personagens reais – Hattie MacDaniel, Rock Hudson, Vivien Leigh, Scotty Bowers, Henry Willson, Anna May Wong –, o que vemos ali é um grande estúdio, sendo comandado por uma mulher branca, ousada o suficiente para aceitar o desafio de lançar um filme cujo roteirista é negro e homossexual, o diretor é filipino-americano, e a atriz principal, negra. Ao apresentar esse twist na realidade da época de ouro da meca do cinema, “Hollywood” lança a possibilidade de um outro curso para a história. E se tivéssemos tomado esse caminho, teríamos hoje mais igualdade na indústria cinematográfica?
Talvez. Mas como, por enquanto, isso não passa de ficção, resta-nos pensar sobre o que é possível ser feito hoje. Assim, ao invés de decorrer sobre o retorno dos Drive-ins, decidi usar este meu lugar de privilégio, para convidá-los a refletir sobre o racismo estrutural que, mais do que qualquer corona vírus, contagia nossa sociedade há séculos. Uma pandemia para a qual nunca se criaram vacinas, nem remédios, o único caminho sendo a conscientização e a reeducação da nossa gente. E o primeiro passo, reconhecer o racismo que habita cada um de nós.
*Lilia Lustosa é crítica de cinema