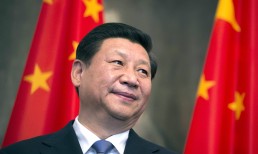petróleo
Nas entrelinhas: O estranhamento de torcer pelo Brasil sem vestir a camisa amarela
Luiz Carlos Azedo | Nas entrelinhas | Correio Braziliense
Havia uma expectativa de que a Copa do Mundo de Futebol no Catar mudasse o clima político no país, mas ainda não é o que está acontecendo. Vamos ver se os jogos da nossa Seleção — que estreou com os pés de Richarlison fazendo dois gols, um dos quais uma pintura — contribuirão para criar um novo clima de diálogo e convivência, em que todos estejamos do mesmo lado, ao torcer pelo Brasil. Não vejo em ninguém um sentimento antipatriótico, de rejeição à Seleção Brasileira de Tite, mas também não vejo a mesma sensação de pertencimento e identidade com a camisa canarinho como em outras copas. É muito esquisito!
Talvez o Catar fique longe demais, a maioria conhece muito pouco esse Emirato, que é considerado o país mais rico do mundo. Protetorado britânico, após a queda da Império Otomano, o Catar é governado há 150 anos pela mesma família, que manteve o poder com mão de ferro após a independência, em 1971. Petróleo, gás e alumínio garantem ao país receitas muito superiores ao que gasta com importações, principalmente de bens de consumo, de alimentos, que o deserto não oferece, de carros de alto luxo.
Doha, a capital, é uma das cidades mais modernas do mundo, com seus prédios altíssimos e arrojados, fruto de uma política cujo objetivo é transformar o Emirato num polo turístico, comercial e financeiro. O velho conceito de Peter Ducker, de que as cidades devem ser boas para morar, trabalhar e visitar, simultaneamente, deve ter inspirado a modernização da cidade, considerada uma das mais seguras do mundo.
O Catar é um dos países com os quais o presidente Jair Bolsonaro conseguiu manter relações bem amistosas. Havia uma forte conexão entre a autocracia local e o projeto iliberal bolsonarista, que acabou derrotado nas urnas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Obviamente, não tem sentido romper os laços comerciais e econômicos que foram estabelecidos na visita de Bolsonaro aos Emiratos, mas nosso rumo político tem outros paradigmas, cujo eixo é o Estado democrático e não o direito divino ditado pelo Alcorão.
Vale a pena examinar melhor o contexto em que a Copa se realiza. O Catar está entre os países do Oriente que se lançaram arrojadamente na globalização, sendo um dos líderes da corrida mundial para reinventar o Estado de forma a torná-lo mais eficiente e produtivo, tendo como modelo o capitalismo de Estado de Cingapura. O fato de ser uma monarquia autoritária, com grande disponibilidade de recursos, facilita muito as coisas. Entretanto, não pode servir de paradigma para nós.
Somos um país democrático do Ocidente, com uma população muito mais numerosa e território de dimensões continentais. Nossa sociedade não segue rígidos padrões de comportamento ditados por dogmas religiosos, como é o caso das sociedades muçulmanas. Além disso, o Catar tem uma espécie de apartheid, no qual os trabalhadores estrangeiros não têm os mesmos direitos que os demais cidadãos do ponto de vista social. Um abismo social separa a elite árabe dos trabalhadores estrangeiros, entre os quais indianos, malaios, nepaleses e coreanos.
Todos juntos
A Copa no Catar vai desnudar essas duas realidades para o mundo, com certeza. Mas também há um abismo social entre aqueles que estão lá, assistindo aos jogos nos seis magníficos estádios construídos para o torneio, e os milhões e milhões de torcedores brasileiros que veem os jogos pela tevê e pelas redes sociais. Obviamente, a imprensa ocidental não se limitará à cobertura esportiva, mostrará o outro lado da realidade do país que tem a maior renda per capita do mundo.
Mas, voltando ao futebol, vamos ver se a vitória do Brasil de 2 x 0 contra Sérvia fará a torcida brasileira pegar no tranco. Como disse, a sensação ainda é muito estranha, por causa da polarização política existente e pelo fato de a camisa da Seleção Brasileira ter virado uma espécie de uniforme da extrema direita bolsonarista, que protesta à frente dos quartéis, e dos caminhoneiros que bloqueiam as estradas.
Ontem, no primeiro jogo do Brasil, era nítida a preocupação dos que ganharam as eleições com o fato de que poderiam ser confundidos com os derrotados, por causa do uniforme canarinho. Na década de 1970, a Seleção Brasileira era uma unanimidade, mas o “pra frente Brasil”, slogan da equipe, foi usado pelo regime militar para estigmatizar a oposição como antipatriótica, na base do “ame-o ou deixe-o”.
Não é o caso agora. Muitos deixam de usar a camisa da Seleção para não serem confundidos com os bolsonaristas raiz, que a transformaram em uniforme político, sequestrando um dos símbolos de nossa identidade nacional. É uma bobagem, talvez seja a hora de mostrar que somos todos brasileiros e temos direito a usá-la, não importam as convicções políticas e religiosas.
Privatização da Petrobras? Veja o que aconteceu com ex-estatais pelo mundo
Julia Braun, BBC News Brasil*
A proposta de privatização da Petrobras, anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, na última semana, reacendeu discussões sobre o impacto de medidas de desestatização na eficácia produtiva de empresas e no controle dos preços dos combustíveis.
Enquanto membros do governo de Jair Bolsonaro (PL) e defensores da redução da presença do Estado nas relações econômicas do país comemoraram o anúncio, representantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP-CUT) afirmaram que o presidente verá "a maior greve da história da categoria" caso avance na intenção.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a privatização da estatal não está em seu "radar" neste momento — a proposta precisa ser aprovada pelo Congresso antes que o presidente possa assinar o decreto para incluir a Petrobras no Plano Nacional de Desestatização (PND).
Iniciativas de privatizações geram debates acalorados não só no Brasil, mas em diversos outros países que já colocaram ou cogitaram colocar medidas semelhantes em prática.
Não são incomuns casos de petrolíferas que decidiram seguir o caminho da capitalização como forma de obter mais recurso — como fez a própria Petrobras em 2010 — ou de governos que desinvestiram em determinados setores para ampliar a concorrência.
Mas quando se trata de grandes estatais produtoras de petróleo se tornando majoritariamente privadas, não há uma gama gigantesca de exemplos, de acordo com especialistas consultados pela BBC News Brasil.
A reportagem consultou estudiosos do mercado de gás e petróleo e da área de privatizações para identificar alguns dos mais notáveis casos e entender o que aconteceu com essas empresas.
Eles apontam que não há um único caminho a ser seguido por petrolíferas estatais no momento da privatização — mas que casos de sucesso costumam acontecer quando há ambiente regulatório forte e estável para atrair investimentos. Especialistas dizem, ainda, que a gestão privada costuma aumentar a eficiência operacional, mas argumentam que nem sempre a desestatização é a melhor escolha — a depender do momento político e econômico do país.
E quando se fala no assunto, os grandes exemplos citados são o da Rússia, que colocou em prática um grande projeto de privatizações após o fim da União Soviética (URSS); da YPF na Argentina, que voltou a ser estatizada após mudanças no governo; e da multinacional BP, no Reino Unido. Há ainda casos de petroleiras privatizadas no Canadá, França, Itália e Espanha, entre outros. Entenda:
Rússia e a formação da oligarquia
Após o colapso da URSS em 1991, o governo da Rússia — sob o comando do presidente Boris Yeltsin — colocou em prática um amplo projeto de privatizações.
O esforço foi iniciado em outubro de 1991 e concluído em julho de 1994, quando dois terços da indústria russa já era de propriedade privada.

A desestatização do setor de gás e petróleo foi regulamentada por um decreto presidencial em 1992. Petroleiras e refinarias foram agrupadas, transformando-se em empresas de capital aberto.
A Lukoil, considerada a maior companhia russa não-estatal do setor de petróleo, foi formada em 1991 quando três estatais sediadas na Sibéria se fundiram. Em 1993, ela foi privatizada e transformada em uma empresa de capital aberto.
A Gazprom também se tornou privada nesse contexto. A empresa, porém, retornou ao controle do governo no início dos anos 2000, e em 2021 foi responsável por 68% da produção de gás russa.
Especialistas afirmam, porém, que o modelo de privatização adotado pela Rússia ajudou a criar um poderoso grupo de magnatas, os oligarcas russos, e a aprofundar a desigualdade no país.
O economista Marshall Goldman, especialista em economia da URSS, afirma em seu livro "The Piratization of Russia: Russian Reform Goes Awry" que o movimento de desestatização russo apenas transformou o monopólio do Estado em um monopólio privado.
"Mas o monopólio privado não funciona de maneira muito diferente", disse o autor em sua obra.

O governo utilizou um sistema de privatização por meio de vouchers, previamente implementado na Checoslováquia.
Sob esse modelo, o governo distribuiu vouchers entre a população, que poderiam ser usados para comprar ações das cerca de 15.000 empresas que estavam sendo desestatizadas. Empresários bem relacionados, porém, adquiriram enormes blocos desses vouchers e garantiram grandes participação ou controle das companhias.
O movimento criou uma oligarquia russa que ainda está intimamente ligada a uma grande parcela da riqueza nacional. Eles controlam importante parte de setores como o de energia, mineração, mídia e transporte do país e possuem conexões no governo central.
Segundo Sérgio Lazzarini, professor do Insper e estudioso das privatizações, após o fracasso na Rússia, o sistema de vouchers deixou de ser considerado. "Esse modelo é bastante controverso e se provou que não funciona bem".
"A passagem de ativos aconteceu também de uma forma não transparente na Rússia, o que contribuiu ainda mais para a concentração de renda dos oligarcas", afirmou o especialista à BBC News Brasil.
Quando chegou ao governo em 1999, Vladimir Putin começou a controlar os oligarcas. Aqueles que seguiram alinhados politicamente com o atual presidente tornaram-se ainda mais bem-sucedidos. Mas alguns dos oligarcas originais que se recusaram a seguir essa linha foram forçados a fugir do país.
Talvez o oligarca mais conhecido fora da Rússia seja o empresário Roman Abramovich, proprietário do Chelsea Football Club. Com um patrimônio estimado em US$ 14,3 bilhões (R$ 73 bilhões), ele fez sua fortuna vendendo ativos após a queda da União Soviética.

Em março deste ano, uma investigação da BBC revelou novas evidências sobre como Abramovich lucrou bilhões de dólares de forma indevida ao fazer negócios com o Estado russo na área do petróleo.
O russo teria comprado a estatal de petróleo Sibneft do governo russo em 1995, pela qual pagou cerca de US$ 250 milhões (R$ 1,2 trilhão). Contudo, ele revendeu a empresa ao Estado, em 2005, por US$ 13 bilhões (R$ 65 bilhões).
Abramovich e outros oligarcas russos foram sancionados pela União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos após a invasão à Ucrânia. O magnata do futebol decidiu então se afastar de algumas de suas funções e vender o Chelsea.
O Instituto Ucraniano para o Futuro (UIF), uma organização independente com sede em Kiev, culpa a ampla influência dos oligarcas na sociedade, na indústria e na política ucranianas pela falta de desenvolvimento do país.
Reino Unido e BP
A multinacional britânica de capital aberto BP foi privatizada em fases, entre 1979 e 1987.
A desestatização aconteceu durante a onda de privatizações implementada pela ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

Durante o governo da Dama de Ferro (1979-1990), muitas companhias e serviços que haviam sido estatizados no mandato do ex-primeiro-ministro Clement Attlee entre 1945 e 1951 foram transformados em empresas privadas: indústrias, siderúrgicas, ferroviárias, aeroviárias, aeroportos e companhias de gás, eletricidade, telecomunicações e água.
Em 1979, o governo de Thatcher vendeu pouco mais de 5% de suas ações da BP e reduziu sua participação na empresa para 46%, tornando-se minoritário pela primeira vez desde que a petroleira foi incorporada pela Inglaterra em 1909.
A participação estatal foi sendo reduzida ainda mais nos anos seguintes e, em 1987, a privatização foi concluída quando o governo vendeu suas últimas ações.
Inicialmente chamada de Anglo-Persian Oil Company Limited e depois de British Petroleum, a petroleira se fundiu com a americana Amoco em 1998 e adquiriu a também americana ARCO e a escocesa Burmah Castrol em 2000, tornando-se oficialmente BP plc em 2001.

No livro "The Org: The Underlying Logic of the Office", o economista Raymond Fisman e o historiador Tim Sullivan descrevem como nas primeiras décadas após a privatização, a BP se tornou um exemplo no setor energético de como uma estatal pouco lucrativa poderia ser transformada em um negócio frutífero com a privatização.
O comando da empresa foi todo substituído por funcionários empenhados em cortar custos e reduzir riscos e alguns empreendimentos que antes faziam parte da companhia — como os dedicados à produção de alimento e mineração de urânio, por exemplo — foram vendidos.
"A BP passou de perdas de quase US$ 1 bilhão [cerca de R$ 5 bilhões na cotação atual] em 1992 para lucros de quase US$ 5 bilhões [R$ 25 bilhões] até o final de 1997. A folha de pagamento foi reduzida para 53.000 [funcionários], bem abaixo das 129.000 pessoas que a BP empregava antes", escreveram Fisman e Sullivan.
Em 2005, uma refinaria da BP no Texas explodiu, matando 15 e ferindo cerca de 170 pessoas. Em 2006, um vazamento em um oleoduto da BP derramou centenas de milhares de galões de petróleo em uma baía no Alasca.
E em 2010, a plataforma Deepwater Horizon, de propriedade da empresa suíça Transocean e operada pela BP no Golfo do México, explodiu e afundou, matando 11 funcionários.
Durante os meses seguintes, quase 5 milhões de barris de petróleo foram despejados no oceano, no que é considerado o maior vazamento acidental de petróleo da história. Cinco Estados (Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana e Texas) foram atingidos pela mancha de óleo, que encobriu aves marinhas, danificou praias e provocou enormes perdas para as indústrias de pesca e turismo.
O acidente de 2010, em especial, prejudicou a imagem da empresa, que teve sua avaliação rebaixada por agências de risco após o desastre.

A BP foi alvo de múltiplos processos judiciais, vários deles movidos pelo governo americano, tanto por violações criminais quanto por violações a regulações civis. Em um acordo considerado o maior do tipo na história americana, a BP concordou em pagar cerca de US$ 20 bilhões (aproximadamente R$ 100 bilhões) ao governo federal e aos cinco Estados afetados pela catástrofe ambiental.
No ano passado, os lucros da petroleira atingiram seu maior nível em oito anos, impulsionados pelo aumento dos preços do gás e do petróleo no mercado internacional. Após um ano de perdas em 2020, a BP fechou 2021 com ganho de US$ 12,85 bilhões (R$ 64 bilhões).
Os lucros continuaram a crescer no primeiro trimestre de 2022, alcançando um patamar de US$ 6,2 bilhões (R$ 31 bilhões) — mais do que o dobro dos US$ 2,6 bilhões (R$ 13 bilhões) que a empresa lucrou no mesmo período do ano passado.
O balanço provocou um movimento pela imposição de uma taxação especial, destinada a coletar parte do que é chamado de "lucro inesperado". A ideia por trás desse tipo de imposto é taxar empresas que se beneficiaram de uma situação pela qual não são responsáveis, como é o caso da alta dos preços de gás e petróleo.
Segundo fontes ouvidas pela BBC, o Tesouro britânico está estudando a possibilidade de adotar tal imposto para o setor energético do país. A BP, porém, rejeita a ideia e afirmou que novas taxas poderiam significar menos investimentos em projetos de energia renovável.
Argentina e o caso YPF

A estatal e maior produtora de petróleo da Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), foi privatizada em 1999, mas reestatizada em 2012, durante o governo de Cristina Kirchner.
A YPF foi criada em 1922 como a primeira petroleira estatal integrada verticalmente em todo o mundo. Durante o período inicial da ditadura militar, que se estendeu de 1976 a 1983, houve um recuo na política de nacionalização no país.
O governo abriu ao setor privado a possibilidade de concessões e permitiu contratos da YPF com terceiros. Essas medidas foram parcialmente anuladas em 1974 e posteriormente reorganizadas em 1985 pelo governo de Raúl Alfonsín.
Mas a privatização só foi concretizada no fim do governo de Carlos Menem, em 1999.
O primeiro passo desse processo foi a transformação da YPF de uma empresa estatal para uma de sociedade anônima com capital aberto. A desestatização foi concluída quando o Estado argentino vendeu 14,99% de suas ações à empresa espanhola Repsol.
No fim de 2011, a Repsol já controlava 57% do capital da YPF.
Em abril de 2012, porém, a presidente Cristina Kirchner apresentou um projeto de lei ao Congresso que declara "de utilidade pública e sujeito à expropriação" 51% do capital da YPF. O texto foi aprovado com ampla maioria no Congresso e a repatriação efetivada.
O governo culpava a YPF pela queda na produção petrolífera, o que teria obrigado a Argentina a gastar muito com a importação de combustível, num momento em que o país sofria uma escassez de dólares devido a uma fuga de capitais.
Economistas que também apoiaram a medida afirmaram ainda que, desde que a Repsol assumiu o controle da YPF, houve fuga sistemática de divisas sem reinvestimento para a exploração, tornando o modelo insustentável.

Uma pesquisa realizada na época do anúncio da reestatização pelo jornal portenho La Nación mostrou que seis em cada dez argentinos apoiavam a medida.
A YPF, por sua vez, afirmava que as próprias políticas econômicas intervencionistas do governo deram origem à crise energética no país.
Fora do país, a medida gerou grande desconforto com o governo da Espanha e outras potências. A decisão foi duramente criticada pela União Europeia, FMI e pelos centros econômicos mundiais.
A nacionalização desencadeou ainda uma intensa batalha jurídica entre o governo e a Repsol, que terminou em um acordo de US$ 5 bilhões (R$ 25 bilhões) de indenização pela expropriação das ações.
"A reestatização da YPF aconteceu sem nenhum amparo regulatório institucional", diz Sérgio Lazzarini, do Insper.
"Ao mesmo tempo, é preciso um ambiente institucional e legal relativamente estável para que os investimentos privados prosperem, algo que faltou na Argentina após a privatização da petroleira".
Antes de ser estatizada, a empresa tinha um valor de mercado de cerca de US$ 16 bilhões (R$ 80 bilhões). No momento do anúncio da expropriação, a empresa já havia perdido quase metade de seu valor, passando a US$ 8 bilhões (R$ 40 bilhões).
Dez anos depois, as ações da YPF valem 75% menos, segundo análise feita pelo jornal argentino El Clarín. O valor de mercado da companhia está hoje em torno de US$ 3,4 bilhões (R$ 17 bilhões).
As ações da YPF estão sendo negociadas a cerca de US$ 5 (R$ 25) desde a invasão russa na Ucrânia. Em 2012, elas chegavam a US$ 41 (R$ 204), segundo o Clarín.
Afinal, existe uma receita para o sucesso?
Segundo os especialistas consultados pela BBC, não há um único caminho a ser seguido por petrolíferas estatais no momento da privatização.
Da mesma forma, nem sempre a desestatização é a melhor escolha, a depender do momento político e econômico do país, de acordo com Sérgio Lazzarini.
"Às vezes pode ser indicado apenas melhorar a governança, blindar a empresa de interferência governamental, atrair mais investimentos e implementar estratégias para desinvestir setores estratégicos e ampliar a concorrência", diz o professor do Insper.
"Mas experiência em geral, não só no setor do petróleo, mostra que a gestão privada, de fato, aumenta a eficiência operacional".

Lazzarini lançou em março deste ano o livro "The Right Privatization - Why Private Firms in Public Initiatives Need Capable Governments" (A Privatização Certa - Porque Empresas Privadas em Iniciativas Públicas Precisam de Governos Capazes, em tradução livre).
Na obra, o especialista destaca justamente a importância de um governo bem-organizado e preparado no processo de privatização de estatais de diversos setores.
"E o que são governos capazes? Governos que levam o tema da privatização para o debate público adequadamente e criam um ambiente regulatório adequado para tratar do problema", diz.
Ainda segundo Lazzarini, os casos de sucesso costumam acontecer quando há um ambiente regulatório forte e institucional estável que consiga atrair investimentos, além de competição no setor. "Os preços só começam a cair quando há mais atores e mais competição", diz.
Patrick Heller, diretor Executivo do Natural Resource Governance Institute e pesquisador do Centro de Direito, Energia e Meio Ambiente da Universidade da Califórnia em Berkeley, lista ainda outros fatores que considera essenciais para uma boa transição.
"O primeiro deles é fazer uma boa avaliação dos preços das ações antes da privatização. Definir um bom mecanismo para encontrar um valor inicial de referência e a partir daí seguir com as negociações", diz.
"Fazer isso sempre foi complexo, mas está ainda mais difícil neste momento, diante das incertezas reais em torno do futuro da indústria de petróleo e gás no mundo e da necessidade de se investir em energia limpa".
Heller lembra ainda da importância da transparência em qualquer processo de privatização. "Todas as etapas precisam ser transparentes, seja no momento da avaliação dos ativos, da definição dos modelos de privatização ou de estabelecer os requisitos para que as partes tenham acesso aos recursos desestatizados", afirma.
"Por fim, há um terceiro ponto importante e que se conecta ao anterior, que é a construção de um processo justo e objetivo", diz. Segundo Heller, o princípio deve ser obedecido independentemente do modelo de privatização escolhido.
"É preciso se certificar de que as ações não sejam entregues a pessoas politicamente conectadas ou que um grupo específico de investidores seja privilegiado".
Segundo os especialistas, os casos de fracasso na história acontecem justamente quando esses princípios não são respeitados.
"Pode haver falhas em três estágios da privatização: no desenho do modelo, na implementação e na fase pós-privatização", diz Sérgio Lazzarini.
Para o professor do Insper, quando há falha no modelo, por vezes troca-se o monopólio estatal por um privado, como aconteceu na Rússia.
"Na implementação é preciso estar atento para falhas no momento de identificar compradores e licitar a venda. Já no pós os problemas estão na não regulamentação do setor ou definição dos padrões de qualidade e quantidade dos investimentos", complementa Lazzarini.
Os estudiosos afirmam ainda que associar diretamente a queda dos preços dos combustíveis a um sucesso na privatização nem sempre é o melhor caminho, já que o preço no setor é ditado internacionalmente e muito influenciado por fatores externos.
"Em geral, empresas privadas do setor de gás e petróleo tendem a ser mais eficientes quando se trata de gerenciar recursos e custos de produção", diz Patrick Heller. "Mas o petróleo é uma commodity global e, portanto, o que mais influencia os preços que chegam até os consumidores não é a eficiência de uma empresa de extração em particular, mas sim o mercado global de energia".
*Texto publicado originalmente no BBC News Brasil
‘Toxic Tour’, um passeio guiado nas zonas amazônicas contaminadas pelo petróleo
Os afetados pelo derramamento de óleo na Amazônia equatoriana querem transformar o desastre ambiental que enfrentam em turismo e denúncia. Para isso, criaram um roteiro em que visitantes podem ver a deterioração causada pelos poços de petróleo
Giamarco di Costanzo, do El País
A floresta está em perigo constante. As multinacionais e petrolíferas, que exploram algumas áreas da Amazônia equatoriana há décadas, causam danos irreversíveis ao ecossistema e às populações locais. Um desses lugares é a província de Sucumbíos, onde as contaminações causadas pela multinacional Texaco (depois, Chevron) prejudicam povos indígenas e camponeses, segundo vários relatórios oficiais. Mas, é algo que também se vê a olho nu: essa província, assim como a de Orellana, estão entre as mais afetadas pela poluição provocada pela exploração do chamado ‘ouro negro’.
Em 1972, a Texaco começou a extrair petróleo em Sucumbíos. Desde então, cerca de 64 bilhões de litros de água tóxica foram derramados em rios e florestas na Amazônia, bem como 650.000 barris de petróleo bruto, de acordo com a União de Afetados e Afetadas pelas Operações Petrolíferas da Texaco (UDAPT). Adiante, as estatais Petroecuador e a Petroamazonas assumiram o controle das instalações da Texaco, dando continuidade ao despejo de resíduos tóxicos na região; hoje, a área é uma das mais contaminadas do país, contando com cerca de mil poços de petróleo.
Mesmo com a pandemia, a comida e a água acabam como vítimas dos derramamentos, o que também afeta atividades de pesca e agricultura, além de causar doenças em habitantes de comunidades indígenas e camponesas, segundo eles mesmos relatam. O ar também não é poupado: a floresta de Sucumbíos, por exemplo, está repleta de flares, como são chamadas as enormes torres que queimam o gás natural que escoa da extração do petróleo. Os ‘gigantes’ também estragam a água da chuva, que ainda é a primeira fonte de abastecimento dos habitantes da região.
MAIS INFORMAÇÃO
A dupla ameaça para os povos da Amazônia
Explosão do garimpo ilegal na Amazônia despeja 100 toneladas de mercúrio na região
Covid-19 e o desmatamento amazônico
Por conta disso, nos últimos anos o que se viu foi um fenômeno de associações (criadas por cidadãos prejudicados) que moveram ações judiciais contra a Texaco-Chevron e até mesmo contra o Estado. Uma dessas figuras centrais na luta contra os danos causados pela multinacional é o advogado Pablo Fajardo, que há anos esta à frente da batalha judiciais liderada pelos afetados pelo dano ambiental.
É ele quem coordena as atividades da UDAPT, organização nascida sob a égide de ativistas indígenas e camponeses com o simples propósito de proteger a vida e os direitos de equatorianos que vivem em áreas contaminadas pelo petróleo. As batalhas legais contra os gigantes da indústria se arrastaram por mais de 20 anos. Enquanto isso, o Estado equatoriano deu razão às populações e até condenou a Texaco-Chevron a pagar cerca de 9,5 milhões de dólares (cerca de 48 milhões de reais) para limpar algo próximo de 480.000 hectares de área afetada —local que ganhou a alcunha “Chernobyl da Amazônia”. No entanto, a Chevron-Texaco recusou-se a pagar as multas. Em seguida, em setembro de 2018, o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia anulou a sentença contra a multinacional por considerar que o Estado equatoriano havia violado o Tratado Bilateral de Investimentos com os Estados Unidos, segundo consta no próprio site da empresa.A batalha judicial não terminou e os afetados esperam que em algum momento lhes deem razão e a multinacional seja obrigada a pagar o que deve
A batalha judicial não terminou e os afetados esperam que em algum momento lhes deem razão e a multinacional seja obrigada a pagar o que deve. No entanto, o desastre ambiental não pode ser compensado. E eles querem que o problema seja conhecido mundialmente. Para isso, um belo dia recorreram à originalidade e a UDAPT criou uma nova forma de turismo: o Toxic Tour, um passeio para sensibilizar os visitantes e chamar a atenção para este desastre ambiental. A iniciativa consiste em uma visita guiada às zonas mais poluídas das províncias. Permite ver, além de vários flares, inúmeros poços de petróleo, piscinas de petróleo e locais contaminados. Eles já fizeram mais de 700 passeios.b
O tour atrai ativistas, jornalistas, fotógrafos e videomakers, visitantes ideais para a UDAPT, cujos membros buscam desesperadamente justiça e querem que sua história seja contada, para dar voz às populações indígenas e camponesas que sofrem as consequências das práticas ruins.

Os povos indígenas sofrem aqui, como em muitos outros lugares da Amazônia, a invasão de seus territórios por diversas atividades extrativistas. Muitas das operações petrolíferas foram realizadas em terras ancestrais de tribos indígenas da região, cuja sobrevivência está hoje ameaçada, apesar de viverem há milênios em simbiose com o ecossistema da maior floresta do mundo. Também existe o risco de perda de suas tradições ancestrais. Os A’I Cofan e Siekopai, habitantes dessas terras há séculos, foram reduzidos pela metade nas últimas décadas. Atualmente, são apenas algumas centenas de pessoas.
O Estado e as próprias multinacionais do petróleo têm tentado abrir vias de cooperação e indenização pelos danos causados pela atividade de mineração. Os povos indígenas muitas vezes aceitam somas de dinheiro ou investimentos na infraestrutura das aldeias em troca de licenças e concessões de terras. É o caso da Comunidade do Milênio, no povoado tribal A’I Cofan de Dureno, próximo ao rio Aguarico, um dos mais prejudicados. O território Cofan é uma terra de extrativismo desde a década de 1970 e tem sofrido muita violência com os novos colonos.
A criação dessa comunidade foi resultado de uma negociação entre o Governo e a Petroamazonas em 2014, pela qual foram aprovadas a reabertura do Dureno 1, um poço já fechado, e a ampliação do poço Guante 12, ambos em território Cofan. Desde então, Dureno se tornou uma localidade modelo, equipada com iluminação, cabanas de alvenaria, uma escola bilíngue, onde as crianças estudam o espanhol e sua língua tribal, e cisternas de água. Por tudo isso, a comunidade paga impostos. Cada núcleo familiar recebeu uma casa e também foram construídas instalações para o desenvolvimento do ecoturismo. Graças a esses investimentos, a petroleira obteve do Governo a concessão para a abertura de novos poços na área. Muitos moradores de Dureno, porém, discordam da decisão.Os idosos lembram-se bem da chegada das multinacionais, enquanto os mais jovens nunca conheceram seu território ancestral limpo
A população Siekopai, por sua vez, diminuiu muito ao longo dos anos por causa da violência, ameaças e pressão das empresas que operam em seu território, bem como às doenças derivadas da poluição, segundo dizem na região. Algumas povoações ficam próximas ao rio Aguarico, como San Pablo de Kantesiyia, lugar altamente poluído. Os idosos lembram-se bem da chegada das multinacionais, enquanto os mais jovens nunca conheceram seu território ancestral limpo.

Os derrames afetaram o curso de água, pondo gravemente em perigo a saúde dos que sobrevivem graças ao rio Aguarico, onde a população de San Pablo toma banho e as crianças costumam brincar. Alguns moradores contam que quando a produção de petróleo era alta, quem tomava banho saía com manchas pretas de óleo. Constata-se o crescente processo de ocidentalização das comunidades pela chegada de empresas agroalimentícias que experimentam novos cultivos e plantações de dendê no território, e pela abertura de lojas que são abastecidas semanalmente com produtos que os Siekopai nunca haviam consumido antes, como a coca-cola. Pela primeira vez, as novas gerações das tribos estão em contato com a globalização e o mundo digital. E hábitos, roupas e alimentos já começam a mudar. A sua cultura ancestral e as tradições milenares são cada vez menos assimiladas pelos mais jovens. E existe o perigo real de que as línguas também sejam esquecidas.
Muitos dos mais jovens são grandes defensores da Amazônia, a maior floresta do mundo, com um território abarcado por nove países sul-americanos. Estados que não conseguem encontrar uma forma de proteger o meio ambiente e as populações. A extração de matérias-primas e o desmatamento são implacáveis e suas consequências podem ser vistas na paisagem. A proteção desse ecossistema é essencial para a sobrevivência do planeta.
Evandro Milet: O futuro é o conhecimento, a educação, a tecnologia, e não mais o petróleo
O episódio recente da mudança do presidente da Petrobras trouxe o problema do petróleo para as redes sociais com comentários desinformados, além de raivosos naturalmente, como é praxe nesse ambiente.
Um comentário dizia que o Brasil é autossuficiente em petróleo e não precisaria seguir preços internacionais. Se conseguisse refinar e usar todo o petróleo que produz, isso seria verdade, mas não é. Quando o Brasil construiu refinarias, principalmente entre 1950 e 1980, não produzia petróleo, mas necessitava de combustível para enfrentar o crescimento do número de veículos. As refinarias foram então construídas para processar petróleo leve importado do Oriente Médio. Quando o país descobriu petróleo, este era mais pesado, e as refinarias não processavam.
Os novos campos do pré-sal já têm óleo mais leve, mas mesmo assim o Brasil precisa exportar e importar petróleo e derivados pela capacidade e tecnologia de processamento das misturas de leve e pesado de cada refinaria. E, claro, que paga a importação no dólar vigente e no preço do barril do mercado. Se a Petrobras comprar pelo preço internacional e vender com preço subsidiado no mercado interno vai ter prejuízo. Isso aconteceu no governo do PT para segurar a inflação e gerou um prejuízo de R$ 100 bilhões à empresa. Junto com os investimentos políticos errados em novas refinarias e a corrupção, a empresa quase quebrou, com uma dívida de 140 bilhões de dólares, que vem sendo reduzida.
A recuperação passa por vender ativos menos rentáveis como algumas das refinarias e redes de postos e se concentrar na altamente lucrativa produção do pré-sal. O problema agora é saber o apetite de possíveis compradores de refinarias, desconfiados que o representante-mor do acionista controlador da Petrobras, o Presidente da República, pode interferir nos preços de derivados.
Quem vai comprar uma refinaria se o concorrente pode baixar o preço do produto artificialmente? Os produtores de etanol, por sua vez, ficam perdidos com o preço atrelado à gasolina. Empresários que montaram operações de importação de derivados, liberada desde 2002, como ficam com essa concorrência com preços artificiais?
Há outras consequências: milhares de investidores prejudicados com a queda das ações da Petrobras, inclusive fundos de pensão de trabalhadores e fundos em geral, do mundo todo, que passam a desconfiar de investimentos no país. Compradores de papéis da Petrobras, no Brasil e no exterior pedirão mais juros nas próximas vezes, aumentando a dívida. Fora a desconfiança geral sobre a segurança jurídica e política de investir no Brasil.
A intervenção de Bolsonaro na Petrobras afugentou os investidores estrangeiros — que sacaram 9,2 bilhões de reais da bolsa de valores, sendo 6,8 bilhões de reais somente num único dia. Consequência, sobre o dólar, da lei da oferta e da procura: o dólar aumenta, o diesel aumenta, a inflação aumenta e a cobra morde o rabo. “Era mais barato dar 100 bilhões de reais aos caminhoneiros”, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, a um integrante da pasta (Veja).
Mas quem ganha com a venda de refinarias e a importação de petróleo e derivados? Ganha o consumidor que vai se beneficiar da concorrência aberta e certamente do aumento de produtividade e novos investimentos pelos novos proprietários. Surgirão até mini-refinarias privadas para atendimento localizado.
Mas, diriam alguns estacionados na década de 1950, o petróleo não é estratégico? Não mais. Se o Brasil não extrair esse petróleo rapidamente, em não muitos anos vai ficar com o mico. O mercado vai reduzir o preço do petróleo gradativamente antes de acabar a era do petróleo. Aliás, como se sabe, a idade da pedra não acabou por falta de pedra.
Se algum país quiser prejudicar o futuro dos Estados Unidos é melhor jogar uma bomba no Vale do Silício do que em algum poço de petróleo. O futuro é o conhecimento, a educação, a tecnologia e não mais petróleo, substituído aos poucos pelas energias alternativas, com preço caindo rapidamente com novas tecnologias de equipamentos e baterias.
Tratemos de aproveitar os anos que restam ao petróleo para desenvolver uma cadeia de fornecedores de equipamentos e serviços que podem migrar depois para outros setores e aproveitar os royalties e participações especiais para investir em educação, tecnologia, infraestrutura e energias alternativas, que se viabilizam com o preço alto de combustíveis fósseis, como o meio ambiente pede.
Oscilações bruscas do preço de combustíveis, que sempre acontecem nesse mercado, podem ser atenuadas em articulações não histéricas, respeitando a governança corporativa da Petrobras, pela redução de carga fiscal, mecanismos inteligentes de compensação e estratégia antecipada de mudança de perfil das empresas de transporte, da tecnologia usada nos veículos e da composição de meios logísticos.
Interferir em preços de mercado nós já vimos quando caçavam boi no pasto no Plano Cruzado. Não dá certo.
Revista Política Democrática || Anivaldo Miranda: As lições que nos chegam do mar
Das praias do Maranhão às do Espírito Santo, a tragédia causada pelas manchas de petróleo assusta pela quantidade de óleo vazado, os impactos à vida marinha e os prejuízos que afetarão a saúde humana, os produtos do mar e a economia do país
Alguns dizem que é o maior crime ambiental já ocorrido no Brasil. Mas como se trata de evento que ainda está em andamento, e como estamos assistindo nos últimos 4 anos à uma sucessão assombrosa de graves ocorrências similares, envolvendo rompimentos de grandes barragens de rejeitos de minério, comprometimento de rios de grande porte e, ultimamente, incêndios florestais em grande escala, fica difícil, nesse ranking deprimente, qualificar qual dessas tragédias é a pior em termos de efeitos destrutivos e sequelas a encarar.
Não há dúvida, porém, que o impacto causado pelas manchas de petróleo que chegaram ao litoral brasileiro – das praias do Maranhão às do Espírito Santo – é algo assustador por várias razões: a quantidade de óleo vazado, a dispersão e fragmentação das plumas resultantes, os impactos agressivos e de grande monta em relação à vida marinha e à saúde dos seus ecossistemas, os prejuízos que afetarão a saúde humana, os produtos do mar e a economia do país.
Das muitas lições que se pode tirar desse evento, destaca-se a recorrência não só da demora da resposta, mas também da incapacidade de sincronia de esforços diante das ocorrências catastróficas que se estão multiplicando no Brasil, resultantes tanto de fenômenos naturais, como da ação ou inação humanas.
O poder público tardou em perceber a gravidade e a abrangência do evento, e as providências deram-se de forma tardia, apesar dos instrumentos legais e operacionais que já estão disponíveis para enfrentar contextos de tal criticidade. E tal atraso é sempre nocivo, tendo em vista que a larga experiência internacional ensina que tempo e agilidade podem minimizar significativamente os danos relativos a quaisquer acidentes.
Fontes do governo federal insistem em dizer que, desde a primeira notícia do aparecimento do óleo nas praias da Paraíba, em 30 de agosto último, teve início a mobilização oficial para avaliar e enfrentar o problema. Mas essa não é a versão do Ministério Público Federal no Nordeste, que acionou a União e acusou o Ministério do Meio Ambiente por não ter reconhecido formalmente a “significância nacional do desastre ambiental” e, como tal, não ter acionado em sua integridade o Plano Nacional de Contingência (PNC), omissão que gerou luta de liminares bastante ilustrativa das complicações de ordem burocrática que atravancam a operacionalidade da ação estatal, até mesmo em situações de emergência.
Verdade seja dita, mesmo que tivesse sido ativado a tempo, o PNC, nas condições da cultura centralizadora e prepotente do Estado brasileiro que rejeita o compartilhamento de processos decisórios com a sociedade, dificilmente teria possibilitado em toda sua amplitude, as ações voluntárias e tempestivas de muitos escalões intermediários do poder público – da União, Estados ou municípios, bem como de universidades e escolas, populações ribeirinhas ou costeiras, pescadores, marisqueiros, trabalhadores e empresários do turismo – para fazer frente ao desafio do óleo espalhado no mar.
Uma análise mais detida da estrutura funcional e administrativa do PNC identificará não só o fardo burocrático de sua concepção, mas também sua frágil legitimidade, em razão da ausência de representações dos governos estaduais e municipais e dos segmentos da iniciativa privada e da sociedade civil. Não obstante essa verificação, o acionamento pleno do PNC sempre se justificará, por conta do grau de incertezas quanto à origem do vazamento, a estimativa aproximada da quantidade de óleo vazado e os danos causados ao ambiente, sobretudo ecossistemas marinhos e costeiros de grande valor para a biodiversidade.
Em seu momento, investigações da Polícia Federal apontaram o navio tanque de origem grega – o Boubolina – como suspeito do vazamento. No entanto, análises do mar, via satélites de origem diversa, descartaram recentemente essa hipótese, a exemplo da respeitada organização Skytruth, que atua nos Estados Unidos, e do Laboratório de Análises e Pesquisas Espaciais (LAPIS) da Universidade Federal de Alagoas, que atribui maior probabilidade a um navio fantasma que não pôde ser detectado pelo sistema de localização, quando da presumível data em que o óleo vazou. Seja como for, o “dossiê” continua em aberto, e certas declarações oficiosas dão a entender que nem a hipótese de vazamento de um poço sem controle foi descartada.
Deve ser registrada a mobilização – tardia ou não – de um grande número de servidores públicos, incluindo contingentes e equipamentos militares, pesquisadores e voluntários civis, providência que não deve ser desativada, porque ainda há muito trabalho e esforço para detectar, contabilizar, diagnosticar e reparar, até onde for possível, os impactos causados aos ecossistemas marinhos e costeiros pelo vazamento do petróleo. E para que tais tarefas sejam desempenhadas, é preciso estar alerta e impedir que razões de ordem fiscal e orçamentária sejam mais uma vez acionadas para frustrar ou limitar as atividades imprescindíveis à minoração dos danos causados à biodiversidade.
Convém lembrar que o Brasil não vem passando nos últimos testes a que foi submetido pelas catástrofes agora mais frequentes. Nesse sentido e mantendo o foco apenas nessa questão do vazamento do óleo, é importante destacar a enorme faixa costeira atlântica do Brasil e as águas oceânicas que com ela interagem. A multiplicação do tráfego marítimo em toda essa área, a perfuração e a exploração exponencial de poços de petróleo em águas brasileiras e fora delas, como é o caso do Golfo da Guiné, na África, onde vazamentos de petróleo também poderão atingir nosso litoral, configuram cenário que bem dimensiona a grandeza do desafio que o país tem pela frente.
É urgente, portanto, que se reserve atenção especial à preparação do país para continuar desenvolvendo as melhores e mais seguras tecnologias possíveis para extração de petróleo e gás em ambientes aquáticos, transporte de poluentes em águas oceânicas ou interiores e observação, fiscalização e monitoramento do tráfego marítimo, complementando essas políticas com intensa cooperação internacional.
É vital que não se restrinjam às nossas limitações tecnológicas e científicas os fatores que conspiram contra a capacidade satisfatória do Brasil de prevenir e responder a eventos catastróficos. Por trás dos nossos dilemas, avulta-se também a gestão pública de baixa qualidade, um fantasma complexo que nos assombra desde tempos imemoriais, além de uma cultura negligente em face dos riscos inerentes à vida, desde os mais cotidianos, no plano doméstico, até os riscos de grande escala que deixamos de gerenciar adequadamente em nome, muitas vezes, da internalização de lucros abusivos conseguidos às expensas da externalização criminosa dos custos humanos, sociais e econômicos de atividades sujeitas a perigos inaceitáveis..
A sucessão de eventos catastróficos que o Brasil vivenciou nos últimos tempos decorre, dentre outras causas, da baixa de qualidade da gestão pública, processo que vem se agravando há mais de uma década. Agora, sob a égide de uma ideologia ultraliberal agressiva e conservadora, esse processo tem-se acentuado, o que eleva os riscos das atividades econômicas a novos patamares no rastro do desmonte das políticas públicas de meio ambiente e de recursos hídricos por conta, também, de uma retórica eivada de conteúdo ideológico rasteiro que nada em comum tem com as práticas e metodologias científicas próprias da boa gestão do meio ambiente.
Não estão alheios a tal processo os grandes setores da economia monopolista que, confrontados entre os cânones da modernidade gerencial do desenvolvimento sustentável, de um lado e, do outro lado, as vantagens oportunistas que podem obter no contexto de sociedades fragilizadas que flexibilizam irresponsavelmente os marcos legais do controle ambiental, optam pelo segundo caminho para assegurar taxas de lucros impublicáveis.
O Brasil do pós-Mariana, Barcarena (Pará), Brumadinho, dos mega incêndios florestais e atualmente do óleo no mar precisa refletir de maneira abrangente sobre isso e fazer conexões mentais importantes no contexto de sua inteligência coletiva, para enfrentar os dilemas do século atual com boas possibilidades de acerto que, ao final, conduza seu povo a um nível razoável de bem-estar e mantenha seu território e biodiversidade num plano seguro de preservação e capacidade de reprodução.
No século do aquecimento global, em que se terá, por bem ou por mal, de trabalhar a capacidade nacional de resiliência às novas condições climáticas, as catástrofes recomendam cada vez mais mudanças de comportamento, tais como adotar a cultura do planejamento, da gestão de qualidade tanto privada como pública e, no caso desta última, uma gestão cada vez mais transparente, participativa, compartilhada e descentralizada como pilar essencial para que se possam impulsionar ciclos de crescimento saudáveis que aliem a ciência e a tecnologia a uma cultura cidadã mais consistente e consciente que capacite os brasileiros e as brasileiras ao enfrentamento de seus grandes desafios.
* Jornalista e mestre em meio ambiente e desenvolvimento sustentável pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL.
Monica De Bolle: Um conto chinês
Apesar da queda da produção de petróleo, o regime de Maduro tem sido capaz de se sustentar
Quando se trata da China, o que se destaca na América Latina são os lados positivos de relação por vezes tão disparatada quanto a cena de abertura do filme de Sebastián Borensztein: uma vaca cai do céu matando uma jovem – após a cena inicial, lê-se “baseado em fatos reais”. Os fatos reais geralmente destacados são a maior integração comercial entre a China e a região, a realidade de que a China já ultrapassa os EUA – em alguns casos – no peso que tem na América Latina, os volumosos investimentos chineses. Segundo dados compilados pelo Inter-American Dialogue, o banco de desenvolvimento da China (China Development Bank, CDB) e o China Ex-Im Bank, duas das maiores instituições financeiras do país, têm sido responsáveis pelo envio de recursos para conjunto seleto de países desde 2005. São eles: Argentina, Brasil, Equador e Venezuela.
Do que é possível saber – transparência não é o forte dos investimentos chineses – a China fez 17 empréstimos para a Venezuela, totalizando cerca de US$ 63 bilhões. Para o Brasil, foram 12 empréstimos no montante de US$ 42 bilhões. Para a Argentina, US$ 18 bilhões por meio de 11 empréstimos. Os dados provavelmente subestimam a presença do investimento chinês na região, sobretudo na Venezuela, onde os arranjos entre os dois governos estão encobertos por véu de mistério.
O que se sabe é que a China, transacional e pragmática, não está mais dando dinheiro ao regime de Nicolás Maduro. Ao contrário, os chineses andam mais preocupados em receber o que lhes é devido, seja na forma de pagamentos diretos, seja por meio de barris de petróleo. Apesar da queda sistemática da produção de petróleo, o regime de Maduro tem sido capaz de se sustentar. O PIB em queda livre e a hiperinflação que engoliu a Venezuela não prenunciam o fim da ditadura.
Mas este não é mais um artigo sobre a Venezuela. Este é um artigo sobre a atuação da China na Venezuela para além do comércio, dos investimentos e das transações opacas entre o país asiático e a PDVSA, a empresa de petróleo venezuelana. Dia desses, assisti a um dos vídeos mais perturbadores que já havia visto sobre a atuação dos chineses na Venezuela. Tratava-se de uma reportagem investigativa do New York Times sobre o que a China anda fazendo na região. Intitulado “O Equipamento Antiprotesto que os Déspotas Amam” (“The Anti-Protest Gear that Despots Love”) e disponível no YouTube, a reportagem mostra como os imensos protestos que tomaram as ruas de Caracas em abril e maio de 2017 foram eliminados. Reparem: não há mais protestos daquela magnitude desde então, ainda que a situação de penúria, miséria, tragédia em que vive a população só tenha piorado. Por quê?
Norinco, a empresa estatal chinesa especializada em equipamentos militares, vendeu para o governo Maduro tanques e veículos desenhados para montar barreiras e arremessar mísseis de gás lacrimogêneo e canhões de água nas multidões. As mortes – muitas não reportadas – e os milhares de feridos nos protestos do ano passado resultaram do uso do aparato antiprotestos fabricado e vendido pelos chineses. O sumiço das multidões desde então deve-se ao medo de ser vítima de um sofisticado equipamento para suprimir demonstrações legítimas e pacíficas. Como soube disso? Não por meio dos jornais, ou por ampla divulgação da reportagem do New York Times pela mídia. Soube diretamente de um jovem político venezuelano hoje exilado aqui em Washington que teve a sorte de escapar – pela fronteira entre o Brasil e a Venezuela – das garras de Maduro. Ele estava lá, nos protestos de 2017. Enfrentou os tanques e foi derrotado por eles.
Esse é apenas um dos relatos chocantes sobre a atuação da China na Venezuela. O outro diz respeito à empresa de tecnologia ZTE, alvo de sanções dos EUA, que vendeu para Maduro os chips da nova carteira de identidade anunciada em novembro. Para ter acesso a medicamentos, comida, aposentadorias, venezuelanos têm de adquirir a nova carteira, cuja tecnologia permite que cidadãos sejam rastreados e monitorados todo o tempo pela ditadura homicida. Qualquer semelhança com Orwell é mais do que mera coincidência. É a implantação da mais perversa distopia debaixo dos narizes de todos. Onde estão as denúncias?
* Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University
José Serra: O petróleo volta a ser nosso
Se mantivermos o passo firme, a estimativa é de alcançarmos 5,5 milhões de barris/dia até 2030
Na semana passada a União assinou os contratos de outorga aos consórcios vencedores dos leilões petróleo do pré-sal realizados em outubro, já sob as regras da Lei 13.365, de minha autoria, sancionada no final de 2016. Essa lei desobrigou a Petrobrás de participar da exploração de todos os campos ofertados e, mais ainda, cobrindo, no mínimo, 30% dos investimentos.
O dinamismo que hoje caracteriza o nosso setor de petróleo e gás contrasta com a letargia que marcou os anos da gestão petista, sob a tutela da lei aprovada em 2010, por iniciativa da então candidata presidencial Dilma Rousseff.
Em 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso promoveu a quebra do monopólio da Petrobrás – que fechava o setor para os investimentos privados – e instituiu o regime de concessão, em que são pagos os bônus de assinatura (à vista) e são previstos royalties e participações especiais aos entes da Federação, tudo sob a supervisão da Agência Nacional do Petróleo. Esse modelo – ao contrário do que previam os críticos – ampliou rapidamente a produção de petróleo no País, dobrando-a em dez anos, quando chegou a 1,8 milhão de barris por dia.
A contraproducente mudança do marco legal em 2010 – mais como bandeira ideológica do que por fundamentos econômicos sólidos – criou o regime de partilha e determinou que a participação compulsória da Petrobrás em todos os leilões de novos campos fosse de, no mínimo, 30%. Tratou-se de medida acima de tudo desnecessária, pois o regime de concessão já previa as participações especiais, instrumento capaz de ampliar a renda estatal do petróleo em caso de subida dos preços.
A mudança de 2010 criou um imbróglio que parou os leilões por três anos. Somente viria a ser realizado um novo certame em 2013, o do Campo de Libra, com resultados decepcionantes tanto pelo baixo número de competidores quanto pelo pequeno porcentual de óleo-lucro oferecido à União pelo único consórcio participante: 41%. Para se ter uma ideia, nos últimos leilões, já sob a legislação pós-Dilma, o porcentual médio de óleo oferecido à União foi de 60%. Trocando em graúdos, a União receberá 20 pontos porcentuais a mais da produção de óleo nos campos recentemente leiloados, em comparação com o que ganhará em Libra. O petróleo está voltando a ser nosso.
Não é demais lembrar a conjunção de populismo e patrimonialismo que ameaçou levar a Petrobrás à lona. Congelaram-se os preços da gasolina e do diesel na tentativa de debelar a inflação. Os investimentos feitos foram de baixo retorno, em parte por erros técnicos, em parte porque eram um canal para obtenção de vantagens não bem ajustadas ao interesse público.
O fato é que a Petrobrás não conseguiu cobrir os compromissos da lei Dilma e, como resultado, leilões foram sendo postergados. Isso encolheu os investimentos privados no aumento da produção.
Ao final dos governos petistas a deterioração das finanças da Petrobrás atingiu níveis perigosos. Os juros implícitos dos títulos de sua dívida internacional com vencimento em 2024 chegaram a 9,6% – em dólar! Hoje esses juros são de 5%. O pessimismo com a empresa foi tão grande que suas ações caíram a R$ 5 no início de 2016. Agora, em trajetória de recuperação, atingiram R$ 20.
Acelerar a produção do pré-sal é imperativo para aproveitarmos este período em que o petróleo ainda tem valor, apesar de já estar em trajetória de obsolescência. As novas fontes de energia (especialmente solar e eólica), as restrições ao uso de combustíveis fósseis e os ganhos de eficiência energética – vejam a arrancada fulminante do carro elétrico – tendem a reduzir o consumo per capita de petróleo. De 2011 a 2014 o preço médio do barril foi superior a US$ 100. Hoje, mesmo na presença de uma inédita concertação entre os maiores exportadores, o barril está a menos de US$ 70 e muitos especialistas acreditam que nem esse nível será sustentável. Se continuássemos atrasando o aumento da produção no pré-sal, suas imensas reservas ficariam enterradas para sempre.
Não há tempo a perder.
Como bem lembrou o ministro Fernando Bezerra durante a cerimônia de assinatura dos contratos de partilha, o Brasil até hoje perfurou 30 mil poços de petróleo, metade do realizado pela Argentina e igual ao número de poços que se abrem anualmente nos Estados Unidos. Se mantivermos o passo firme que adotamos a partir de 2016, a estimativa é de que alcancemos 5,5 milhões de barris/dia até 2030, dobrando nossa participação na produção mundial de 2,5% para 5%.
Isso demandará a instalação de mais 40 plataformas de exploração, com um investimento de R$ 850 bilhões, o que elevará a receita com petróleo da União, dos Estados e municípios a R$ 100 bilhões por ano.
Dado o aumento do porcentual de óleo-lucro induzido pela maior competição, somente os leilões de outubro passado propiciarão aos entes da Federação uma receita total de R$ 600 bilhões até 2030. Apenas em bônus de assinatura, que são o pagamento à vista feito pelas vencedoras dos leilões, a União arrecadou R$ 6,2 bilhões.
Outras medidas importantes são a reconfiguração do regime fiscal (Repetro) e das regras de conteúdo local. Com o aumento esperado na produção, a demanda por equipamentos impulsionará a indústria nacional, sem os exageros que acabavam por atrasar a entrada em operação dos projetos.
Um subproduto importante do ambiente competitivo reinstalado na produção de óleo e gás é que a indústria nacional terá acesso à demanda por equipamentos das grandes petrolíferas em todo o mundo. Provavelmente essa abertura induzirá maior competitividade no setor, um fator crucial para revertermos a nossa preocupante tendência à desindustrialização.
O novo marco do regime de partilha demonstra como boas políticas podem rapidamente reverter o pessimismo, criar oportunidades e efetivamente gerar emprego e riqueza. O petróleo está ajudando o Brasil a se levantar.
*José Serra é senador (PSDB-SP)