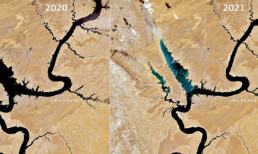joe biden
Dorrit Harazim: Planeta Terra
Em semana tão memorável para nosso planetinha, alvo, finalmente, de uma Cúpula do Clima com tonalidade de emergência global, vale relembrar quanto devemos à bióloga marinha e escritora americana Rachel Carson. Pioneira de uma escrita belíssima sobre a ciência e o mundo natural, Carson catalisou o movimento ambiental dos anos 1960 com a publicação do seu clássico “Primavera silenciosa”. O livro desarrumou para melhor as até então inexistentes políticas ambientais nos Estados Unidos e despertou a consciência ambiental moderna — começando pela cadeia de danos a todas as espécies causada por agrotóxicos. A obra serviu de referência para, entre outras medidas, a criação da Agência Federal de Proteção do Meio Ambiente (EPA, na sigla em inglês), a aprovação das leis de Ar Puro (1963), Áreas Selvagens (1964), Água Limpa (1972) e Espécies em Extinção (1973). Coisa grande, portanto. E, contra a maré dos preconceitos culturais do Pós-Guerra, então ainda prevalentes. “Por que uma mulher solteira, sem filhos, e comunista, está tão preocupada com a genética?”, indagava Ezra Taft Benson, que servira ao governo de Dwight Eisenhower por oito anos como secretário da Agricultura.
“O controle da natureza é um conceito concebido na arrogância, nascido na Era Neandertal da biologia e da filosofia, quando se supunha que a natureza existe para conveniência do ser humano”, escreveu a cientista do século 20. Na Cúpula on-line de 2021, as mesmas palavras foram repetidas em roupagens variadas e idiomas diversos. Apenas com um denominador comum novo — a urgência do tema. “É quase tarde demais, devemos começar já”, resumiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Para a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, sempre na dianteira do progresso de seu povo, o elenco de medidas obrigatórias e imediatas passa pela precificação do carbono, pelo fim dos subsídios a combustíveis fósseis, pelo financiamento da conversão rumo a uma economia limpa. Até o FMI se manifestou a favor da instituição de um preço mínimo internacional para o carbono, aplicável aos maiores predadores do ar que respiramos.
Como se sabe, a chanceler alemã Angela Merkel, PhD em Química Quântica, é pouco afeita a arroubos retóricos e ainda menos ao uso de adjetivos superlativos. Já por isso, prestou-se atenção dupla quando ela definiu como “trabalho hercúleo” o combate urgente ao aquecimento global. Nesta luta contra o tempo, é possível que estejamos em situação apenas ligeiramente melhor que os 53 tripulantes do submarino indonésio KRI Nanggala-402, desaparecido nas profundezas do Mar de Bali, sem contato com o mundo desde a quarta-feira. Como não foi resgatado até ontem, sua reserva de oxigênio se esgotou.
Estima-se que nosso planetinha já existe há uns 4,5 bilhões de anos e deverá existir por mais outros 7,5 bilhões até ser absorvido pelo Sol. Não é ele que corre perigo com a mutação climática, e sim a biosfera, aquilo que chamamos de “mundo” — a camada de organismos cósmicos que envolve o globo e engloba todas as formas de vida, a partir de uma profundidade de 9,5 km abaixo do nível do mar até uma altura 8 km acima da superfície terrestre. A revista impressa “Lapham’s Quarterly” dedicou sua edição de outono de 2019 ao tema, com preâmbulo de Lewis H. Lapham, fundador, editor e alma da publicação. Para ele, o aquecimento do planeta, que já atinge os sete continentes, quatro oceanos e 24 fusos horários, é produto da dinâmica capitalista movida a energia fóssil, que tem entupido o mundo com riquezas muito além da necessidade, da imaginação ou de qualquer senso de medida humanos. “Somos guiados pela crença de que o dinheiro é capaz de comprar nosso futuro. Só que a natureza não aceita cheques. Veremos mais adiante quem pagará a conta — se o capitalismo sobreviverá à mudança climática ou se um clima alterado afundará o capitalismo”, escreve ele.
Com 78 anos de idade, e com a pandemia da Covid-19 a convulsionar imensos nacos da população global, o presidente americano Joe Biden já teve tempo de sobra para pensar na posteridade. Escolheu as vésperas do seu 100º dia como líder do colosso econômico, militar e campeão em poluentes para oficializar o papel que escolheu para si: locomotiva de uma nova era ambiental. O robusto programa de investimento em infraestrutura apresentado por Biden no mês passado, que consumirá perto de US$ 2,3 trilhões, está todo voltado a uma economia de baixas emissões. Se conseguir a difícil aprovação no Senado, sinalizaria o início de uma grande revolução estrutural no país. Também as ambiciosas metas/promessas ambientais dos EUA, feitas pelo presidente ao abrir os trabalhos da Cúpula, indicam que, se concretizadas, cada milímetro da atividade econômica do país acabaria atrelado a um futuro mais limpo. “A hora é agora”, anunciou Biden ao mundo. Tomara.
Lewis Lapham, o do ensaio citado, sustenta que depositamos demasiada fé na tecnologia como salvação da raça humana. Transformamos o mercado consumidor num lobo universal que devora e destrói não por instinto neolítico ou ideologia — simplesmente por termos nos tornado máquinas e, como boas máquinas, não sabemos fazer outra coisa. Para salvar a raça humana, só mesmo o humano — nem acima nem à parte da natureza.
Esta semana a Nasa conseguiu o feito inédito de converter dióxido de carbono da atmosfera marciana em oxigênio puro. Foi pouquinho, porém extraordinário — segundo a agência, os cinco gramas de oxigênio produzidos no planeta vermelho equivalem a algo como 10 minutos de ar respirável por astronautas. Como então não conseguirmos nos salvar por aqui? Se falharmos agora, talvez só nos reste mesmo zarpar para Marte.
Jamil Chade: Cúpula do Clima revelou que o Brasil encolheu
Bolsonaro descobriu que, sob seu Governo, não foi apenas a floresta que diminuiu. A sociedade encolheu, a expectativa de vida caiu, a economia contraiu, a comida no prato foi reduzida, o emprego desapareceu e as possibilidades de cruzar as fronteiras foram limitadas
Em dezembro de 2005, o mundo se reunia em Hong Kong para uma conferência sobre o comércio. Ali, regras seriam negociadas para permitir a construção de um sistema internacional mais equilibrado e uma base mais favorável para o desenvolvimento das economias em desenvolvimento.
Os olhos do mundo estavam fixados numa aliança improvável de países emergentes, o G-20, que insistia que as placas tectônicas do planeta precisavam começar a se mover.
Nunca contei essa história. Mas descobri que os principais ministros do grupo se reuniriam antes da conferência dar início para costurar uma estratégia. A meta era frear eventuais gestos da Europa e EUA para tentar manter seus indecentes subsídios agrícolas.
Também descobri que a sala reservada para a reunião tinha paredes extremamente finas e pensei que, se ocupasse uma sala ao lado e permanecesse em absoluto silêncio, poderia ouvir o que aquela reunião traria. Funcionou.
Mas o que também me deparei foi com a constatação de que praticamente só um país falava, só um país dava as cartas: o Brasil. A liderança era incontestável.
Não era uma condição exclusiva daquele governo. De fato, a postura de liderança do Brasil em debates internacionais conta com dezenas de episódios, independente da tendência política do Governo ou da situação econômica do país. Nos anos 80, fragilizado, a diplomacia do país marcou posição nas negociações comerciais em Punta del Leste.
No início dos anos 90 e ainda com uma democracia frágil, coube ao Brasil liderar de forma histórica os trabalhos da Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena. Coube ao embaixador Gilberto Sabóia coordenar o comitê de redação da Declaração e Programa de Viena, uma primeira chancela internacional ao papel da democracia brasileira no mundo.
O país era protagonista da construção de um novo mundo que permitisse um espaço digno às economias emergentes. Chegou a ser visto como arrogante por parceiros menores e duramente criticado por apertar a mão de ditadores na busca por acordos.
Mas sempre considerado como líder, o Brasil buscava desenhar seu futuro. Nem sempre funcionou e, em certos momentos, a diplomacia nacional tentou exercer um papel que ia além da real dimensão do país no palco internacional. Mas nunca pecou por não se aventurar por esse caminho.
Nesta semana, porém, a Cúpula do Clima organizada para recolocar os EUA no centro do debate internacional, mostrou uma nova realidade: a de um Brasil encolhido, escanteado.
O presidente Jair Bolsonaro foi estrategicamente colocado para falar longe do momento em que os principais líderes davam seu recado. Deixado para o final da fila e com a palavra dada apenas depois que Argentina, Bangladesh, África do Sul ou Ilhas Marshall fizeram seus discursos, Bolsonaro descobriu que não lidera e não influencia parceiros.
Coincidência ou não, Bolsonaro discursou quando Joe Biden já tinha abandonado o evento.
Na cúpula, o brasileiro foi o símbolo de um presidente acuado, pressionado e sem a capacidade de dar as cartas, justamente no momento em que a comunidade internacional desenha o mundo pós-pandemia. Para se defender, mentiu. E o mundo não acreditou.
Ele terá de provar agora seu discurso. E não bastarão ações por parte de sua milícia digital e nem mesmo uma live. A comunidade internacional quer ver resultados concretos e redução real do desmatamento, mês à mês.
Enquanto tentava vender uma imagem de credibilidade para a comunidade internacional, o Planalto descobria que, pela sua gestão da pandemia, certas regiões do Brasil já contam com mais mortes que nascimentos, algo inédito na história do país.
A sociedade encolheu, a expectativa de vida caiu, a economia contraiu, a comida no prato foi reduzida, o emprego desapareceu e as possibilidades de cruzar as fronteiras foram limitadas.
Bolsonaro, na Cúpula do Clima, descobriu que, sob seu Governo, não foi apenas a floresta que diminuiu. O Brasil também encolheu.
Jamil Chade é correspondente na Europa desde 2000, mestre em relações internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra e autor do romance O Caminho de Abraão (Planeta) e outros cinco livros.
Marcus Pestana: O Brasil e as mudanças climáticas
O fato mais importante da semana foi a realização da Cúpula de Líderes sobre o Clima, reunindo quarenta chefes de governos, ato preparatório para a COP-26, a Conferência do Clima da ONU, que terá lugar em Glasgow, na Escócia, em novembro. Marca importante mudança de postura dos EUA, Joe Biden à frente, sobre as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável, após o turbulento Governo Trump e sua postura negacionista frente às mudanças climáticas e suas consequências, que culminou com a saída dos EUA do Acordo de Paris firmado em 2015.
Nos últimos trinta anos, a agenda do desenvolvimento sustentável ganhou papel central no planejamento e nas ações de governos, da sociedade e das empresas. A consciência ecológica ganhou corações e mentes a partir do esgotamento de um modelo de crescimento urbano-industrial baseado em energias vindas dos combustíveis fosseis (carvão mineral, petróleo, gás natural, xisto betuminoso) e na intensa poluição do ar, das águas e da terra.
Para o Brasil se abre uma enorme oportunidade, mas há também riscos e ameaças. Tudo dependerá das escolhas que fizermos. Até a pouco, nosso país era protagonista no jogo político e diplomático na arena de discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Não foi à toa que a Cúpula Mundial, a RIO-92, se deu em terras brasileiras. Temos uma das matrizes energéticas mais limpas do globo. Temos um dos melhores arcabouços legais na área ambiental. Temos um verdadeiro tesouro ecológico com uma das maiores biodiversidades do mundo e a maior floresta tropical do Planeta.
O atual governo, que chegou a namorar com o negacionismo ambiental de Trump, parece estar processando uma mudança de rota. Apresentou na Cúpula de Líderes a proposta de acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e antecipar em dez anos o compromisso de zerar as nossas emissões de gases poluentes. Na carta enviada à Biden, Bolsonaro falou em fortalecer os mecanismos de comando e controle, trabalhar na regularização fundiária, implementar o pagamento por serviços ambientais, trabalhar no zoneamento ecológico-econômico e promover a bioeconomia, transformando nossa fantástica biodiversidade em atividades geradoras de emprego e renda sustentáveis.
As palavras precisam agora encontrar consequências práticas. Não é “passando a boiada” tendo a pandemia como biombo ou nos alinhando com madeireiros e garimpeiros ilegais que chegaremos lá.
A transição para uma nova matriz energética não é nada fácil. Os países ricos dependem em 79% dos combustíveis fósseis. China, EUA, União Europeia, Índia e Rússia são responsáveis por 59% das emissões poluentes, o Brasil por 2,19%. As estratégias globais não podem passar por negar oportunidades aos países pobres e em desenvolvimento e nem pela taxação de importações que gerem barreiras comerciais. A parceria tem que ser pra valer, um jogo de ganha-ganha. E o Brasil pode ser um grande captador de investimentos ambientais se superar a armadilha ideológica do falso dilema entre soberania nacional e cooperação internacional.
Para quem quiser se aprofundar no diagnóstico e na agenda do desenvolvimento sustentável recomendo o artigo do ex-ministro do meio ambiente José Carlos Carvalho e da socióloga Aspásia Camargo, “Meio Ambiente e Sustentabilidade” (disponível em psdb.org.br/wp-content/uploads/2020/12/BRASIL-PÓS-PANDEMIA-FINAL.pdf).
*Marcus Pestana, ex-deputado federal (PSDB-MG)
El País: 2021 - Ano decisivo na luta climática
Uma pandemia que o relegou a um segundo plano, o retorno dos EUA como ator fundamental e as pressões por uma recuperação verde confluem em um momento histórico para o meio ambiente
Manuel Planelles, El País
Os alarmes não deixaram de soar apesar da pandemia. E António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), está ficando sem palavras duras para advertir para as consequências desta crise climática planetária. Nesta semana falou de um cenário “aterrador” ao referir-se ao último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM). Essa agência da ONU publica suas avaliações anuais há 28 anos e a conclusão é cristalina: as evidências e os impactos do aquecimento global estão se acumulando. Por exemplo, 2020 foi um dos três anos mais quentes já registrados, lembrou a OMM. Os outros foram 2016 e 2019.
Se a tendência continuar, 2021 será outro ano mais quente do que o normal. Como lembra Freja Vamborg, cientista do Serviço de Mudança Climática Copernicus, da União Europeia, os últimos seis anos foram os seis mais quentes desde o início dos registros confiáveis. Será quente, mas também deveria ser um ponto de inflexão na luta climática, como pedem as ONGs, a ONU e outras instituições internacionais e governos. “Verdadeiramente”, enfatizou Guterres na segunda-feira, “este é um ano crucial para o futuro da humanidade.” A pandemia fez com que duas importantes cúpulas sobre o meio ambiente fossem adiadas para este ano de 2021: a cúpula do clima que aconteceria em Glasgow (Reino Unido) e a reunião sobre biodiversidade de Kunming (China). Além disso, a pandemia tirou em grande medida a luta contra o aquecimento da agenda internacional. Mas o coronavírus não acabou com o problema. Como lembra a Organização Meteorológica Mundial, “a desaceleração da economia relacionada à pandemia não conseguiu deter os motores da mudança climática nem a aceleração de seus impactos”.https://datawrapper.dwcdn.net/MopwE/3/
Na cúpula do clima de Glasgow, em 2020, os países deveriam ter apresentado planos de redução das emissões de gases de efeito estufa mais rígidos do que os oferecidos até agora no Acordo de Paris. Mas, quando 2020 terminou, apenas 75 dos quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris o tinham feito. É por isso que se espera que 2021 seja determinante. Também pela volta à luta contra o aquecimento por parte dos Estados Unidos, cujo presidente organizou uma cúpula do clima que começa hoje, coincidindo com o Dia da Terra, com os 40 principais presidentes e chefes de Estado do mundo para oficializar sua volta. Nessa reunião apresentará suas metas de redução de emissões até 2030, ou seja, para a década que é considerada a mais importante nos esforços que o ser humano deve fazer para reverter o problema que gerou com suas emissões.
Aumento das emissões
Os registros oficiais de temperatura usados pela OMM e por outros organismos científicos remontam a 1850, no início da era industrial, quando começou a queima em larga escala de combustíveis fósseis para alimentar o desenvolvimento econômico. Quando esses combustíveis são queimados, produzem gases de efeito estufa que se acumulam em grande parte na atmosfera e superaquecem o planeta. O principal desses gases é o dióxido de carbono (CO₂) e durante a pandemia essas emissões caíram. Mas, como os especialistas alertaram desde o início, após a queda haverá um aumento porque o declínio aconteceu devido à desaceleração econômica e não a uma mudança estrutural que modificou a forma como o mundo alimenta seus automóveis ou gera sua eletricidade. A Agência Internacional de Energia prevê que as emissões de CO₂ relacionadas à energia crescerão cerca de 5% em 2021, o que seria o segundo maior crescimento registrado até agora. O anterior aconteceu em 2010, depois da grande crise financeira.
Cerca de metade do CO₂ emitido acaba se acumulando na atmosfera —o restante é absorvido pelos oceanos e pela vegetação terrestre. Essa acumulação atmosférica, a maior dos últimos 800.000 anos segundo a OMM, leva ao aumento das temperaturas e da intensidade e quantidade de fenômenos extremos como secas, inundações e fortes tempestades. “Os indicadores mundiais mostram que as temperaturas médias dos últimos cinco anos são as mais altas já registradas: 1,2º grau centígrado acima da média do período 1850-1900”, aponta um relatório que o serviço Copernicus, um programa de monitoramento dos efeitos do aquecimento da UE, apresenta nesta quinta-feira.
Esforços insuficientes
O Acordo de Paris estabeleceu que, para evitar os efeitos mais desastrosos da mudança climática, os países deveriam reduzir suas emissões de tal forma que a partir de 2050 estas teriam de desaparecer. O objetivo geral é que o aumento da temperatura, que já está em 1,2º grau, não ultrapasse os dois graus em relação aos níveis pré-industriais. E, na medida do possível, que não supere 1,5º grau.
O problema é que os planos de redução dos países atuais levarão a um aumento de mais de três graus. É por isso que os Estados devem aumentar suas metas de redução. Alguns já o fizeram, como a União Europeia, que passou de uma diminuição até 2030 de 40% para 55% —algo que será estabelecido numa lei do clima— em relação a 1990, e o Reino Unido, que prometeu reduzir 68% no final desta década. Esses objetivos estariam alinhados com o roteiro traçado pela ONU para cumprir o Acordo de Paris, que determina que os gases de efeito estufa globais sejam reduzidos em 45% em 2030 em relação a 2010. O problema é que a Europa, com ou sem o Reino Unido, tem cada vez menos peso nas emissões mundiais —não chega nem a 10%— embora seja um dos responsáveis históricos pelo aquecimento por ter sido pioneira na revolução industrial.
A volta dos Estados Unidos
O problema neste momento envolve principalmente dois atores: Estados Unidos e China, responsáveis por cerca de 40% das emissões mundiais. A China, o principal emissor global há mais de uma década, resiste há anos a ser equiparada aos países desenvolvidos em relação às obrigações de redução de emissões. Suas metas são muito menos severas do que as da UE: atingir o pico de emissões antes de 2030 e, a partir daí, reduzi-las. Mas, no final do ano passado, comprometeu-se a endurecer um pouco seus planos e prometeu alcançar a neutralidade de carbono (emitir tanto quanto retira da atmosfera) até 2060.
Os Estados Unidos são uma incógnita. Embora seu novo presidente, o democrata Joe Biden, tenha dado sinais claros de querer colocar a luta contra a mudança climática no centro de sua política, a verdade é que os Estados Unidos não têm sido um parceiro confiável nesta batalha internacional se observarmos seu histórico de desistências. Primeiramente, o pais se desvinculou do Protocolo de Kyoto no início do século. E, já com Donald Trump como presidente, ignorou o Acordo de Paris, pacto que foi assinado em 2015 e cujos instrumentos jurídicos tiveram de ser amplamente suavizados para que os EUA o ratificassem. Talvez por isso, quase todas as vezes que a China intervém em um fórum internacional sobre aquecimento insiste que cumpre o que assina e o que se compromete.
Coincidindo com o Dia da Terra, Biden convocou para esta quinta e sexta-feira uma reunião com 40 presidentes e primeiros-ministros de todo o mundo. Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, em que não compareceram dirigentes que não demonstraram compromisso contra a mudança climática, os Estados Unidos decidiram convidar líderes controvertidos como o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.
Nessa cúpula o presidente norte-americano deve apresentar sua meta de redução de emissões para 2030, que rondaria os 50% em relação aos níveis de 2005 —ano em que os EUA atingiram seu pico de emissões—, segundo informação vazada até agora aos grandes veículos de comunicação norte-americanos. Isso significaria dobrar a meta estabelecida por Obama antes de assinar o Acordo de Paris. E envolverá um grande processo de descarbonização (abandono do uso de derivados de petróleo, carvão e gás) da economia norte-americana com atenção especial ao setor elétrico e, principalmente, aos transportes. Jennifer Morgan, diretora executiva do Greenpeace International, esclarece: “Para ser considerado um líder climático, Biden precisa eliminar gradualmente os combustíveis fósseis em seu país e no exterior.” Isso significa acabar com os subsídios ao poderoso setor de combustíveis fósseis. A outra questão em que se espera o retorno dos Estados Unidos é em relação ao financiamento climático: os recursos que os países desenvolvidos aportam para que os menos ricos façam frente aos efeitos do aquecimento. Até a chegada de Trump, os EUA eram o principal doador internacional.
Recuperação ainda pouco verde
A pandemia tirou a mudança climática do foco principal e levou ao adiamento das cúpulas da ONU; no entanto, os planos bilionários de recuperação dos países podem significar uma aceleração da descarbonização da economia mundial, como vários organismos internacionais vêm insistindo há meses.
No momento, o balanço é bastante discreto. A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) monitora as ajudas e estímulos que estão sendo lançados pelos governos dos 43 países membros desse organismo, entre eles EUA, China e União Europeia. A conclusão é que 336 bilhões de dólares (aproximadamente 1,87 trilhão de reais) destes fundos covid-19 têm um claro impacto ambiental positivo. Representam 17% do gasto total na recuperação até agora. O problema é que uma quantia semelhante de recurso foi gasta em atividades que têm um impacto ambiental negativo ou misto, na melhor das hipóteses. Os dois terços restantes do auxílio à recuperação ainda não foram classificados pela OCDE. Do seu desenvolvimento e dos recursos públicos que virão dependerá em grande parte que este 2021 realmente se torne um ano crucial na luta contra a crise climática.
Monica de Bolle: Sociedades que se movem
O novo na condenação de Derek Chauvin pelo homicídio de George Floyd se apresenta pela imaginação, pelo desejo e, sobretudo, pela forma de realização da justiça
Há sociedades que se movem em direção ao novo, há sociedades que parecem não sair do lugar, e há aquelas que se movem em direção ao passado. Sim, imaginação. A abertura para o novo e para as mudanças que ele pode trazer exigem imaginação. Um dia se imaginou que o homem chegaria à lua. Ao longo da pandemia, o esforço de combatê-la e de pensar no que sobreviria exigiu imaginação. Aqui nos Estados Unidos o trabalho da imaginação esteve presente ao longo da campanha de Joe Biden, em sua vitória, durante o turbulento período de transição, e continua presente quatro meses depois do início de seu governo.
Imaginou-se que o país seria capaz de imunizar rapidamente a população em alguns meses utilizando as vacinas mais sofisticadas do mundo. Estamos a um par de meses de conseguir fazê-lo. Imaginou-se que o debate sobre clima e meio ambiente se tornaria central na reorganização das políticas públicas. O Plano Biden está aí para mostrar que também isso foi possível, a despeito do que venha a ocorrer durante as discussões no Congresso. Imaginou-se que a retomada econômica viria com a criação de empregos e com o apoio aos mais vulneráveis. Novamente, o pacote aprovado no início de 2021 tem como princípio norteador a ajuda aos mais pobres. Imaginou-se que seria possível começar a enfrentar o racismo e a violência policial contra os negros. No dia 20 de abril, o policial que ajoelhou sobre o pescoço de George Floyd a ponto de esmagá-lo e asfixiá-lo foi condenado por seus crimes. Não é mais do que um início, como muitos têm enfatizado. Mas, para quem vive aqui nos Estados Unidos e é testemunha do que se passa a toda hora com a comunidade negra, a esperança é palpável. Para quem viveu os anos Trump, mais ainda.
O novo na condenação de Derek Chauvin pelo homicídio de George Floyd se apresenta pela imaginação, pelo desejo e, sobretudo, pela forma de realização da justiça. Nesse caso em especial, a justiça se realizou como fruto das interações de instituições e sociedade, em particular, da ação social como forma de atualizar o caráter republicano das instituições. Sabemos que o tempo das instituições é demorado e que a questão do racismo nos Estados Unidos é, como no Brasil, estrutural, portanto de longa duração. Mas essa arquitetura estruturante das relações que é o racismo foi desafiada, no caso do homicídio de George Floyd, pelo tempo célere das novas tecnologias comunicacionais, as quais parecem naturalmente incorporadas à vida dos mais jovens. O assassinato foi gravado por uma menina que empunhava um telefone celular e que, durante os nove minutos de agonia, captou cada instante da vida que escapava de Floyd por força do joelho do policial. O policial, em determinado momento, parece sorrir para a câmara enquanto praticava o mortífero ato.
O vídeo de nove minutos que registrou o homicídio rodou o mundo e despertou reações de solidariedade. Essa circulação ampla tornou George Floyd um ícone global da violência policial contra os negros em particular, mas também contra outras raças. A solidariedade que sobreveio de ser testemunha da agonia da vítima, de seu sofrimento intenso, de sua declaração “não consigo respirar” durante uma pandemia em que tantos se viram asfixiados, dos momentos finais em que chamou sua mãe, transcendeu as fronteiras dos Estados Unidos. Testemunhamos ações de protesto em todo o mundo e elas também perduraram nos Estados Unidos. Tudo isso torna possível dar passos além da imaginação rumo ao aperfeiçoamento do caráter republicano das instituições. O júri que condenou Derek Chauvin era composto de seis pessoas brancas. Seis pessoas brancas que não titubearam em declará-lo culpado pelos três crimes que lhe foram imputados.
O novo que vem pela realização da justiça e pela atualização das instituições a partir da ação social movida pela imaginação e pelo sentimento é particularmente interessante.
Ele suscita muitas reflexões sobre como os caminhos para o novo podem ser percorridos no Brasil. O que não falta em nosso país são injustiças e mobilizações para demandar a implementação de direitos. O que parece nos faltar é a imaginação e a crença de que a ação social é, sim, capaz de moldar instituições, ainda que elas se mostrem engessadas e cada vez menos preocupadas com o bem-estar da população.
A movimentação por um país que enxerga na justiça o caminho para o que é novo começa agora. Que entregue bons frutos em 2022.
*Monica de Bolle é Pesquisadora Sênior do Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade Johns Hopkins
Vera Magalhães: Campeonato do fim do mundo
“Nesse campeonato do fim do mundo, quando você é muito bem-sucedido, você acrescenta meio grau na temperatura do planeta”, disse, de forma contundente, o escritor e líder indígena Aílton Krenak na última segunda-feira no centro do Roda Viva.
Para ele, é este campeonato que o Brasil, tendo Jair Bolsonaro e Ricardo Salles como técnico e auxiliar, resolveu jogar. E é na condição de líder da tabela desse torneio macabro que o país chega à Cúpula de Líderes pelo Clima, proposta por Joe Biden, que será anfitrião virtual de 40 chefes de Estado a partir desta quinta-feira para marcar a volta dos Estados Unidos à mesa das negociações climáticas, depois de quatro anos de abandono desta agenda por Donald Trump.
Todos os olhos do mundo antes da reunião estão postos sobre o Brasil. Os sucessivos recordes de desmatamento da Amazônia, as queimadas na floresta e também no Pantanal, o desmonte da estrutura de fiscalização ambiental e a reiterada disposição de Bolsonaro de liberar a exploração mineral e de madeira em reservas indígenas, rever demarcações e legalizar terras ocupadas ilegalmente na região amazônica são apenas alguns dos "feitos" pelos quais o presidente brasileiro deverá ser questionado por seus pares.
Embora mantenham a absoluta falta de compreensão a respeito da importância econômica central da agenda climática e ambiental em qualquer fórum global hoje, Bolsonaro e seus auxiliares terão mais uma mostra de sua inadequação para esse debate, pois as cobranças para que se endureça com eles vêm não apenas dos adversários de sempre, como lideranças ambientalistas como Krenak ou a jovem Greta Thunberg, ou artistas como Leonardo di Caprio ou Wagner Moura, mas dos empresários.
Escrevi a esse respeito aqui na coluna na semana passada, e retomo o fio desta meada: Salles só será ameaçado no cargo quando Bolsonaro sentir na pele o risco de mantê-lo, ainda que ele sempre tenha feito exatamente o que o chefe mandou.
Grandes empresas brasileiras sabem o quanto de prejuízo reputacional e de negócios enfrentarão quando se tornar um imperativo para vendas a certificação ambiental de produtos, algo cada vez mais comum. Vale sobretudo para o poderoso agronegócio, até aqui ainda um reduto de apoio ao bolsonarismo, mas que não rasga dinheiro.
A pressão mundial é para que Biden endureça o jogo com o Brasil, não aceitando fazer nenhum acordo com o governo do capitão a não ser que o país reveja sua doutrina ambiental e se comprometa com metas objetivas e mensuráveis de redução de desmatamento e de emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa.
Bolsonaro ficará ainda mais exposto pelo fato de que os anfitriões querem marcar sua “volta ao jogo” com a assunção de metas ousadas e o anúncio de investimento pesado em conter o aquecimento global, para além da mera retórica.
Sabemos como o presidente brasileiro costuma se comportar em eventos mundiais como a Assembleia Geral da ONU ou o Fórum Econômico Mundial de Davos: como um peixe fora d’água, alguém que sabe que não tem o que dizer para além das quatro linhas das redes sociais e do cercadinho do Alvorada, onde fica seguro na companhia dos seus seguidores fanáticos.
Sem o “amigo" Donald Trump a chancelar o desdém e o discurso negacionista em relação ao Meio Ambiente, Bolsonaro ficará completamente isolado na cúpula. O discurso proferido nesta terça-feira pelo ministro da Defesa, Braga Netto, na linha “a Amazônia é nossa”, mostra que o nacionalismo mofado é a tônica em todas as áreas do Executivo, não só na pasta de Salles.
Parece ingênua, portanto, qualquer esperança de que o Brasil vá ao encontro munido de novos propósitos para deixar a liderança da peleja do fim do mundo. Só fará isso se levar um cartão vermelho de Biden.
Rubens Barbosa: O Brasil e a diplomacia epistolar
Cartas não definirão a política externa dos EUA com o Brasil; mas terão influência quando as negociações bilaterais começarem
Nos últimos dois anos, a ausência de uma política externa atuante que acompanhasse as mudanças que estão acontecendo no mundo deixou um vazio que rapidamente foi ocupado por agentes subnacionais, como governadores, pelo Congresso, presidentes das duas Casas e presidentes da Comissão de Relações Exteriores e pela sociedade civil.
Nunca antes na história deste país verificou-se quase semanalmente troca de correspondência de brasileiros e americanos (Congressistas, ex-ministros e sociedade civil) com Joe Biden e com autoridades de seu governo e do Congresso, em Washington, tendo como foco a política ambiental brasileira, e tratando de temas de interesse da relação bilateral.
Além da correspondência entre os presidentes Bolsonaro e Biden, a maioria das cartas, críticas às política ambientais e de direitos humanos na Amazônia, pediu para o governo americano não levar adiante a cooperação em todas as áreas, inclusive de Defesa (Base de Alcântara), com o Brasil, enquanto o governo brasileiro não mudar a narrativa e as medidas internas que estão permitindo o aumento dos ilícitos na Amazônia pelo desmatamento, pelas queimadas, pelo garimpo e pelo tratamento dispensado às comunidades indígenas.
Nos últimos dias, com a aproximação da cúpula do clima, multiplicaram-se as manifestações de artistas, personalidades nacionais e estrangeiras, mostrando o grau de interesse fora do Brasil sobre o futuro da Amazônia.
Na área oficial, Bolsonaro escreveu uma carta a Biden antecipando sua fala no dia 22 com algum avanço na narrativa seguida até aqui, mas com a referência ao apoio financeiro em troca de promessa de redução de desmatamento em 2030. John Kerry reconheceu a mudança de tom do governo brasileiro, mas cobrou resultado de curto prazo, dando oportunidade para o embaixador dos EUA, em conversa em grupo fechado, pedir resultados concretos e verificáveis.
As cartas não definirão a política externa dos EUA em relação ao Brasil, pois há muitos outros interesses econômicos, políticos e comerciais em jogo. Certamente, contudo, elas terão influência quando as negociações bilaterais começarem efetivamente, já que até aqui o que ocorreu foram diálogos em nível técnico, evitando qualquer confrontação direta.
A inusitada troca de missivas entre a sociedade civil brasileira e personalidades internacionais sobre a Amazônia mostra a urgência de o Brasil voltar a ter uma política externa com foco no meio ambiente e na mudança de clima, como ocorreu até fins de 2018. A apresentação de Bolsonaro amanhã talvez seja a última oportunidade para o Brasil voltar a apresentar-se como protagonista na discussão global sobre mudança de clima e para indicar uma mudança séria e profunda de rumo na política ambiental.
*Foi Embaixador do Brasil nos EUA e atualmente é presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (IRICE)
Folha de S. Paulo: EUA veem onda de ofensivas para restringir acesso ao voto em estados republicanos
Diversos estados americanos debatem mudanças que podem tornar pleitos menos democráticos
Marina Dias, Folha de S. Paulo
O comparecimento recorde às urnas na disputa que levou Joe Biden à Casa Branca ainda reverbera e tem gerado uma reação histórica contra o sistema eleitoral americano. Sob o pretexto de responder às falsas alegações de que houve fraude na eleição de 2020, diversos estados estão aprovando leis que restringem o voto e podem tornar os pleitos cada vez menos democráticos nos EUA.
Desde a derrota de Donald Trump, em novembro do ano passado, legisladores republicanos protocolaram centenas de projetos de lei para fazer do ato de votar mais difícil para pessoas negras e vulneráveis, em uma investida vista por especialistas como a mais perigosa desde as chamadas leis Jim Crow, que legalizaram a segregação racial no final do século 19.
Levantamento do Brennan Center for Justice, da Universidade de Nova York, mostra que, de novembro até 24 de março, 361 projetos de leis com restrições ao voto haviam sido apresentados em 47 dos 50 estados americanos. Em 19 de fevereiro, o número era 253, ou seja, um aumento de 43% nas ações em pouco mais de um mês.
A maioria desses projetos visa restringir o voto por correio, prática comum nos EUA e cuja utilização bateu recorde nas eleições do ano passado devido à pandemia —e um dos fatores para a vitória de Biden.
No fim do mês passado, a aprovação de um pacote eleitoral bastante restritivo na Geórgia alarmou especialistas, que detectaram uma espécie de efeito cascata sobre estados geralmente definidores da corrida à Casa Branca, como Texas, Arizona, Flórida e Michigan. Todos eles também avaliam aprovar novas normas eleitorais.
Com 10,6 milhões de habitantes, 32,6% dos quais negros, a Geórgia não votava em um democrata para a Presidência há 28 anos, mas em 2020 deu vitória dupla aos opositores de Trump: elegeu Biden e a cadeira que deu maioria aos democratas no Senado.https://s.dynad.net/stack/928W5r5IndTfocT3VdUV-AB8UVlc0JbnGWyFZsei5gU.html[ x ]
Os resultados mexeram com o humor dos aliados de Trump, que agiram rapidamente. Entre as medidas aprovadas pela Assembleia Legislativa do estado, de maioria republicana, está a exigência de um documento com foto para quem votar por correio, além da redução do tempo e do número de locais de votação onde essas cédulas podem ser depositadas. Houve até mesmo a criminalização do ato de distribuir comida ou bebida para quem estiver nas filas de votação.
Especialista em estatística para políticas públicas da Universidade de Michigan, Jonathan Hanson concorda que essa é a maior onda contra o sistema eleitoral que os EUA já viram desde as leis segregacionistas e que os pleitos têm ficado cada vez menos democráticos em estados republicanos.
“O impacto da aprovação dessas leis será a redução da participação eleitoral”, explica o professor. “A maioria delas é desenhada para tornar o voto mais difícil aos eleitores democratas, que tendem a ser de renda mais baixa, com empregos que não permitem, muitas vezes, dispensa para comparecer às urnas [eleições nos EUA acontecem em dia útil], e são menos propensos a ter documentos com foto.”
Nos EUA, o voto não é obrigatório, e o eleitor pode escolher seu candidato de três maneiras: a mais tradicional é ir à urna no dia da eleição, mas é possível também votar pessoalmente de forma antecipada ou depositar o voto por correio.
A democrata Stacey Abrams, que deve concorrer ao governo da Geórgia em 2022, condena as novas legislações. Ela foi um personagem-chave para estimular o comparecimento de jovens e negros às urnas no ano passado.
“Esses projetos de lei estão sendo promulgados em todo o país com o objetivo de bloquear eleitores que estão se tornando inconvenientes para o Partido Republicano: minorias, jovens e pobres”, afirmou em entrevista ao Atlanta Journal-Constitution.
Ainda de acordo com dados do Brennan Center for Justice, das centenas de projetos protocolados com restrições ao voto, cinco foram aprovados —um deles o da Geórgia— e outros 55 estão caminhando rapidamente em 24 estados diferentes —29 deles já foram aprovados ao menos pela Câmara estadual e outros 26 passaram por comissões.
Os estados com maior número de projetos de lei desse tipo apresentados foram Texas (29), Geórgia (25) e Arizona (23), todos de tradição republicana mas que têm caminhado à centro-esquerda, com mudanças demográficas que refletem na tendência política de suas populações.
A avaliação de que o acesso ao voto tem ficado cada vez mais difícil em algumas regiões do país é cristalizada em um estudo da Universidade de Washington, liderado pelo cientista político Jake Grumbach. Ele mostra que essas leis restritivas seguem um padrão mais amplo e têm tornado as eleições menos democráticas nas duas últimas décadas, quase que exclusivamente em estados controlados por republicanos.
Grumbach desenvolveu o que nomeou de índice de democracia estadual, para medir a saúde das instituições democráticas em todos os 50 estados americanos entre 2000 e 2018, com base em direitos de voto e liberdades civis. Em um intervalo de -1 a 1, no qual 1 é mais democrático e -1 é menos democrático, estados comandados por republicanos têm ficado cada vez mais próximos do -1, enquanto aqueles controlados por democratas estão perto do 0,5.
Algumas regiões democratas têm investido em leis que ampliem o direito ao voto, mas ainda são minoria, já que cerca de 30 dos 50 estados americanos têm ao menos a assembleia legislativa controlada
por correligionários de Trump.
Não é de hoje que os republicanos tentam dificultar o voto de eleitores negros, mais pobres e mais vulneráveis, mas a batalha deste ano chamou a atenção pelo volume de esforços às vésperas das disputas de meio de mandato, em 2022, e pela tentativa de interferência direta de Biden. O presidente chamou a lei aprovada na Geórgia de “anti-americana” e pediu ao Departamento de Justiça avaliar as mudanças.
O professor Hanson, porém, alerta que Biden não pode fazer muita coisa sozinho —os estados têm autonomia para controlar seus processos eleitorais nos EUA— e diz que, em última instância, somente a Suprema Corte poderia barrar ações caso haja violações à Constituição americana.
“A Justiça pode impedir que pessoas negras sejam proibidas de votar, por exemplo, porque isso é uma violação do direito ao voto. Mas há ainda áreas cinzentas, como sobre o prazo para voto antecipado, em que o estado pode argumentar que é sua atribuição. O sistema eleitoral americano é tão complicado que, na verdade, cabe um pouco de tudo.”
Parte dos republicanos —que compõe a ala mais fiel a Trump— diz que as novas regras vão deixar as eleições mais seguras e acessíveis, mas os quadros mais moderados do partido temem o custo político da investida.
Em vez de tentar conquistar os grupos que votaram em peso em Biden, avaliam, o partido está tentando afastá-los do processo democrático em nome de teorias conspiratórias patrocinadas pelo presidente mais controverso da história americana.
Demétrio Magnoli: Retirada americana do Afeganistão é tão inevitável quanto a do Vietnã
O dia da queda de Cabul marcará um bárbaro retrocesso
No 11 de setembro, exatos 20 anos depois dos atentados jihadistas de 2001, as forças americanas e da Otan deixarão o Afeganistão, encerrando a mais longa guerra da história dos EUA. Quase meio século atrás, em janeiro de 1973, os Acordos de Paris colocaram ponto final no envolvimento militar dos EUA no Vietnã. No 30 de abril de 1975, as forças do Vietnã do Norte capturaram Saigon, capital do Vietnã do Sul. De quanto tempo, depois de setembro, precisará o Taleban para tomar Cabul?
O Afeganistão, cemitério de potências, foi o palco principal do Grande Jogo, a disputa política, diplomática e militar travada entre os impérios britânico e russo, desde 1830 até 1895, pelo controle sobre a Ásia Central. No país montanhoso, dominado pela cordilheira do Hindu Kush, sem saídas marítimas, a URSS travou sua última guerra, de 1979 a 1989, o conflito que empurrou o Império Vermelho ao precipício. O Taleban e a Al Qaeda nasceram das ruínas daquela guerra.
Obama definiu a intervenção americana no Afeganistão como a “guerra inevitável”, por oposição à “guerra estúpida” no Iraque. O 11 de setembro de 2001 não deixava alternativa senão a derrubada do regime do Taleban e a eliminação das forças da Al Qaeda abrigadas no país.
Mas George W. Bush e, especialmente, o cortejo de neoconservadores que comandaram sua política externa, queriam mais. A ambição geopolítica de hegemonia sobre o “coração da Ásia” inspirou a estratégia de “construção da nação” —e, por consequência, uma prolongada ocupação do Afeganistão. A “guerra inevitável” converteu-se numa segunda “guerra estúpida”.
Nos EUA, desde Woodrow Wilson, a realpolitik deve ser coberta pela túnica dos valores e ideais. Prometeu-se aos afegãos democracia, liberdades públicas, a igualdade das mulheres. A Constituição de 2004 garante, ao menos em palavras, os direitos básicos de cidadania. Ironicamente, sob esse ponto de vista, a presença militar americana separa os afegãos do fundamentalismo religioso tirânico. O dia da queda de Cabul marcará um bárbaro retrocesso.
A retirada do Afeganistão é tão inevitável quanto a do Vietnã —e por razões similares. Os americanos cansaram das guerras sem fim e, para eles, sem sentido. Os Acordos de Paris de 1973 foram negociados por todas as partes, inclusive o Vietnã do Sul, e previam um cessar-fogo. Dessa vez, os EUA correram rumo à porta de saída. Trump firmou com o Taleban um acordo de paz bilateral, que excluiu o governo afegão e só previne ataques contra as forças ocidentais. Biden adotou-o quase por inteiro, apenas postergando em quatro meses a retirada.
“Nós ganhamos a guerra e os americanos perderam”, declarou Haji Hekmat, um alto comandante do Taleban, enquanto Biden anunciava a data fatal. O Exército afegão, composto por 175 mil tropas e 150 mil paramilitares, é um tigre de papel. Sem o apoio aéreo fornecido pelos EUA, ninguém acredita que sobreviverá ao choque direto com o Taleban. Vietnã, outra vez.
2021 não é 2001. A Al Qaeda só existe como fiapos, e o Talebã dificilmente voltará a abrigar jihadistas dispostos a atacar os EUA. A retirada justifica-se, à luz da segurança nacional americana. Mas, ao contrário do Vietnã, é um ato de traição.
Na hora da queda de Saigon, em operação frenética, os EUA evacuaram mais de 7.000 pessoas, inclusive milhares de políticos e funcionários sul-vietnamitas. Nos anos seguintes, centenas de milhares embarcaram em frágeis botes para tentar a travessia do golfo da Tailândia e do mar do Sul da China. Mesmo assim, o êxodo abrangeu um setor minoritário associado, direta ou indiretamente, ao antigo regime.
Não haverá helicópteros americanos no dia da queda de Cabul. O povo afegão será deixado para trás, nas mãos dos fanáticos do Taleban e sua polícia religiosa. As mulheres serão trancafiadas em casa e não haverá escola para as meninas.
*Sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
Rubens Ricupero: ‘Uma chance de ouro para o Brasil, mas sem chantagem’
Paula Bonelli, O Estado de S. Paulo
Com a experiência de seus 36 anos no Itamaraty e outros 9 na ONU, o embaixador Rubens Ricupero vê, na reunião da Cúpula dos Líderes sobre o Clima, uma chance de alterar a imagem negativa do País, criada pelo impacto do desmatamento ilegal na Amazônia e de queimadas no Pantanal.
A seu ver, “se o presidente tivesse o mínimo de bom senso, seria uma oportunidade de ouro para o País melhorar suas contribuições ao combate do aquecimento global. Mas ele adverte que isso “é difícil”. O Brasil “tem que dizer que precisa de dinheiro mas não colocando como uma chantagem”. Assim, poderia receber em troca a boa vontade dos Estados Unidos em relação à doação de vacinas excedentes ao Brasil contra covid-19, acredita Ricupero. O presidente Jair Bolsonaro está entre os 40 chefes de Estado convidados para o evento virtual nos dias 22 e 23.
Ricupero inaugura em maio curso da história da Diplomacia Brasileira no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) sobre a política externa brasileira do Império até os dias de hoje. “Se o Ernesto Araújo fosse chanceler ainda, eu não teria ânimo para falar de uma tradição que foi degradada. Ele deixou uma terra arrasada, agora precisa plantar, adubar, regar, fazer um esforço de reconstrução”, diz o ex-ministro da Fazenda.
Qual o balanço, a seu ver, da gestão de Ernesto Araújo?
É completamente negativo. No caso da pandemia da covid-19, ao invés de reconhecer que é um grande problema e colaborar com a Organização Mundial de Saúde, sua atitude desde o início foi de negá-la. Eles só entraram no consórcio Covax Facility porque a nossa embaixadora lá em Genebra os convenceu; mas, no final, o Brasil ficou com a cota menor.
Carlos Alberto França, o novo ministro das Relações Exteriores, pode mudar essa trajetória?
Se depender dele e da máquina do Itamaraty, sim. Mas se depender do presidente, do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, aí eu duvido. O primeiro teste do França é na reunião de cúpula do clima quando Biden pedirá que cada país melhore a proposta que tinha feito no Acordo de Paris, de 2015. Se o presidente tivesse o mínimo de bom senso, seria uma chance de ouro para o País melhorar suas contribuições no combate ao aquecimento global. E isso explicando que é difícil, que precisa de dinheiro, mas não colocando como uma chantagem. Agora, se o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles não fizer isso, o França não pode fazer porque não é a pasta dele. A cúpula do clima terá países que têm maior responsabilidade nas emissões. O Brasil é o sexto maior gerador de gases do efeito estufa. Com uma característica, os gases vêm do desmatamento e do uso da terra, da pecuária extensiva. Nos outros países eles se devem ao carvão para gerar energia.
Como vê os sinais iniciais do ministro França?
Ele provou que é capaz de fazer coisas boas porque tanto nos discursos de posse como na mensagem que enviou aos funcionários toca em todas as teclas corretas e não fala naquilo que não deve falar.
ONGs dizem que há negociação secreta do Brasil com o governo Biden, sobre temas ambientais.
A falta de transparência do que está se discutindo preocupa. Agora, o que preocupa mais é a falta de credibilidade do interlocutor do nosso lado, Ricardo Salles. O Fundo Amazônia tem, parados no BNDES, quase R$ 3 bilhões – por causa de um problema criado por ele, que discordou da governança do fundo. As doações vêm da Noruega principalmente e da Alemanha.
Bolsonaro enviou carta a Biden prometendo zerar o desmatamento ilegal até 2030.
A carta de Bolsonaro diz tudo o que Biden gostaria de ouvir, só que é o contrário do que o governo crê e pratica.
Biden esquecerá da demora de Bolsonaro em cumprimentá-lo quando venceu a eleição?
Eles são realistas. Sabem que terão que lidar com Bolsonaro e com seu governo até o final de 2022. Eu não acredito que os americanos vão adotar qualquer ação negativa mas também não vão fazer esforço para ajudar. O Brasil tem apelado por vacinas e os EUA adotado atitude evasiva. Eles já doaram vacinas ao México e ao Canadá mas ao Brasil não.
Gil Alessi: Governadores preparam carta a Biden para driblar protagonismo negativo de Bolsonaro
Com presidente e seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, alvo de críticas pelo aumento do desmatamento no país, chefes dos executivos estaduais querem acesso aos recursos dos EUA
Em meio à lentidão do processo de imunização contra a covid-19 no Brasil, e com o pedido feito por ONGs para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não negocie “a portas fechadas” questões ambientais com Jair Bolsonaro, governadores brasileiros lançarão nos próximos dias iniciativas nestas duas frentes em busca de protagonismo —e de resultados concretos. Chefes de 23 Executivos estaduais formaram um bloco chamado “Coalizão Governadores Pelo Clima”, que assina uma carta endereçada ao mandatário americano.
O documento será entregue ainda este mês ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Na mensagem de três páginas eles divergem de Bolsonaro ao defender o Acordo de Paris —que o presidente já falou em abandonar— e “o cumprimento do Código Florestal para a conservação das florestas e da vegetação nativa” —outro contraste com o Planalto, cujo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defende a flexibilização das leis para “passar a boiada”.
A carta é assinada por governadores de oposição a Bolsonaro, como João Doria (SP), Flávio Dino (MA) e Fátima Bezerra (RN), mas também por simpatizantes do presidente, como Romeu Zema (MG) e Cláudio Castro (RJ). Na mensagem eles se dizem preocupados com a situação e “conscientes da emergência climática global”. Também se colocam como atores capazes de contribuir com a solução caso tenham acesso aos recursos necessários, preenchendo um certo vácuo diplomático deixado pelo Governo Federal. “Nossos Estados possuem fundos e mecanismos criados especialmente para responder à emergência climática, disponíveis para aplicação segura e transparente de recursos internacionais, garantindo resultados rápidos e verificáveis”, diz o texto.
A articulação acontece às vésperas da Cúpula dos Líderes sobre o Clima, que será realizada de forma virtual em 22 e 23 de abril e para qual o Governo Joe Biden convidou Bolsonaro. Durante a campanha eleitoral em 2020 Biden chegou a dizer que poderia aplicar sanções contra o Brasil caso o país não controlasse o desmatamento. Depois de eleito, o tom de ameaça foi suavizado apesar dos recordes de devastação da floresta, e o enviado especial do Clima da Casa Branca, John Kerry, chegou a realizar uma videoconferência com o ministro Ricardo Salles e o então chanceler Ernesto Araújo para tratar do tema.
Todo o interesse não é em vão. A proteção dos biomas brasileiros é um negócio que movimenta bilhões de dólares. Desde o início do Governo Bolsonaro diversos fundos europeus ameaçaram suspender repasses destinados à preservação da floresta até que o Brasil mostrasse comprometimento com a redução do desmatamento e das queimadas na Amazônia e também em outros biomas. Noruega e Alemanha, por exemplo, bloquearam no final de 2019 o envio de recursos para o Fundo Amazônia, um dos principais do setor. Até o acordo comercial entre União Europeia e o Mercosul, assinado em junho de 2019, tem sua implementação arrastada à medida em que países como França e Áustria resistem a que ele saia do papel alegando preocupações ambientais.
O anúncio do contato dos governadores com Biden também ocorre uma semana após um grupo com mais de 200 ONGs ligadas a questões ambientais ter enviado ao presidente americano uma carta na qual criticam eventuais negociações “a portas fechadas” feitas entre os dois mandatários sobre a Amazônia sem a inclusão da sociedade civil. “Não é razoável esperar que as soluções para a Amazônia e seus povos venham de negociações feitas a portas fechadas com seu pior inimigo [Bolsonaro]”, afirmam em um trecho da mensagem, que também defende a participação dos Estados e comunidades locais nas tratativas. “Bolsonaro (...) compromete os Acordos de Paris ao retroceder na ambição da meta climática brasileira. Negacionista da pandemia, transformou seu país num berçário de variantes do coronavírus, condenando à morte parte da própria população”, conclui o texto.
Novos focos de atrito entre governadores e Planalto
A iniciativa dos governadores de contactar diretamente Biden tem potencial para provocar ainda mais atrito entre eles e o presidente. Ambas as partes já vivem uma relação bastante conturbada, erodida desde o início da pandemia quando Bolsonaro passou a atacar os executivos estaduais por tentarem controlar a crise sanitária com isolamento e restrições. Posteriormente, acusou os governadores de fazerem uso político da covid-19 e desviar recursos do Governo Federal destinados à Saúde.
Indagado sobre a possibilidade de conflitos com o Planalto, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), um dos signatários da carta, é taxativo: “Não estamos defendendo uma posição política individualista, e sim a posição do Brasil. Ela não foi alterada, apesar de verbalização [de Bolsonaro] no sentido diferente, as regras continuam as mesmas, não houve alteração da Constituição ou no Legislativo e Judiciário com relação à necessidade de proteger o Meio Ambiente”. Segundo ele, a ideia é que “Biden atente ao fato de que a posição no Brasil precisa ser uma posição que envolva os três poderes, e não apenas um”.
A carta dos Governadores pelo Clima não é a única iniciativa destes políticos que pode afrontar Bolsonaro. Nesta sexta-feira integrantes do Fórum Nacional de Governadores irá realizar por videoconferência uma reunião com a secretária-geral adjunta da Organização das Nações Unidas, Amina Mohammed. Na pauta, o pedido por “ajuda humanitária ao Brasil” em função da situação de descontrole da pandemia do novo coronavírus no país. “Queremos a sensibilização da ONU para que a Organização Mundial da Saúde agilize a entrega de vacinas para o Brasil”, afirmou Dias, referindo-se às doses do consórcio capitaneado pela entidade.
O protagonismo dos governadores na pandemia é uma questão crucial para Bolsonaro. Até o momento o Planalto ficou a reboque de iniciativas estaduais quando o assunto é imunização: boa parte das doses aplicadas nos mais de 23 milhões e brasileiros até esta terça-feira foi produzida no Instituto Butantan, em uma iniciativa do Governo paulista. Desde fevereiro outros governadores já iniciaram tratativas com laboratórios estrangeiros em busca de mais vacinas —algumas ainda sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como é o caso do imunizante russo Sputnik V, adquirido por Camilo Santana (CE) e Flávio Dino (MA).
Financial Times: Amazon derrota movimento trabalhista e Biden nos EUA
Funcionários rejeitam sindicalização inédita no país; presidente fez campanha
Dave Lee, Financial Times
Trabalhadores em um centro de distribuição da Amazon em Bessemer, no estado do Alabama, votaram por larga maioria contra a sindicalização, num forte golpe contra o movimento trabalhista nos Estados Unidos e suas esperanças de conquistar uma base na gigante do comércio eletrônico.
A campanha para criar o primeiro sindicato da Amazon nos Estados Unidos atraiu a atenção do mundo todo e o apoio do mais alto cargo político do país, mas por final falhou em causar impacto onde realmente importava: nas urnas.
Cerca de 55% dos quase 6.000 trabalhadores do centro de distribuição votaram, pelo correio devido às restrições da pandemia. Em uma apuração realizada por videoconferência para um público de mais de 200 advogados, observadores e jornalistas, o "não" teve 1.798 votos, contra 738 em apoio à sindicalização.
Apesar da dura derrota, representantes do sindicato mantiveram uma posição firme, dizendo que o voto em si já foi uma conquista histórica, a primeira vez que toda uma instalação na terra natal da Amazon teve essa oportunidade.
O Sindicato de Varejo, Atacado e Lojas de Departamento disse que vai apelar do resultado, citando, segundo a entidade, esforços numerosos e flagrantes da empresa para influenciar a votação de forma ilegal.
"A Amazon sabia muito bem que a menos que fizesse o possível, até mesmo atividade ilegal, seus funcionários continuariam apoiando o sindicato", disse Stuart Appelbaum, presidente da entidade.
Em um comunicado, a Amazon agradeceu a seus empregados. "É fácil prever que o sindicato dirá que a Amazon ganhou esta eleição porque intimidamos os empregados, mas isso não é verdade", afirmou a companhia em um blog na sexta-feira (9).
"Nossos empregados ouviram muito mais mensagens anti-Amazon do sindicato, de políticos e canais de mídia do que ouviram de nós. E a Amazon não venceu —nossos empregados é que decidiram votar contra a entrada num sindicato."
Como quer que a caracterizem, a vitória da companhia dá continuidade a uma série de esforços para evitar a sindicalização nos EUA. O depósito em Bessemer foi a primeira instalação no país a chegar ao ponto de realizar uma votação formal e sancionada, depois de ter indicações de apoio suficientes no final do ano passado.
Apesar da derrota sindical, a batalha poderá se arrastar por muitos meses. A apelação será ouvida primeiro por um escritório local do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB na sigla em inglês) e poderá acabar sendo decidida pelos membros do conselho, indicados politicamente em Washington, disse John Logan, professor de estudos do trabalho e do emprego na Universidade Estadual de San Francisco.
"É concebível que quando chegar ao conselho completo do NLRB poderá ter uma maioria democrata", disse Logan. O mandato de William Emanuel, um nomeado republicano, deverá terminar em agosto.
Em março, o presidente Joe Biden indicou forte apoio aos trabalhadores, pedindo que a Amazon se afastasse para permitir que os trabalhadores fizessem uma "opção livre e justa". Logan descreveu os comentários como "a declaração mais pró-sindicatos já feita por um presidente em exercício".
O governo Biden está apoiando a Lei de Proteção ao Direito de se Organizar, que busca tornar ilegais muitas das táticas adotadas pela Amazon durante a campanha. A Lei PRO, como é conhecida por sua sigla em inglês, foi aprovada na Câmara dos Deputados no início deste ano.
"Os trabalhadores americanos não terão acesso constante a eleições sindicais livres, justas e seguras enquanto não reforçarmos as leis trabalhistas do nosso país", disse o deputado Bobby Scott, da Virgínia, presidente da Comissão de Educação e Trabalho da Câmara, depois da votação na Amazon.
"Não podemos continuar permitindo que os patrões interfiram na decisão dos trabalhadores de formar ou não um sindicato. O Senado precisa aprovar a Lei PRO."
A campanha também obteve o apoio do movimento Black Lives Matter e foi observada atentamente por outras importantes figuras de grupos de direitos civis. A força de trabalho do centro de distribuição de Bessemer é mais de 75% afro-americana.
"Os trabalhadores sentiam que não tinham voz e não sabiam como se manifestar", disse Marc Bayard, diretor da Iniciativa de Trabalhadores Negros no Instituto para Estudos de Políticas em Washington. "Esses trabalhadores mostraram um caminho para o sucesso."
A apelação do sindicato vai se concentrar no fato de que uma caixa de correio foi instalada no estacionamento do centro, à vista de câmeras de segurança, medida que, segundo representantes, se destinou a intimidar os empregados quando depositassem seus envelopes.
E-mails obtidos pelo sindicato pareciam mostrar que a Amazon tinha pressionado o Serviço Postal dos EUA para instalar a caixa antes do início da votação. Depois ela foi retirada.
A Amazon disse anteriormente que foi "uma maneira simples, segura e totalmente opcional de facilitar a votação pelos funcionários, nem mais nem menos".
Outras queixas do sindicato incluem uma campanha de reuniões de "audiência cativa", durante as quais a empresa advertiu os empregados contra a sindicalização, assim como a exibição de cartazes contra o sindicato no centro de distribuição —alguns nas cabines dos banheiros.
No início da campanha, o sindicato chamou a atenção para alterações nos semáforos de trânsito diante do edifício, que deram aos sindicalistas menos tempo para falar com os empregados quando saíam do trabalho. A Amazon disse que a medida visava reduzir o congestionamento.
O sindicato UNI Global, que representa mais de 900 sindicatos setoriais, disse que o esforço em Bessemer criou uma discussão de alto nível sobre as condições de trabalho na Amazon, cuja força de trabalho inchou em mais de 500 mil pessoas desde o início da pandemia, e hoje totaliza 1,3 milhão em todo o mundo.
"O 'efeito Bessemer' está eletrizando o movimento trabalhista, inspirando ações de Mianmar a Munique a Montevidéu", disse Christy Hoffman, secretária-geral do UNI.
"Enquanto a votação acontecia, houve greves na Alemanha e na Itália, e um novo esforço maciço para alcançar trabalhadores da Amazon foi lançado no Reino Unido. Ele continuará dando esperança aos trabalhadores, que exigem ter voz no trabalho e um emprego com dignidade.
"Os empregados no Alabama —e trabalhadores da Amazon em toda parte— devem manter suas cabeças erguidas e os olhos fixos na vitória. Unidos, ela é inevitável."
Traduzido originalmente do inglês por Luiz Roberto M. Gonçalves