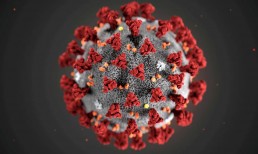Jamil Chade
Jamil Chade: 2020 - O ano das verdades inconvenientes
O ano forçou a suspensão de um cegueira coletiva e deliberada. Poderemos fechar os olhos de novo, mas não há mais como apagar do inconsciente as imagens de um mundo insustentável
Na Alemanha, quando fronteiras em março e abril foram fechadas para conter o vírus da covid-19, rapidamente se descobriu que a primavera não seria igual às demais. Os dias eram cada vez mais longos e o desabrochar das flores não poderia ser detido. Mas, no campos de legumes da maior economia da Europa, faltava uma peça fundamental: as mãos escuras e ásperas de imigrantes para colher alimentos.
Em poucos dias, o que era impensável se transformou em um realidade: a Lufthansa organizou voos especiais para ir às margens da Europa buscar justamente aquelas populações indesejadas por uma parcela dos alemães. Com as fronteiras fechadas e sem eles, não haveria o tradicional aspargos nos pratos.
2020 marcará nossa geração. Haverá um antes e um depois na história. Mas seja qual for a forma pela qual o futuro irá narrar os acontecimentos deste período, não restam dúvidas de que 2020 foi o ano de verdades inconvenientes.
Ainda nas primeiras semanas da pandemia, a notícia de que o médico responsável por detectar o vírus pela primeira vez e alertar as autoridades tinha morrido gerou uma comoção. Não por conta apenas de sua descoberta. Mas pelos relatos de que ele foi alvo de uma repressão policial chinesa ao tentar avisar ao mundo de que um novo vírus ameaçava a humanidade. A verdade inconveniente, em 2020, é que a censura de uma ditadura é real e mata.
À medida que o vírus se espalhava, governos travavam batalhas comerciais para garantir máscaras e respiradores. Governos como o de Angela Merkel chegaram a colocar barreiras para impedir a exportação, enquanto relatos e proliferavam de operações já em pistas de decolagem para desviar carregamentos.
Não foi muito diferente quando a vacina chegou. Países ricos esvaziaram as prateleiras, ficando com bilhões de doses e um volume suficiente para imunizar várias vezes suas populações. Enquanto isso, países pobres fazem filas humilhantes em busca de garantias de que pelo menos uma parte desses avanços na pesquisa cheguem às suas populações.
A verdade inconveniente de 2020 é de que a ciência não beneficia todos ao mesmo tempo. E, uma vez mais, as inovações chegam primeiro para Margarets, e não para Marias. Chegam para Steven ou John, e não para Severinos.
Também foi o ano em que uma parcela de economistas foi confrontado por uma dura realidade que minava um discurso bem ensaiado de que o liberalismo cego, a privatização inclusive de serviços básicos e o papel apenas regulador da administração pública eram sinais de avanço e modernidade. Diante do colapso da economia mundial e da crise, se escutava por ruas escuras, corredores higienizados e manchetes: onde está o Estado?
2020 foi o ano ainda em que ouvimos do FMI um apelo aos governos: gastem o que tiverem de gastar para socorrer suas populações. Aquele mesmo que passou décadas ensinando governos as belezas de austeridade. O que está em jogo não são apenas vidas humanas. Mas a estabilidade de um sistema.
Nas periferias dos EUA, nos bairros mais pobres das grandes cidades britânicas ou nas favelas no Brasil, o vírus matou mais. A análise da Kaiser Health News, por exemplo, revelou que os negros americanos de 65 a 74 anos morreram de covid-19 cinco vezes mais do que os brancos na mesma faixa etária.
Quando as escolas fecharam e estudantes foram instruídos a usar a Internet de casa, “descobriu-se” rapidamente que aquele instrumento revolucionário da web não era universal. Dois terços das crianças em idade escolar do mundo - ou 1,3 bilhão de crianças de 3 a 17 anos de idade - não têm conexão à Internet em suas casas, de acordo com um relatório da Unicef e da União Internacional de Telecomunicações.
A verdade inconveniente é que, em 2020, a Internet não é para todos. Não há um fosso entre diferentes grupos. Há um oceano de distância entre a porção conectada do mundo e aqueles que apenas sonham com um lápis.
Quando a OMS sugeriu que todos lavassem suas mãos na esperança de frear a pandemia, descobriu que 25% dos postos de saúde pelo mundo não contavam com água. Também se descobriu que milhões de pessoas viviam no fio de uma navalha e que qualquer abalo os jogaria de volta a uma pobreza profunda. A fome voltou e o futuro ficou mais distante.
Quando governos tentaram sair ao socorro de suas populações, se depararam com a constatação de que direitos, formalidades e redes de proteção se limitavam apenas a uma minoria privilegiada.
Em 2020, mais de 2 bilhões de trabalhadores atuam na informalidade. Ou seja, 62% de todos os que trabalham no mundo. Nos países de renda baixa, essa taxa chega a 90%.
Quando bares, hotéis e restaurantes fecharam na rica e sofisticada cidade de Genebra, das sombras surgiu uma fila inesperada e inconveniente de milhares de pessoas esperando pela entrega de sacos de comida por grupos de caridade. Eram os imigrantes que, escondidos em cozinhas, lavanderias e nos bastidores do luxo, garantiam que o sistema funcionasse.
E quando, já exaustas, sociedades receberam a notícia de que uma empresa alemã havia descoberto uma vacina com uma alta chance de eficácia, a verdade inconveniente é que, de fato, tal conquista havia sido atingida por um casal de imigrantes turcos. Teriam eles conseguido entrar hoje na Europa?
Guias foram elaborados por autoridades sobre como se despedir daqueles que amamos. Mas não existe guia para a falta de um abraço, de um ombro ou de uma mão que oferece um lenço. A verdade inconveniente é de que o luto faz parte da vida.
Em 2020, um espelho foi colocado diante do mundo. E, como uma realidade que não se pode ignorar, esse mundo não teve o poder de escolher apenas os reflexos que interessavam. A imagem que despontou era intransigente. Não tolerou manipulações. Sim, ali estavam a genialidade humana, a solidariedade e a beleza. Mas também verdades inconvenientes que preferiríamos não ver.
Elas nunca estiveram escondidas e 2020 forçou a suspensão de um cegueira coletiva e deliberada.
Poderemos optar por fechar os olhos de novo. E certamente muitos escolherão esse caminho em 2021. Mas, no silêncio envergonhado de alguns, no pesadelo de noites de calor ou na reflexão íntima de nossos destinos comuns, não há mais como apagar do inconsciente as imagens de um mundo insustentável.
*Jamil Chade é correspondente na Europa desde 2000, mestre em relações internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra e autor do romance O Caminho de Abraão (Planeta) e outros cinco livros.
Jamil Chade: As veias abertas do mundo
Três décadas depois do ápice da crise da Aids, o planeta comete os mesmos erros e ameaça deixar bilhões de pessoas sem acesso a tratamentos e vacinas contra a covid-19
Em meados dos anos noventa, um tratamento contra o vírus HIV já existia, permitindo ampliar a sobrevivência daqueles que tinham sido infectados. Mas esse benefício da ciência praticamente só era uma realidade para aqueles que viviam em países ricos. O tratamento custava em média 10.000 dólares por ano e, assim, um paciente na África precisaria do equivalente a 20 anos de salários para pagar por apenas alguns meses do coquetel de remédios que deveria tomar para o resto de sua vida.
Na prática, o tratamento não existia para uma enorme porção da população mundial.
- Lições do HIV para a covid-19
- Britânica de 90 anos é a primeira pessoa do Reino Unido a receber vacina contra covid-19 após testes
- Wanderson de Oliveira: “Não é possível uma grande campanha de vacinação no Brasil já a partir do primeiro semestre”
De acordo com a entidade Médicos Sem Fronteiras, até que os remédios fossem disponibilizados em sua versão genérica e sem patentes para essas populações mais pobres a um custo de 1 dólar por dia, 11 milhões de pessoas morreram apenas no continente africano.
Nem todos eles teriam sido salvos se os remédios chegassem antes. Mas certamente milhões de famílias poderiam ter evitado o pior e prolongado a vida —inclusive produtiva— de seus entes queridos.
Trinta anos depois, o mundo caminha para repetir uma história similar e revelar que a humanidade sofre de uma amnésia aguda quando o tema é salvar vidas.
Diante da pandemia da covid-19, vacinas começam a chegar ao mercado e a ciência revela todo seu esplendor em promover um resultado em tempo recorde. No Reino Unido, uma senhora de 90 anos, Margaret Keenan, entrará para a história como a primeira a receber a vacina num país ocidental, nesta terça. Para muitos, a esperança é de que aquela dose represente o começo do fim de um pesadelo.
Mas nem essa ciência é para todos nem esse recorde é universal. Como já foi dito antes, se na primeira vez a história ocorreu como uma tragédia, ela se repete como uma farsa.
Atualmente, mais de 50% da capacidade de produção de vacinas no mundo já está reservada ou compradapor um grupo pequeno de países que, juntos, representam apenas 13% da população mundial. Levantamentos da Universidade Duke, nos EUA, revelam que Canadá, EUA e UE já garantiram doses que seriam suficientes para vacinar várias vezes toda sua população. Já dezenas de Governos simplesmente não contam com nem sequer uma dose.
Na esperança de garantir maior acesso e um melhor equilíbrio na distribuição, cem países em desenvolvimento apresentaram um projeto ambicioso: suspender patentes de produtos relacionados com a covid-19 e, assim, garantir sua produção genérica para permitir uma queda acentuada de preços e uma maior fabricação pelo mundo. Mas nem todos estão de acordo.
Nesta quinta-feira, uma reunião na Organização Mundial do Comércio (OMC) pode começar a definir qual o caminho que será tomado. Fundamental para a inovação, as patentes também são monopólios estabelecidos para recompensar o inventor pelos riscos que assumiu. Mas a qual preço para a humanidade?
Em salas elegantes em Genebra, negociadores de países desenvolvidos e detentores dessas patentes circulam na OMC com argumentos eloquentes, aparentemente sofisticados e repletos de diplomacia para justificar uma recusa ao projeto.
Para esse grupo, basta seguir a lei internacional de propriedade intelectual para assegurar um abastecimento. Por essas normas, um país pode solicitar a importação de um produto genérico caso uma situação de emergência exija. Na teoria, isso pode fazer sentido. Mas a realidade é que, em alguns casos, tal autorização poderia levar até três anos para ser concedida. Quantos morrerão até lá?
Alguns desses negociadores usam ainda de argumentos reais: de que vale quebrar uma patente para um remédio, tratamento ou vacina se a estrada até chegar a um certo povoado não existe?
Ao mencionar fragilidades dos países pobres, eles parecem ignorar como, no caso da Aids, os remédios genéricos transformaram a realidade de dezenas de países.
Eles tampouco citam dados da ONU que revelam que, durante a atual pandemia, a importação per capita de produtos médicos destinados a mitigar o impacto da covid-19 foi 100 vezes maior nos países ricos, em comparação às economias mais pobres do mundo.
Tampouco é mencionado como, na Itália, dois engenheiros resolveram usar uma impressora 3D para fabricar válvulas para respiradores de um hospital foram processados por violar regras de patentes. Quantas vidas aquela impressora teria salvo?
Uma vez mais, a crise sanitária de 2020 escancara a falácia de que o avanço da ciência funciona para todos. Por décadas, empresas abandonaram pesquisas sobre doenças que afetavam os mais pobres e que, portanto, não renderiam dividendo aos investidores. Elas foram chamadas de “doenças negligenciadas”, um nome hipócrita para falar, no fundo, de povos negligenciados.
Outro argumento que se desfaz na atual pandemia é de que empresas privadas precisam ser devidamente recompensadas por suas apostas na pesquisa de uma nova vacina, que poderia não funcionar. Elas têm razão. Mas, antes, precisariam revelar como, apenas no caso da covid-19, receberam o equivalente a 12 bilhões de dólares em recursos públicos de Governos para garantir suas inovações.
A equação é clara: o risco é coletivo. Se uma aposta numa vacina não funcionar, a empresa tem a segurança de ser resgatada por dinheiro público. Mas, em caso de vitória, a patente é sua recompensa e o lucro, obviamente, é privado.
A longo da atual pandemia, empresas têm alegado que precisam de 1 bilhão de dólares para desenvolver uma vacina e, portanto, querem a proteção de suas invenções. Esse mesmo setor privado, porém, não revela quanto recebem em isenções fiscais, em apoio de instituições públicas de inovação e nem qual será a margem de lucro de seu novo produto.
Na atual crise, há ainda um casamento silencioso sendo estabelecido. Nas negociações internacionais, Governos de países ricos garantem a proteção a suas multinacionais e indicam que não vão aceitar a ideia da quebra de patentes de produtos relacionados com a covid-19 na OMC. Em troca, recebem garantias de que serão os primeiros a serem abastecidos pelas vacinas.
Para preencher o vácuo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) se apressou para criar um sistema que permita que uma parcela dessa inovação chegue aos países mais pobres e que essas populações não sejam pisoteadas na corrida pela salvação. Assim, a aliança mundial de vacinas —a Covax— foi estabelecida.
Mas a iniciativa vive uma falta crônica de recursos e simplesmente, com o que tem em caixa, não conseguirá atingir seu objetivo de chegar a 1 bilhão de pessoas até o final de 2021 em mais de 90 países.
Em eventos na ONU, na OMS, no G20 ou em outros fóruns internacionais, não são poucos os líderes que fazem discursos garantindo que a vacina precisa ser um bem público internacional.
Mas não aceitam a quebra de patentes nem abrem seus bolsos para garantir que a inovação chegue aos países mais pobres. Promessas vazias e uma fraude à humanidade.
Uma vez mais, os ricos vão ser os primeiros a serem imunizados. Enquanto isso, o restante —frequentemente mais escuro, mais exausto, mais distante de seus sonhos e mais desprotegido— faz uma fila interminável de esperança na forma de uma dose da vacina.
Em 2020, existe a cura para muitas doenças que matam. Existem alimentos para abastecer três planetas. E existem pessoas dispostas a ir ao socorro dessas populações. O que nem sempre existe é o compromisso politico para que isso se transforme em realidade.
O que existe hoje no mundo é um sistema que serve para estancar o sangue de uma ferida mais profunda, sem que a estrutura de poder seja modificada e sem que o monopólio seja desfeito. Para as veias abertas do mundo, o que temos no momento são curativos improvisados e insuficientes, prestes a definhar.
Assim como nos anos noventa, fica mais uma vez claro em 2020 que a vida ou a morte não dependem apenas do avanço da ciência. Mas de quem você é e onde, por acidente, nasceu.
Jamil Chade: Em 2021, crise humanitária no planeta será a maior desde a 2ª Guerra Mundial
ONU prevê que 235 milhões de pessoas no mundo serão afetadas por uma crise humanitária. Entidade vai precisar de pelo menos US$ 35 bi para sair ao socorro de milhões de pessoas diante da covid-19, conflitos e mudanças climáticas. Cenário na América do Sul é de tensão social, perda de renda e instabilidade política. Recuperação prevista para economia mundial não será suficiente para impedir que mundo tenha número inédito de pessoas em situação de vulnerabilidade
Se 2020 foi o ano da pandemia, 2021 será o momento de descobrir a dimensão de seu impacto social. De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), há um risco real de que a vacina contra a covid-19 chegue apenas para uma parcela rica do planeta e que milhões de pessoas ainda tenham de esperar meses ou anos para serem imunizados. Enquanto isso, a crise humanitária deve se aprofundar e vai atingir um número recorde de 235 milhões de pessoas, exigindo um esforço inédito na história da organização.
A operação de resgate vai precisar de US$ 35 bilhões para sair ao socorro de um verdadeiro exército de famintos, destituídos e abandonados em locais como Síria, Venezuela, Paquistão, Haiti, Afeganistão, Iêmen, Colômbia, Ucrânia e outros países.
Se projeções do FMI, Banco Mundial e de outras instituições apontam para o início da recuperação da economia mundial em 2021, a ONU relembra que a crise de 2020 terá seu impacto prolongado entre os grupos mais vulneráveis e populações que já viviam em uma situação delicada.
"Conflitos, mudanças climáticas e a covid-19 geraram o maior desafio humanitário desde a Segunda Guerra Mundial", alertou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres.
Os dados apontam que o número de pessoas afetadas por crises humanitárias é 40% superior aos dados de 2020. O total é quase três vezes maior que em 2015. No total, 56 países precisarão de ajuda internacional, inclusive o Brasil, para lidar com os venezuelanos na região norte do país.
"Se todos aqueles que precisarem de ajuda humanitária no próximo ano vivessem num país, seria a quinta maior nação do mundo, com uma população de 235 milhões de habitantes", diz a ONU, que espera implementar uma operação para alimentar e dar abrigo para 160 milhões de pessoas em 2021.</p><p>
Num raio-X do planeta publicado nesta terça-feira, a entidade aponta que a vida das pessoas em todos os cantos do mundo foi abalada pelo impacto da pandemia. "Aqueles que já vivem no fio da navalha estão sendo atingidos de forma desproporcionalmente dura pelo aumento dos preços dos alimentos, queda dos rendimentos, programas de vacinação interrompidos e fechamento de escolas", diz.
América do Sul e maior tensão sociopolítica
Um dos focos da atenção internacional é a situação na América do Sul onde, segundo a ONU, "a pandemia secou as economias informais, diminuindo os meios de subsistência e o acesso aos alimentos e aumentando os riscos de proteção".
Para ONU, 2021 "irá sem dúvida exigir uma concentração ainda maior de esforços de resposta humanitária adaptáveis, dados os efeitos a longo prazo da pandemia sobre as várias crises na região".
Citando a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e Caribe, o informe prevê que 231 milhões dos 656 milhões de habitantes da região estarão em situação de pobreza no início de 2021. Esse será o pior patamar desde 2005.
"O impacto generalizado das economias deprimidas conduzirá a mais migração, insegurança alimentar e preocupações de saúde e proteção no meio de elevadas vulnerabilidades a riscos naturais, redes de segurança governamentais em tesão e potenciais agravamentos de tensões sócio-políticas profundamente enraizadas", alertou.
Décadas de progressos sociais sob ameaça
"O mundo rico pode agora ver a luz ao fundo do túnel", disse o chefe humanitário da ONU, Mark Lowcock. "O mesmo não se passa nos países mais pobres. A crise da covid-19 mergulhou milhões de pessoas na pobreza e fez disparar as necessidades humanitárias", alertou. "No próximo ano precisaremos de US$ 35 bilhões de dólares para evitar a fome, combater a pobreza, e manter as crianças vacinadas e na escola", disse. "Temos uma escolha clara diante de nós. Podemos deixar que 2021 seja o ano em que 40 anos de progressos sociais serão desfeitos; ou podemos trabalhar em conjunto para garantir que todos encontraremos uma saída para esta pandemia", disse. Para ele, "seria cruel e insensato" da parte dos países ricos "desviar o olhar" diante dessa realidade. "Os problemas locais tornam-se problemas globais, se os deixarmos", disse.
Fome e pobreza em alta
Pelo mundo, um dos aspectos que mais preocupa é a volta do aumento dos índices de fome e de pobreza. "A covid-19 desencadeou a recessão global mais profunda desde a década de 1930", indicou o informe. "A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em 22 anos, e o desemprego aumentou dramaticamente. As mulheres e os jovens entre os 15 e os 29 anos que trabalham no setor informal estão sendo os mais atingidos. O fechamento das escolas afetou 91 por cento dos estudantes em todo o mundo", apontou.
Outra constatação é que os conflitos políticos são mais intensos e estão causando um impacto pesado à população civil. "A última década assistiu ao maior número de pessoas deslocadas internamente pelo conflito e pela violência, com muitas presas nesta situação por um período prolongado", diz. "Estima-se que haja 51 milhões de deslocados internos novos e existentes, e o número de refugiados duplicou para 20 milhões", alerta.
Um dos pontos mais preocupantes se refere à fome aguda, que atinge 77 milhões de pessoas em 22 países. "Até ao final de 2020, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda poderá ser de 270 milhões", indica. "Os impactos da pandemia e das alterações climáticas estão afetando seriamente os sistemas alimentares em todo o mundo", diz a ONU. Apenas para lidar com essa realidade, a entidade faz um apelo por US$ 9 bilhões, quase o dobro do que era necessário em 2015.
Mudanças climáticas e pandemia
A avaliação da ONU é de que, uma vez mais, as mudanças climáticas terão um impacto real na vida de milhões de pessoas. Segundo a entidade, os últimos 10 anos foram os mais quentes desde que os registros começaram a ser feitos e, ao mesmo tempo, catástrofes naturais estão exacerbando as vulnerabilidades crônicas em diferentes partes do mundo. Para 2021, esperam-se alterações climáticas adicionais por conta do fenômeno La Niña. Se a situação internacional já não era das mais fáceis, a pandemia da covid-19 ampliou a crise de maneira inédita. "Os surtos de doenças estão aumentando e a pandemia tem dificultado os serviços de saúde essenciais em quase todos os países", diz o raio-x do planeta.
Para a entidade, a realidade é que os avanços sociais conquistados durante décadas estão ameaçados. "Mais de 5 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade enfrentam as ameaças da cólera e da diarreia aguda", diz. "A pandemia pode acabar com 20 anos de progresso na luta contra o HIV, tuberculose e malária, duplicando potencialmente o número de mortes anuais", indica. Cerca de 24 milhões de crianças, adolescentes e jovens estão em risco de não regressar à escola em 2020, incluindo 11 milhões de meninas e mulheres jovens.
Falta de dinheiro
O dilema, segundo a ONU, é como lidar com a crise sanitária e seus desdobramentos diante da falta de recursos. "A crise está longe de ter terminado", diz o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. "Os orçamentos para a ajuda humanitária enfrentam déficits terríveis à medida que o impacto da pandemia global continua a agravar-se", reconhece. Ele pede, porém, que governos mobilizem recursos e e que sejam solidários com as pessoas "na sua hora mais negra de necessidade".
Em 2020, os doadores internacionais deram um montante recorde de US$ 17 bilhões. Mas, como as necessidades estão aumentando, o financiamento continua a ser menos de metade do que a ONU e organizações parceiras pediram.
Jamil Chade: Eras pós-pandemias trouxeram sementes do nazismo e novas geopolíticas. E agora?
Em 2020, há uma diferença fundamental entre tudo o que ocorreu na história da humanidade e a atual crise: temos a nosso alcance o avanço inédito da ciência e mais consciência dos erros passados
2019 foi o ano dos protestos. Do Chile à Catalunha, de Paris ao Sudão as ruas arderam. Mas muitos desses movimentos foram silenciados pela pandemia e o cheiro da morte que o vírus deixou. Entre líderes políticos, movimentos sociais e mesmo serviços de inteligência, a pergunta que permanece é uma só: esses protestos serão retomados uma vez superado o vírus e quais abalos políticos serão sentidos como eco da crise sanitária? Ao longo dos séculos, surtos e epidemias transformaram países, populações e o destino de guerras. Basta dizer que nas cidades mais afetadas pela pandemia da gripe espanhola de 1918 na Alemanha, há indícios de que os primeiros brotes do nazismo tomaram forma, como mostrou um estudo realizado pelo FMI.
O resgate da história também nos revela que não são raras as ocasiões em que pandemias foram seguidas por revoltas e distúrbios sociais, além de uma nova ordem mundial.
Em 2020, há uma diferença fundamental entre tudo o que ocorreu no passado e a atual crise: o avanço inédito da ciência. Em um tempo recorde, o mundo terá mais de uma vacina, no que está sendo considerado dentro da OMS como a vitória definitiva da ciência contra a ideologia. Também ficou claro que o populismo mostrou suas limitações nas urnas - tanto no Brasil como nos EUA - e que lideranças robustas como a de Angela Merkel ou Jacinda Arden se fortaleceram.
Mas, ainda assim, resgatar a história pode servir de guia, principalmente diante de um mundo profundamente desigual que ameaça, uma vez mais, deixar bilhões de pessoas às margens do avanço da medicina. Uma dessas vacinas, por exemplo, exige que seja estocada em um local com uma temperatura de -70 graus Celsius. Um desafio que mais parece um capítulo de ficção científica para 900 milhões de pessoas pelo mundo que ainda fazem suas necessidades básicas ao ar livre por falta de simples privadas e banheiros.
Susan Wade, professora de história da Keene State College, traça um paralelo entre a situação atual e a revolta na Inglaterra de 1381. Naquele momento, a peste bubônica havia feito milhares de mortes, um tragédia que se somava a uma exploração do trabalho de camponeses. “E como hoje, a maioria da riqueza era detida por uma elite que compreendia cerca de 1% da população”, disse. Quando uma doença mortal começou a alastrar, foi pedido aos mais vulneráveis e impotentes que pagassem a conta da crise. “Eventualmente, os camponeses decidiram responder”, apontou. Essa, portanto, foi a origem da revolta camponesa na Inglaterra.
Entre historiadores, há ainda um acirrado debate sobre o papel de uma epidemia como um dos fatores que poderiam ter contribuído para uma destruição final do Império Romano e jogado a Europa em sua era da escuridão. A partir do ano 541, uma peste ganhou força no Egito, atingiu Alexandria e outras cidades, até chegar à região palestina e subir até Constantinopla, a então capital do Império Romano Oriental.
O imperador Justiniano, que havia chegado ao trono com a ambição de resgatar a glória do Império Romano, foi um dos infectados. Ele sobreviveu. Uma parcela dos especialistas, porém, aponta que o que não sobreviveu foi seu império, derrotado em parte por um micro-organismo. Sem soldados diante da peste e com a fome que se alastrava, ele viu territórios conquistados serem tomados por revoltas e seu poder minado em todas essas regiões.
Para o historiador Procopius, no auge da crise sanitária a cidade de Constantinopla - atualmente Istambul - perdia dez mil pessoas por dia. A capital teria perdido 40% de sua população e, pelo império, 25% dos habitantes não sobreviveram.
Nos últimos anos, o relato de Procopius é considerado como exagerado. Historiadores da Universidade de Jerusalém e de Princeton, por exemplo, insistem que não existem evidências para provar o que a narrativa construída ao longo de séculos estabeleceu em termos de mortes. Para eles, portanto, não se pode atribuir à peste o fim do Império Romano. A realidade, porém, é que por quase duzentos anos a peste assolou a região em diferentes ondas e gerou diferentes revoltas. Quando finalmente desapareceu, o mundo vivia uma nova geopolítica.
Na Itália, um outro estudo traça uma ligação entre pandemia, surtos e eclosão de rebeliões. “Em diferentes graus, a maioria das grandes epidemias do passado parecem ter sido incubadoras de agitação social”, apontou Massimo Morelli, professor de ciência política na Universidade de Bocconi, e Roberto Censolo, professor da Universidade de Ferrara.
Num estudo publicado na revista acadêmica Peace Economics, Peace Science and Public Policy, os especialistas analisaram protestos e agitações sociais no período próximo a 57 epidemias pelo mundo. Isso incluiu desde a Peste Negra em no século 14 até a pandemia de gripe espanhola de 1918.
Desses 57 casos, apenas quatro revoltas não estariam claramente relacionadas com os respectivos surtos, o que leva os especialistas a acreditarem que existe uma possível relação entre as epidemias e distúrbios na sociedade civil.
No caso específico da covid-19, os acadêmicos deixam claro que as restrições e o impacto econômico “estão causando um sentimento latente de descontentamento público”. Para Morelli e Censolo, teorias de conspiração em torno do vírus e o seu apoio por parte de alguns líderes políticos são “sintomas de fricções potencialmente perigosas dentro da sociedade”.
Onda de ódio
Já Samuel K. Cohn, professor de história medieval da Universidade de Glasgow, confirmou que “a doença mais mortal e devastadora da Europa, a Peste Negra de 1347-51, desencadeou violência em massa: o assassinato de catalães na Sicília, e de clérigos e mendigos em Narbonne e outras regiões”, além de ataques contra judeus, com mais de mil comunidades na Renânia, na Espanha e França".
Antes mesmo do final da atual pandemia, a ONU já alerta que a crise sanitária abriu uma onda de violência. Num alerta com forte tom de desespero, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou que a pandemia está gerando um “tsunami de ódio e xenofobia”, além da criação de bodes expiatórios e ataques contra médicos, enfermeiras e jornalistas.
Segundo os levantamentos da entidade, a atual crise aprofundou o sentimento contra estrangeiros e que, das redes sociais, o ódio passou para as ruas. Entre os fenômenos estão atos anti-semitas com teses de conspiração, além de ataques contra muçulmanos. Em alguns países, Guterres aponta que os migrantes e refugiados foram apontados como os culpados pela proliferação do vírus, inclusive com serviço médicos negando acesso aos tratamentos médicos.
Outra dimensão do ódio tem sido os ataques contra idosos. Contra essa população surgiram memes desprezíveis, sugerindo que eles também são os mais dispensáveis.
Os estudos de Cohn revelam que, de fato, a xenofobia foi também uma marca da peste negra, com judeus “trancados em sinagogas ou reunidos em ilhas fluviais e queimados até à morte” por serem os supostos responsáveis pela crise sanitária. “Cruelmente, os tribunais de justiça condenaram coletivamente os judeus por envenenamento de poços e de alimentos”, destacou.
Já nos séculos XVI e XVII, a crise sanitária na Europa desencadeou mais uma vez rumores de propagação maliciosa da peste. Desta vez, o alvo da ira eram médicos e mesmo coveiros, acusados de perpetuarem a doença por uma variedade de razões, incluindo para se enriquecerem.
Cohn conta como a praga de 1575 levou que “ciganos, negros, cantores de rua, atores e prostitutas” fossem proibidos de entrar em determinadas cidades.
Logo vieram ainda as acusações mútuas. Fora de Nápoles e pelo território que hoje se designa como Itália, o surto era conhecido como a doença napolitana. Na Alemanha, ela era chamada de doença polonesa, enquanto na Polônia era conhecida como a doença alemã.
Siga a cobertura em tempo real da crise da covid-19 e acompanhe a evolução da pandemia no Brasil. Assine nossa newsletter diária para receber as últimas notícias e análises no e-mail.
A Gripe Espanhola de 1918 e 1919 também deixou suas marcas sociais e políticas. Em seu livro de 2017, Pale Rider, a escritora Lauren Spinney revela como a pandemia pode ter sido fundamental para a instabilidade entre as duas guerras mundiais. Um dos aspectos que a crise ressaltou naquele momento foi o egoísmo como forma de sobrevivência. Uma vez terminada a crise, muitas sociedades fizeram a opção deliberada por esquecer o que havia ocorrido.
Entre os impactos, historiadores estimam que os ataques da população branca contra afro-americanos no verão de 1919 em várias cidades dos EUA ainda têm uma relação direta com a doença. Aquele período de violência ficou conhecido como “Red Summer”.
Um estudo realizado pelo FMI correlaciona as cidades mais afetadas pela pandemia de 1918 na Alemanha, as sementes do nazismo que derivaram na Segunda Guerra Mundial. O levantamento indicou que as cidades com o maior número de vítimas pela doença registraram cortes em gastos sociais. E, em seguida, foram nesses locais que se viu um “aumento na parcela de votos conquistados por extremistas de direita”. “As mortes causadas pela pandemia de gripe de 1918-1920 moldaram profundamente a sociedade alemã”, diz o documento, que ainda sugere que a doença pode ter mudado as “preferências sociais” das camadas mais jovens da sociedade, além de ter despertado um sentimento contra estrangeiros.
O estudo não é conclusivo. Mas foi amplamente usado por Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, para apelar aos governos que destinem tudo o que puderem para aliviar o impacto do vírus.
Hoje, mesmo com a vacina, o mundo pós-pandemia também é alvo de um redesenhar. Se bilhões de pessoas estiveram fechadas por meses, a disputa por poder não foi colocada em quarentena em nenhum momento. A história do século 21 é, de fato, radicalmente diferente das pandemias da Idade Média ou do início do século 20. Mas o que ela mostra é que abandonar populações inteiras diante de uma sensação de que a crise está solucionada para uma parcela privilegiada do mundo é o caminho mais seguro para a tradução do profundo mal-estar em protestos e revoltas.
Jamil Chade: Bolsonaro chega ao limite da indecência ao banalizar a morte
A opção do presidente por comemorar um suposto fracasso de uma vacina e usar um cadáver como instrumento de poder coloca em letras garrafais a dimensão da crise ética que vivemos
Basta!
O vírus matou a legitimidade do Governo de Jair Bolsonaro. E se isso ainda era motivo de dúvidas para uma parcela da população, a opção do presidente por comemorar nesta semana um suposto fracasso de uma vacina e usar um cadáver como instrumento de poder colocou em letras garrafais a dimensão da crise ética que vivemos.
Imoral, o Governo da fraude, da violência, da ameaça e da mentira banalizou a morte.
As urnas o levaram ao poder. Mas sua legitimidade não se limita ao que ocorre na votação. Numa democracia, existe um ponto mágico no qual um Governo deixa de ser legítimo. Isso acontece quando ele não só se mostra incapaz de proteger seus cidadãos, mas atua deliberadamente para ampliar o sofrimento.
A chegada do vírus não foi uma responsabilidade do Governo. Mas esteve em suas mãos a opção por um outro caminho que jamais foi assumido. A pior crise sanitária em 100 anos poderia ter mobilizado uma nação por sua sobrevivência.
Em sua obra A negação da morte, Ernest Becker apresenta a civilização humana como mecanismo de defesa contra a consciência de nossa morte. Estudos revelam ainda que uma população, quando confrontada com um desafio existencial, está disposta a abraçar um líder forte que, pelo menos psicologicamente, dá sinais de proteção.
- Bolsonaro incentiva politização da vacina e coloca imagem técnica da Anvisa em xeque
- “Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora”, diz Bolsonaro para Biden sobre Amazônia
- Anvisa nega “contaminação política” em torno da vacina e entra em choque de versões com o Butantan
Paradoxalmente, líderes tidos como “fortes” como Bolsonaro e Donald Trump mostraram como tais termos são meras narrativas construídas para justificar uma característica que não passa de uma cortina de fumaça para esconder personalidades medíocres.
Asfixiada, a alma de um país encontrou ironicamente na distante eleição americana de um político tradicional um motivo para comemorar como se a escolha tivesse sido sua. Como se aquela alma machucada tivesse recebido um sopro de esperança diante de jovens de todas as cores que tomaram as ruas das cidades dos EUA para destravar quatro anos de um grito preso no peito.
Pária, Bolsonaro mergulha o país em sua irrelevância internacional e aprofunda o extremismo de suas declarações. Nesta semana, ensaiou uma ameaça contra Joe Biden, evocando a “pólvora” quando acaba a diplomacia. Mas, acima de tudo, foi na contramão de todas as grandes democracias do mundo ao não reconhecer a queda de Trump.
Não se trata apenas de manter um aliado. Ao se recusar a admitir o resultado, Bolsonaro fez uma demonstração perigosa de como está disposto a reagir se for derrotado em 2022.
Não há espaço para eleger santos. Mas chegou a hora de frear um movimento antidemocrático diante das evidências do caráter irresponsável de um líder. Talvez, assim, evitaríamos que esse movimento transforme uma nação em um experimento de destruição.
Evitaríamos que esses mesmos líderes transformem a sociedade em uma longa noite de pesadelos que, como num caleidoscópio, vão ganhando novos monstros a cada giro.
Em cada giro, uma dor do desmonte de uma democracia. Na história dessa dor, cada percurso de uma lágrima passa a ser tão vacilante como o rumo de uma nação que parece ter se esquecido de seu destino.
No poder, aqueles que conduzem o Estado deram claras demonstrações nesta semana de que não respeitam qualquer tipo de fronteira da ética.
Juntos, precisamos acordar desse pesadelo. O desafio não é o de travar uma batalha entre esquerda e direita. Mas sonhar com a construção da paz social, com a vitória da verdade.
As instituições precisam reagir, a sociedade não pode se calar e terá de se organizar. Não é mais o momento de transformar ataques à democracia em memes bem elaborados. Esse espaço, agora, precisa ser preenchido pela indignação, pois o que está em jogo é nosso futuro.
Chegamos ao limite da indecência e da imoralidade. Basta!
Jamil Chade: O luto como resistência
A covid-19 obrigou a que esta despedida ocorra sob máscaras, à distância. Mas há séculos o que não muda é nossa necessidade de encontrar sentido num cenário despido de lógica. O luto, portanto, como um grito de mobilização e insurreição de consciências
A covid-19 obrigou a que o ritual humano do luto pelos que se foram ocorra coberto por máscaras, à distância, sem um último beijo. Num recente evento em Madri, uma enfermeira arrancou lágrimas ao resumiu esse novo adeus. “Temos sido mensageiros do último adeus para os idosos que estavam morrendo sozinhos, ouvindo a voz de seus filhos através do telefone. Fizemos videochamadas, apertamos as mãos e tivemos que engolir nossas lágrimas quando alguém nos disse: “Não me deixe morrer sozinho. Vivemos situações que ferem a alma”, disse a enfermeira.
Ao longo dos séculos, o que não mudou foi nossa necessidade de encontrar sentido num cenário despido de lógica, acima de tudo por aqueles que diretamente perderam pessoas amadas. Uma necessidade de homenagear aqueles que nos deixaram, ainda que passaremos anos sonhando em silêncio com eles. O luto faz parte de diferentes culturas e de diferentes religiões, se confundindo com a própria história da humanidade. A perda é uma temática estudada e especialistas nos ensinam como ela nos afeta de forma psicológica e física. Nos tira o sono e muda nossa maneira de encarar o restante de nossas vidas. Ao longo dos séculos, as práticas mudaram. Na Idade Média, rituais relativos à morte eram públicos. O luto era de uma comunidade. Em outros locais, a morte era seguida por eventos festivos que a desafiava com uma explícita demonstração do poder da vida.
Foi com a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e o fato de muitos dos garotos enviados ao front nunca terem voltado, que monumentos com nomes desses heróis se espalharam por praticamente todas as cidades da Europa. Nesses monumentos, até hoje, pequenos vilarejos se encontram uma vez por ano para deixar claro que existe uma comunidade de destino.
Hoje, a alma ferida de uma nação fica evidente ao atingirmos um trauma de massa. Mas, no caso brasileiro, temos sérios obstáculos para conseguir transformar essa tragédia em uma reação coletiva, em uma mobilização popular. Em parte, trata-se de o resultado de anos de um processo de banalização da morte, ao ponto de contar com um chefe de Estado cujo símbolo de campanha era uma arma.
Hoje, o Brasil precisa ter a coragem de declarar seu luto coletivo e assumir que a morte do outro é, em parte, uma perda de todos. Uma tarefa difícil quando, nos discursos improvisados dos almoços de domingo, sobra ódio contra o outro. Uma tarefa complicada quando parte da sociedade ainda acredita que uma parcela do país não tem direito a ter direitos. Ou quando, de forma hipócrita, o governo faz discursos de combate ao racismo na ONU ao lembrar da morte de George Floyd. Mas não destina uma só palavra para lamentar a perda de seus velhos caciques na floresta.
Ao atingirmos 100.000 perdas de vidas, é o tempo de suspender tudo, recolocar nossas prioridades sobre a mesa e avaliar que sociedade queremos reerguer. Não há como seguir fingindo uma falsa normalidade. Se não agora, quando? O que precisaremos para despertar se nem 100 mil mortes nos transformam como nação? O que precisaremos para nos transformar em nação?
Recuperar a ideia de um luto coletivo é o primeiro passo para dizer que não aceitaremos a fatalidade da crise. O luto por aqueles que não resistiram às falências do Estado. Um luto por caminhos não tomados. Um luto por escolhas equivocadas. Um luto pela politização de uma pandemia, talvez a grande história que nossos descendentes contarão no futuro sobre nós.
Não são 100.000 mortes. São 100.000 pessoas. Não se trata de um destino inevitável. Mas das consequências de ações e opções políticas. O luto, portanto, como ato de resistência. Um grito de mobilização. O luto, enfim, como insurreição de consciências. Essa, sim, uma homenagem real àqueles que morreram e uma chama de esperança para que os permaneceram.
Jamil Chade: Bolsonaro é denunciado em Haia por genocídio e crime contra humanidade
O presidente Jair Bolsonaro é denunciado por crimes contra a humanidade e genocídio no Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia. A iniciativa, protocolada na noite deste domingo, está sendo liderada por uma coalizão que representa mais de um milhão de trabalhadores da saúde no Brasil e apoiado por entidades internacionais.
A Rede Sindical Brasileira UNISaúde acusa o presidente de "falhas graves e mortais" na condução da resposta à pandemia de covid-19.
"No entendimento da coalizão, há indícios de que Bolsonaro tenha cometido crime contra a humanidade durante sua gestão frente à pandemia, ao adotar ações negligentes e irresponsáveis, que contribuíram para as mais de 80 mil mortes pela doença no país", destacam.
Bolsonaro já foi alvo de uma outra denúncia no mesmo tribunal, envolvendo a situação dos indígenas. Naquele momento, a acusação era de risco de genocídio. Desta vez, porém, trata-se da primeira ação de iniciativa dos trabalhadores da saúde na Corte Internacional e já levando em consideração vetos a leis, a medidas de ajuda e sua responsabilidade de proteger tanto a população quanto aos profissionais de saúde.
O tribunal recebe cerca de 800 denúncias por ano e leva meses até tomar uma decisão se aceita ou não a queixa, o que levaria a corte a abrir uma investigação formal.
Enquanto uma decisão é aguardada, porém, a ofensiva internacional se transforma em mais um capítulo de um abalo contra o governo. Nos últimos meses, as denúncias em diferentes fóruns internacionais se transformaram no "novo normal" para a diplomacia brasileira. Apenas em 2019, foram mais de 35 queixas apresentadas formalmente à ONU.
No caso do Tribunal, porém, a denúncia vem dos sindicatos de profissionais de saúde, que consideram que existe "dolo" e "intenção na postura do presidente, quando adota medidas que ferem os direitos humanos e desprotegem a população, colocando-a em situação de risco em larga escala, especialmente os grupos étnicos vulneráveis".
No documento de 64 páginas submetido à procuradora-geral do Tribunal, Fatou Bensouda, as entidades denunciam uma atitude de "menosprezo, descaso, negacionismo" e que "trouxe consequências desastrosas, com consequente crescimento da disseminação, total estrangulamento dos serviços de saúde, que se viu sem as mínimas condições de prestar assistência às populações, advindo disso, mortes sem mais controles".
"A omissão do governo brasileiro caracteriza crime contra a humanidade - genocídio", diz o texto. "É urgente a abertura de procedimento investigatório junto a esse Tribunal Penal Internacional, para evitar que, dos 210 milhões de brasileiros, uma parcela sofra as consequências desastrosas dos atos irresponsáveis do senhor Presidente da República", apontam.A Flourish data visualisation
"O governo Bolsonaro deveria ser considerado culpado por sua insensível atuação frente à pandemia e por recusar-se a proteger os trabalhadores da saúde do Brasil assim como a população brasileira, à qual ele prometeu defender quando se tornou presidente", disse Marcio Monzane, secretário regional da UNI Americas.
"Entendemos que buscar a Corte Penal Internacional é uma medida drástica, mas os brasileiros estão enfrentando uma situação extremamente difícil e perigosa criada pelas decisões deliberadas de Bolsonaro", disse.
A UNI Americas é o braço regional da federação internacional sindical UNI Global Union, com sede na Suíça e representando 20 milhões de trabalhadores dos setores de serviços em 150 países
Segundo Morzane, a opção dos sindicatos não foi a de fazer "mais uma pressão política". "Decidimos apresentar uma denúncia técnica", explicou. No documento, o grupo cita a situação entre indígenas, comunidades vulneráveis e os profissionais de saúde.
Crime contra a humanidade
Criado no final dos anos 90, o tribunal tem o mandato para avaliar quatro crimes internacionais fundamentais: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão.
"O caso descreve como Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade quando se recusou a tomar as medidas necessárias para proteger o povo brasileiro durante a pandemia, garantindo a redução dos riscos de doenças, conforme prevê o artigo 196 da Constituição Federal", explicam as entidades.
"O presidente, argumentam os advogados na ação, colocou e ainda coloca os profissionais de saúde bem como toda a população em risco, ao promover aglomeração de seus apoiadores, aproximando-se deles sem máscara, e fazendo propaganda de medicação, como a hidroxicloroquina, para a qual não há comprovação científica de sua eficácia contra a doença", alertam.
"Bolsonaro afirmou ele mesmo ter testado positivo para a Covid-19 e tem constantemente promovido o uso da medicação em lives em suas redes sociais, ao forjar estar tomando o medicamento", denunciam.
Genocídio e Gilmar Mendes
Em outro trecho, a denúncia também explica os motivos pelos quais a queixa por genocídio é apresentada:
a) intenção deliberada do Presidente da República em não adotar medidas que viesse impedir a expansão da "epidemia", contando com o "contagio de rebanho";
b) temos o povo brasileiro como um "grupo", na definição da ONU, que foi afetado pelas omissões governamentais;
c) de forma setorizada, a omissão atingiu comunidades de negros, indígenas, quilombolas, dizimando grupos;
d) ainda, de forma setorizada, temos como grupo, os trabalhadores da saúde, obrigados pela profissão a se exporem ao risco de contaminação que, se avolumou pela falta de políticas públicas que viessem evitar a proliferação do vírus.
O documento submetido ao Tribunal ainda cita o caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que indicou que "caso um agente público conscientemente adote posição contrária às recomendações técnicas da OMS, entendo que isso poderia configurar verdadeira hipótese de imperícia do gestor, apta a configurar o erro grosseiro".
"Já manifestei — e manifesto novamente — que a Constituição Federal não autoriza ao Presidente da República ou a qualquer outro gestor público a implementação de uma política genocida na gestão da saúde", escreveu o ministro.
No dia 11 de julho, o mesmo ministro voltou a tocar no assunto, abrindo uma crise entre o Planalto e o STF. De acordo com os documentos submetidos ao tribunal, "considerando o fato de, mais de duas dezenas de cargos técnicos no Ministério da Saúde estarem sendo ocupados por militares sem qualquer formação na área de saúde, assim (Gilmar Mendes) se manifestou:
"Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara: o Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável. É preciso pôr fim a isso".
"Assim, por mais de uma vez, membro do Supremo Tribunal Federal, associa as políticas públicas de saúde à "genocídio", declarou o documento enviado para Haia. A referência de Gilmar Mendes era uma das preocupações do Palácio, justamente pelo peso que o termo genocídio poderia ter vindo de um ministro da corte suprema.
A documentação submetida ao tribunal ainda aponta como o país está há mais de dois meses sem um titular na pasta da saúde, "no meio da maior crise sanitária do último século, que já ceifou mais 80 mil vidas e deixou mais de 2 milhões de pessoas doentes até o dia 23 de julho no país".
O texto relata as disputas entre os diferentes ministros e o presidente e como o General Eduardo Pazuello "abandonou a defesa do distanciamento social mais rígido e passou a recomendar tratamentos para a covid-19 sem aval de entidades médicas e científicas, como o uso da "cloroquina e hidroxicloroquina".
"Em agravamento, a pasta ainda perdeu técnicos com décadas de experiência no SUS e nomeou militares para cargos estratégicos", diz o documento.
"Com a interinidade no Ministério da Saúde, o controle ao combate ao avanço da pandemia, se mostra totalmente abandonado, exigindo de governadores e prefeitos a tomada de medidas que necessariamente deveriam estar capitaneada pelo Poder Executivo. Em 53 anos, é a primeira vez que o Brasil se mostra sem ministro da Saúde efetivo", dizem.A Flourish data visualisation
Enfermagem com vítimas
A queixa ainda destaca como o comportamento do governo tem custado vidas entre os profissionais de saúde.
"Há quatro meses, a Rede Sindical Brasileira UNISaúde começou a exigir uma resposta mais contundente à crise, como o fornecimento de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) de qualidade aos profissionais de saúde, os mais atingidos durante a pandemia, e testagem aos assintomáticos, e essa reivindicação se tornou mais urgente agora. A coalizão quer que o governo brasileiro seja coibido de continuar agindo de forma tão negligente", destacam.
Ana Paula Gonçalves Maia, técnica de enfermagem e delegada sindical do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Belo Horizonte e Região (Sindeess), espera que a denúncia no tribunal internacional dê mais atenção aos trabalhadores da saúde, especialmente aos profissionais de enfermagem. "Estamos num campo de guerra onde não sabemos se vamos viver ou morrer", disse.
Usando os números do próprio Ministério da Saúde, entre os dias 12 a 18 de julho, 96 mil enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem estavam contaminados, sendo os mais atingidos entre os profissionais de saúde.
"O número de óbitos desses trabalhadores, no dia 24, chegava próximo de 300, conforme o Observatório da Enfermagem do Cofen (Conselho Federal de Enfermagem)", destacam.
A enfermeira Líbia Bellusci, que é vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro (Sindenf-RJ) e que contraiu a Covid-19 no exercício de suas funções, alerta que o governo brasileiro tem adotado uma postura de banalizar a pandemia.
"No começo, o próprio presidente disse que (a covid-19) era uma gripezinha e, depois, quando o Brasil já somava milhares de mortes, disse: 'E daí?", afirmou.
"A postura dele acabou inviabilizando a celeridade no processo de cuidar e de proteger os trabalhadores da saúde e a população. Só com a denúncia internacional vamos conseguir mostrar que as entidades da saúde estão unidas em favor da classe trabalhadora, pois hoje, nós, da enfermagem, lideramos o ranking de mortes de profissionais da saúde", disse Líbia, que trabalha no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.
Sofia Rodrigues do Nascimento, diretora-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Campinas e Região (Sinsaúde Campinas e Região), é outra que culpa o governo pela dimensão da crise. Segundo ela, o presidente "não deu a assistência necessária à nação".
"Se tivesse tido a assistência antes, um acolhimento, uma providência do governo federal, a doença não teria se alastrado tanto. Hoje, os trabalhadores da saúde têm trabalhado doentes e muito preocupados com o amanhã", afirmou.
Jhuliana Rodrigues, técnica de enfermagem e vice-presidente da mesma entidade, espera que a denúncia dê "visibilidade para o que acontece atrás das paredes dos hospitais".
A profissional trabalha no Hospital São Vicente em Jundiaí, interior de São Paulo. Há quatro meses sem ver a filha de 11 anos, ela disse que a própria rotina no trabalho está mais desumanizada, não por culpa dos profissionais, mas do medo que eles sentem.
"É muito difícil assumir um plantão. A gente encontra os colegas e sente uma energia pesada, de muita pressão", desabafou.
"Não há mais conversas, interação, trabalhamos com medo do outro. É muito triste trabalhar 12 horas sem ter segurança, suporte emocional. Por isso, creio que a denúncia seja uma forma de expressarmos nossas aflições e nosso lado humano, pois estamos sofrendo muito com tudo isso", completou.
De acordo com Morzane, essa não é a primeira vez que os sindicatos se queixam. Listas de demandas já foram apresentadas ao governo e, hoje, a constatação é de que a resposta foi a "omissão"."Bolsonaro colocou seu exército numa guerra sem equipamento e nem os armamentos necessários", disse.
No total, a iniciativa tem o apoio de mais de 50 entidades brasileiras e estrangeiras. Além dos sindicatos do setor, a queixa é ainda assinada pela Internacional dos Serviços Públicos (ISP), a União Geral dos Trabalhadores (UGT), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), e movimentos sociais.
Jamil Chade: Cruzada ultraconservadora do Brasil na ONU
Após se aliar a Arábia Saudita contra inclusão de educação sexual em resolução, delegação brasileira veta expressão "saúde reprodutiva" em texto contra ablação, isolando país

É um mergulho ideológico sem precedentes na diplomacia brasileira. O Governo de Jair Bolsonaro, que já havia se aliado a países ultraconservadores como a Arábia Saudita para vetar a inclusão do termo “educação sexual” em uma resolução na ONU contra a discriminação de mulheres e meninas, agora se opõe a citar “saúde sexual e reprodutiva” num texto proposto por países africanos para banir a mutilação genital feminina. Ainda que o Governo brasileiro defenda lutar contra esse flagelo que atinge cerca de 3 milhões de meninas por ano, a conduta do Itamaraty vem sendo a de pedir a exclusão de qualquer referência ao acesso das mulheres à “saúde sexual e reprodutiva”. O temor da nova ultraconservadora representação do Brasil é que, no futuro, a expressão seja usada para justificar práticas de aborto. Os autores dos textos negam qualquer relação com a interrupção da gravidez e apontam que, no caso da mutilação, tal acesso pode significar a diferença entre a vida e a morte dessas mulheres.
O posicionamento do Governo brasileiro gerou a incompreensão de diplomatas estrangeiros e foi recebido com choque pelas demais delegações. Em Brasília, na sede do Itamaraty, as orientações dadas pela cúpula do ministério também causaram indignação dos próprios funcionários na capital federal. A conduta também vem isolando o Brasil na América Latina, já que o Itamaraty agora é visto como retrógrado pelos países africanos e como bárbaro pelos Governos europeus. O Governo do esquerdista Antonio Manoel López Obrador, do México, por exemplo, chegou a propor a garantia de direitos à saúde sexual para essas meninas submetidas à ablação genital, numa direção diametralmente oposta ao que os diplomatas brasileiros vem sugerindo.
O episódio que turva o debate da resolução contra a mutilação genital, prevista para ir a voto na semana que vem no Conselho de Direitos Humanos da ONU, está longe de ser inédito. A guinada ultraconservadora do Governo brasileiro vem sendo aplicada em diversas reuniões e propostas sob debate nas Nações Unidas. O Itamaraty passou a traduzir em sua política externa uma visão em que só existe o sexo biológico e que não existiria consenso sobre o acesso à saúde sexual e reprodutiva. Termos como “gênero” e “identidade” já tinham também sido questionados.
No entanto, o que surpreendeu os demais países é que, nesse caso, todos os estudos apontam para a importância do tema da saúde sexual e reprodutiva justamente no combate à mutilação genital, que é o corte ou a remoção deliberada de parte da genitália feminina externa —frequentemente lábios vaginais e o clitóris.
Segundo a OMS, 200 milhões de meninas e mulheres vivem em países que praticam a mutilação. A maioria das vítimas tem entre zero e 15 anos de idade e a prática é considerada violação de direitos humanos. Concentrada em países africanos e do Oriente Médio, estima-se que a mutilação poderia atingir 3 milhões de meninas por ano. A agência de Saúde das Nações Unidas explica que a mutilação é “visa assegurar a virgindade pré-matrimonial e a fidelidade conjugal”. “Em muitas comunidades acredita-se que a mutilação reduz a libido de uma mulher e, portanto, ajuda a resistir a atos sexuais extraconjugais”, segue a OMS .
Para a agência e para especialistas, o acesso de mulheres à saúde sexual e reprodutiva, a que o Brasil se opõe, é um importante instrumento para garantir o direito dessas meninas. Num estudo realizado em 2017, a Escola de Medicina Tropical de Liverpool indicou que “aumentar a saúde sexual e reprodutiva de mulheres afetadas pela mutilação só será possível se tomadores de decisão colocaram isso como prioridade”. Entidades como aInternational Planned Parenthood Federation (IPPF) defendem que acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutivos seja garantido a todas as mulheres que são submetidas a tal prática.
Contra a educação sexual
A indignação com a guinada da diplomacia brasileira já havia aparecido nos últimos dias. Numa resolução que propõe uma luta contra a discriminação contra mulheres, o Itamaraty também levantou sua placa para dizer que não estava de acordo com termos. O veto brasileiro, neste caso, foi apoiado por Governos ultraconservadores e acusados de violação aos direitos das mulheres. A mesma posição do Itamaraty foi adotada por Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Iraque, Paquistão e Iraque. Já todos os ocidentais saíram em apoio ao projeto, proposto pelo México.
No caso da resolução sobre discriminação, o trecho sob disputa cita a garantia de acesso universal à educação sexual. Assim como nos demais casos, o Governo Bolsonaro não explicou o motivo de seu posicionamento.
O projeto toca em assuntos como a necessidade de “eliminar todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas”. A meta é a de reforçar a luta pela igualdade de gênero como um dos objetivos das metas de 2030. O texto também deve ir à votação na semana que vem.
Não é a única mudança no projeto solicitada pelo Brasil. Um outro trecho que o Governo quer sua exclusão completa reconheceria que “a gama completa de informações e serviços de saúde sexual e reprodutiva inclui planejamento familiar, métodos seguros e eficazes de contracepção moderna, anticoncepção de emergência, programas de prevenção da gravidez adolescente, assistência à saúde materna, tais como assistência qualificada ao parto e assistência obstétrica de emergência, incluindo parteiras para serviços de maternidade, assistência perinatal, aborto seguro onde não seja contra a legislação nacional, assistência pós-aborto e prevenção e tratamento de infecções do trato reprodutivo, infecções sexualmente transmissíveis, HIV e cânceres reprodutivos”.
A pressão dos Governos islâmicos e o Brasil, porém, não convenceu os autores do projeto a aceitar sua retirada do rascunho do projeto. Ao tomar a palavra, o Governo do México afirmou que seria “difícil” excluir o parágrafo inteiro e alertou que retirar o capítulo de saúde e acesso à saúde reprodutiva minaria o centro da resolução, que é lutar contra a discriminação sofrida por mulheres e meninas.
O impasse entre o bloco ultraconservador e o restante dos Governos deve levar o projeto a ser alvo de intensas negociações nos bastidores até a semana que vem. Num outro trecho do projeto, o Governo brasileiro ainda fez um pedido para que seja reconhecido o papel de entidades religiosas na formulação de políticas públicas para a defesa das mulheres e da igualdade de gênero.
Num outro trecho, o Brasil apoiou Afeganistão e Nigéria ao questionar uma referência no texto a “outros fatores de identidade”. A postura do Itamaraty de aproximação aos Governos mais conservadores tem sido alvo de polêmicas dentro da ONU, que considerava o Brasil como um dos aliados tradicionais no avanço dos direitos das mulheres.
A atitude do governo brasileiro voltou a surpreender ativistas de direitos humanos. “O Brasil mais uma vez dá um vexame internacional e se firma no grupo de países que adotam as posturas mais retrógradas nas discussões sobre gênero nas Nações Unidas”, afirmou Camila Asano, diretora de programas da Conectas Direitos Humanos. “A postura do órgão não condiz com as políticas adotadas no Brasil há anos e com os compromissos internacionais assumidos pelo país em matéria de gênero e direitos sexuais e reprodutivos”, disse.
Durante a reunião na semana passada para apresentar seus vetos, o Governo brasileiro tomou a palavra e explicou que tais termos “geram controvérsias”. O Governo também insistiu que “rejeita a prática do aborto como um método contraceptivo. “Planejamento familiar é um assunto de liberdade do casal e o Estado é responsável por prestar recursos a esse direito, sem coerção”, completou.
Jamil Chade: Não esperem pelos tanques
Hoje, a morte da democracia ocorre de maneira lenta, constante e planificada. Ela morre em cada ato de ameaça contra os demais poderes e o amplo uso das redes sociais para intimidar juízes, deputados ou qualquer voz dissonante
Os primeiros sinais de uma onda de movimentos pró-democracia começam a ganhar corpo no Brasil. A sociedade se organiza, justamente um dos maiores temores daqueles no poder. Mas diferentemente do que foram as cenas no século 20, um golpe de estado dificilmente ocorrerá numa fria madrugada a partir de um quartel onde tenentes irão se rebelar para proteger os cidadãos de bem contra a suposta ameaça comunista.
Hoje, a morte da democracia ocorre de maneira lenta, constante e planificada. Ela ocorre todas as vezes em que um conselho é esvaziado, quando mecanismos de controle e prevenção da tortura são desmontados, quando orçamentos para proteger o meio ambiente são cortados e quando, a cada fala, o Executivo deixa claro que a imprensa é a inimiga. Ela morre em cada ato de ameaça contra os demais poderes e o amplo uso das redes sociais para intimidar juízes, deputados ou qualquer voz dissonante.
Steven Levitsky, autor do best-seller Como as Democracias Morrem (Zahar) e professor da Universidade de Harvard, já demonstrou isso em outras partes do mundo.“O recuo democrático hoje começa nas urnas”, diz o especialista. “O caminho eleitoral para o colapso é perigosamente enganoso. Com um clássico golpe de Estado, como no Chile de Pinochet, a morte de uma democracia é imediata e evidente para todos. O palácio presidencial arde. O presidente é morto, preso ou enviado para o exílio. A constituição é suspensa ou desmantelada”, escreve.“No caminho eleitoral, nenhuma dessas coisas acontece. Não há tanques nas ruas. As constituições e outras instituições nominalmente democráticas continuam em vigor. As pessoas ainda votam. Os autocratas eleitos mantêm uma fachada da democracia enquanto evisceram sua substância”, aponta.
“Muitos esforços governamentais para subverter a democracia são “legais”, no sentido de que são aprovados pelo legislativo ou aceitos pelos tribunais. Eles podem até ser retratados como esforços para melhorar a democracia ― tornando o judiciário mais eficiente, combatendo a corrupção ou limpando o processo eleitoral”, completa.
Não há como esconder a realidade: as brechas estavam dadas. Se a democracia é a promessa de que cidadãos tenham o controle do futuro em suas mãos, a crescente desigualdade, desemprego e falta de perspectivas permitiu que vendedores de ilusões e charlatães usassem as urnas para convencer os eleitores que a democracia era apenas um esquema perverso de controle da elite. Uma vez no poder, a resposta que oferecem, porém, não é o restabelecimento da democracia.
No Brasil, os golpes diários foram traduzidos numa redução do espaço cívico, na dificuldade cada vez maior em se ter acesso à informação, no corte de orçamentos para serviços públicos, na transformação da imagem de defensores de direitos humanos em “inimigos da nação”, na deliberada tentativa do governo em desmontar órgãos de fiscalização ou nas repetidas ofensivas para promover uma ingerência na independência das forças de ordem.
Na ONU, no Parlamento Europeu, na OCDE e em tantas outras instituições internacionais, tais ações do governo vem sendo alvo de alertas, de denúncias e de queixas. O mundo, sim, está acompanhando de perto o que ocorre no Brasil.
Também é acompanhado de perto por especialistas sobre o controle civil sobre as forças armadas como, no Brasil, o inverso vem ocorrendo. Hoje, a Esplanada dos Ministérios está em parte militarizada. Dos 22 ministros, nove são militares. Quase três mil homens ainda foram cedidos pelas diferentes forças para ocupar cargos nas administrações públicas com cargos de confiança, um recorde. Em recente levantamento, o jornal Folha de S. Paulo mostrou como o Planalto transformou o Exército na maior empreiteira do país, com uma carteira com 1 bilhão de reais de projetos em execução.
É certo que a inaptidão de quem hoje está no poder hoje no Brasil pode acabar causando um atrapalhado e acidental golpe tradicional, com consequências dramáticas.
Mas a resistência não pode esperar isso ocorrer para reagir. Levistky, mais uma vez, nos mostra o caminho: “A história não se repete. Mas rima. A promessa da história é que podemos encontrar as rimas antes que seja tarde demais”.
Esperar pelo “Medico della Peste” é inútil, já que sua presença se limita a constatar que não há como salvar o paciente.
Não esperem pelos tanques. Eles talvez nunca virão. Mas, no topo do morro e antes do sol nascer por completo, já se pode ver os contornos dos coveiros com suas mãos inchadas cavando os fossos da liberdade.
Jamil Chade é correspondente na Europa desde 2000, mestre em relações internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra e autor do romance O Caminho de Abraão (Planeta) e outros cinco livros.
Jamil Chade: A legitimidade do Governo Bolsonaro acabou mundo afora
A placa com o nome “Brazil” continuará a ser ocupada nas mesas da ONU por embaixadores que representam o Governo, mas sua legitimidade acabou
Thomas Hobbes deixa claro que a liderança política é considerada como legítima na medida em que o soberano garanta a proteção de seus cidadãos. Se isso não ocorrer, o acordo pode ser desfeito e a autoridade perde sua legitimidade em governar. Esse é, no fundo, o coração do contrato social.
No campo das relações internacionais, há ainda um amplo debate sobre a legitimidade externa de um governo, com repercussões sobre seu assentos nas instituições multilaterais e sua capacidade de ser reconhecido como um interlocutor genuíno.
Em muitos sentidos, o Brasil atravessa esse debate.
Internamente, decisões e comportamentos revelaram que o governo não está interessado em assegurar a proteção de seus cidadãos. Seja na Amazônia, seja na periferia das grandes cidades.
A cada cova cavada, a legitimidade original obtida nas urnas é desmanchada. A cada ataque contra a imprensa, ela é diluída. A cada proposta de intervenção nas forças de polícia, tal direito adquirido é suspenso. A cada perdão de multas ambientais, sua autoridade é transformada em abuso de poder.
Ao colocar seus generais para ameaçar a lei, ao declarar abertamente que sua família está acima do direito, ao gargalhar ao ouvir de seu ministro que cada cidadão terá de se apanhar para sobreviver ou ao disparar mentiras nas redes sociais, o governo vê refletido no chão sua sombra: a silhueta do cadáver da democracia.
No plano internacional, a atual resposta do governo Bolsonaro à pandemia se soma a uma série de desastres em sua política externa. O país já havia sido colocado no centro do debate ao adotar uma postura negacionista em relação ao clima. A deterioração da imagem se aprofundou quando o presidente passou a ofender líderes estrangeiros e fazer apologia a ditadores acusados de crimes contra a humanidade.
Em diversas ocasiões, ele foi preterido por outros presidentes sul-americanos em reuniões internacionais, inclusive no G-7. O resultado passou a ser um país dependente dos mestres em Washington e, em relação ao restante do mundo, isolado.
Mas Bolsonaro —e sua rejeição em aceitar a gravidade da pandemia— transformou o país em algo mais sério que pária internacional: um risco sanitário.
Uma a uma, suas principais teses estão sendo rejeitadas pela ciência. Depois da queda de dois ministros da Saúde, o governo trocou o protocolo para incluir a cloroquina em suas recomendações. Na mesma semana, um estudo da revista científica The Lancet chegou à conclusão de que os riscos para a saúde superam as evidências positivas.
A OMS (Organização Mundial de Saúde), dias depois, optou por suspender temporariamente todos os testes com o remédio, medida que foi seguida pela França.
O distanciamento social também foi chancelado pela agência, indicando que não há prova de que um país com intensa transmissão simplesmente verá o desaparecimento do vírus. A única saída para um país que não tem ampla capacidade de testas, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a adoção de medidas sociais, como quarentenas ou lockdown.
Em termos políticos, o cenário é consequência do que o governo semeou. Em abril, o Itamaraty ficou de fora de uma aliança mundial criada para desenvolver uma vacina. Constrangidos em Brasília, os diplomatas sequer sabiam que tal mecanismo estava sendo criado.
Semanas depois, os protagonistas na reunião anual da OMS em meados de maio passaram a ser os presidentes da Colômbia e Paraguai, todos comprometidos em lutar contra o vírus. A diplomacia brasileira se recusa a informar sequer se houve um convite a Bolsonaro para ser um dos participantes.
Foi apenas no final do mês, quando o Brasil já tinha se transformado no novo epicentro da doença, que o Itamaraty sinalizou que faria parte da iniciativa da OMS para o compartilhamento de informações e desenvolvimento da vacina. Ainda assim, a adesão foi feita como coadjuvante, deixando países como a Costa Rica e Equador como protagonistas na liderança do projeto e assumindo uma posição que tradicionalmente era do Brasil.
Também chamou a atenção nos bastidores da diplomacia o fato de que o Brasil não fez parte dos líderes internacionais que, nesta semana, iniciaram os trabalhos para redesenhar a economia mundial. A iniciativa lançada na ONU com mais de 50 países contou ainda com um recado por parte do secretário-geral da entidade, Antonio Guterres, contra presidentes que se recusem a aceitar a gravidade da crise: abandonem a “arrogância”.
Mas essa exclusão não ocorreu por acaso. Ela foi resultado de semanas de ataques por parte do governo brasileiro contra a OMS, sugerindo que a entidade fizesse parte de um “plano comunista” para permitir uma maior influência da China num mundo pós-pandemia.
Em reuniões fechadas ou mesmo em público, o chanceler Ernesto Araújo vem defendendo a tese de que o vírus do comunismo precisa ser enfrentado, o que lhe valeu chacotas de seus próprios embaixadores espalhados pelo mundo.
No fim de semana, mais um golpe. E desta vez por parte do principal aliado: os EUA. O governo de Donald Trump anunciou a proibição de voos de brasileiros para os aeroportos americanos. Ainda que a medida tenha sido vendida pelo governo de Bolsonaro como uma questão “técnica”, a decisão desmontou a tese do Planalto de que existiria uma relação privilegiada entre Washington e Brasília.
A medida, aos olhos do restante do mundo, também foi interpretada como um sinal de que a pandemia, no Brasil, está hoje fora de controle.
Bolsonaro ainda terá de se explicar diante da ONU. O relator das Nações Unidas, Baskut Tuncak, decidiu ampliar suas investigações sobre o Brasil e incluir as respostas do governo à covid-19 em seu informe que apontará para as violações de direitos humanos cometidas pelo governo ao não proteger sua população.
O gesto promete aprofundar uma imagem já desgastada e levantar questões sobre a responsabilidade legal do governo diante das mortes.
Outros dois relatores também já criticaram o governo, deixando o Itamaraty irritado com a nova onda de pressão internacional. Até mesmo a Alta Comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alertou que, se a postura negacionista do governo tivesse sido evitada, vidas teriam sido salvas. No Tribunal Penal Internacional, queixas também foram submetidas.
Enquanto isso, no Parlamento Europeu, deputados têm proliferado cartas à Comissão Europeia pedindo que o bloco reveja suas relações com o Brasil. Na Alemanha, deputados deixam claro que não há, hoje, como ratificar o acordo comercial entre UE e o Mercosul.
Numa sociedade que começa a abrir suas portas, a Europa se depara nas prateleiras de jornais com fotos de Bolsonaro são acompanhadas por palavras como “caos”, “catástrofe”, “morte” e “populismo". Não faltaram ainda protestos, como o que um artista organizou na fachada da embaixada do Brasil em Paris, sede justamente de um dos diplomatas mais vocais na defesa do bolsonarismo.
E, assim, o governo perdeu sua legitimidade. Interna, ao romper o contrato social com uma parcela enorme da população. E, externa, ao violar deliberadamente acordos costurados para proteger o planeta.
A placa com o nome “Brazil” continuará a ser ocupada nas mesas da ONU por embaixadores que representam o governo Bolsonaro pelo mundo. E, internamente, o presidente continua em seu palácio.
Mas sua legitimidade acabou.
Jamil Chade é correspondente na Europa desde 2000, mestre em relações internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra e autor do romance O Caminho de Abraão (Planeta) e outros cinco livros.
Jamil Chade: Em carta ao G-20, ONU fala em risco de pandemia "apocalíptica"
Numa carta enviada ao presidente Jair Bolsonaro e aos demais líderes do G-20 na segunda-feira (23), o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, apela para que as maiores economias do mundo se unam para dar uma resposta à crise gerada pelo coronavírus e que saiam ao resgate dos países mais pobres do mundo.
Caso contrário, o documento obtido pela coluna alerta para o risco de que o mundo seja atingido por uma "pandemia de proporções apocalípticas".
O G-20 irá manter uma reunião extraordinária nesta semana, ainda que encontros entre ministros tenham demonstrado a dificuldade do grupo em achar um plano comum.
Segundo Guterres, o mundo espera do G-20 "uma ação decisiva". Em sua avaliação, mesmo os países ricos enfrentam desafios e o impacto sócio-econômica será profundo.
O chefe da ONU também fala abertamente em uma recessão e indica que o Covid 19 vai exigir uma "resposta como nunca antes". "Um plano de guerra em termos de crise humana", disse na carta.
Para ele, o G-20 tem a oportunidade de demonstrar "solidariedade" com o mundo, especialmente com os mais vulneráveis.
Guterres divide a resposta em diferentes etapas. A primeira delas é de saúde, com uma cooperação capaz de "suprimir o vírus". Mas, para que isso ocorra, o vírus precisara derrotado em todas as partes do mundo.
Nos últimos dias, o governo americano tem usado o vírus para atacar a China, aprofundando a crise internacional. Para Guterres, o momento é de união e de cooperação para testar pessoas com sintomas e isola-los, fazer avançar a ciência e lidar com restrições de movimentos.
A ONU também pede coordenação para garantir que suprimentos médicos possam continuar a circular pelo mundo, que os governos se comprometam a não barrar a exportação de equipamentos e remédios e que os locais mais necessitados sejam auxiliados. Guterres também defende que países em desenvolvimento tenham acesso a recursos para dar uma resposta aos bilhões de habitantes nessa região do mundo.
"Qualquer coisa que não atenda esse compromisso poderia levar a uma pandemia de proporções apocalípticas afetando a todos nós", escreveu o secretário-geral.
Ele também pede que as sanções impostas sobre países sejam suspensas para permitir o acesso a alimentos e remédios.
Estímulo
Guterres também pede que governos adotem planos de estímulo para minimizar os impactos sociais. Segundo ele, a crise vai ser medida em "trilhões de dólares" e o G-20 terá de injectar recursos de mais de 10% do PIB mundial.
Ele também pede que regras fiscais sejam ignoradas. "Estamos em um período sem precedentes", disse.
Para ele, não há uma crise bancária e, portanto, a ajuda terá de ser focada em pessoas e famílias. Algumas ações neste sentido têm sido adotadas. Mas ele aponta que não são suficientes.
"Peço aos líderes do G-20 que considerem um pacote urgente de grande escala de trilhões de dólares", disse. O dinheiro precisa chegar às pequenas empresas, trabalhadores e famílias. Isso inclui perdão de dívidas, incentivos fiscais, queda de taxa de juros, crédito e apoio a salários.
Em sua avaliação, o G-20 também precisa estabelecer um pacote para ajudar os países mais pobres, inclusive para que possa se proteger. Sua tese é de que se o vírus se proliferar nas áreas mais pobres do mundo, a possibilidade de o erradicar fica afastada.
Nesta quarta-feira, Guterres ainda lançará um apelo global para que um resgate humanitário seja estabelecido.
Outro apelo do chefe da ONU aos líderes do G-20 se refere ao modelo de recuperação a ser adotado. Para ele, a economia mundial precisa criar uma estratégia de desenvolvimento mais inclusiva e sustentável.
"A crise atual é um lembrete do destino comum da humanidade e da necessidade de investimentos para reduzir os riscos catastróficos de uma pandemia", disse. Para ele, uma resposta devem envolver investimentos em saúde pública e redes de proteção.
"A crise financeira de 2008 demonstrou que os países com sistemas de proteção social robustos foram os que menos sofreram e se recuperaram mais rapidamente de seu impacto", disse.
"Estou convencido de que só a coordenação internacional pode evitar o pior cenário possível. Uma mensagem unificada de ação concertada dos líderes do G-20 é agora mais do que nunca necessária", completou.