HENRIQUE BRANDÃO
Revista online | O falso moralismo do neosertanejo
Henrique Brandão*, especial para a revista Política Democrática online (45ª edição: julho/2022)
Recentemente, uma polêmica tomou as páginas dos jornais e invadiu as redes sociais. Tudo por conta do discurso autocelebrativo do cantor sertanejo Zé Neto: "Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no 'toba' para mostrar se a gente está bem ou mal", disse, referindo-se a uma tatuagem da cantora Anitta. Ela retrucou, denunciando que os sertanejos recebiam cachês milionários das prefeituras.
De fato, a frase de Zé Neto foi dita durante um show em Sorriso, cidade de Mato Grosso, com pouco mais de 90.000 habitantes, pelo qual recebeu R$ 400 mil da prefeitura.
O desafio de um país que trata cultura com descontinuidade política
A inflamada declaração do cantor e a reação de Anitta acabaram repercutindo nas redes e chamaram a atenção do Ministério Público (MP), que puxou o fio da meada e descobriu que Zé Neto e seu parceiro de dupla, Cristiano, recebem verbas milionárias de prefeituras de pequenas e médias cidades do interior para se apresentar.
O esquema revelou uma prática explorada com frequência pelos músicos sertanejos. Só em Mato Grosso, o MP anunciou que vai investigar outras 23 prefeituras do Estado que pagaram mais de R$ 1 milhão por shows do gênero.
Atacar a Lei Rouanet e denunciar outros artistas que recebem dinheiro por meio de seu mecanismo é o esporte preferido de artistas bolsonaristas. No caso de Zé Neto, faltou ele dizer que o seu cachê foi pago com dinheiro público.
A coisa funciona assim: a prefeitura decide qual cantor ou grupo quer contratar e o faz sem licitação. A dispensa ocorre porque há apenas um fornecedor do serviço, que é o artista em questão. Rastrear a origem do dinheiro e, principalmente, descobrir a planilha de gastos desses eventos é difícil, pois as prefeituras dão pouca transparência aos gastos. E, assim, de município em município, os agraciados com a verba pública enchem o bolso.
A comparação desse esquema com a Lei Rouanet é, no mínimo, equivocada. Ao contrário da facilidade com que a verba municipal usufruída pelos artistas sertanejos é liberada, quem pretende levantar recursos, por meio da lei federal, enfrenta uma via crucis na burocracia até ter seu projeto aprovado. No momento em que faz a proposta, é preciso detalhar todos os gastos para a realização do projeto. Tudo é checado e controlado, além de publicado em um portal. Concluído o projeto, há uma rigorosa prestação de contas.




















Com autorização do governo, o produtor tem que correr atrás de empresas aptas a financiar o projeto, com recursos de impostos devidos, advindos de renúncia fiscal.
A Lei Rouanet surgiu em contraposição à débâcle que foi o governo Collor para a cultura. Contra o estrangulamento do setor, lançou-se mão de uma lei de uso do imposto devido para o financiamento de projetos para a área. Há regras públicas e critérios para a seleção. A lei vinha, ao longo do tempo, sendo debatida e aperfeiçoada. Com Bolsonaro, e suas fake news, foi tudo jogado ao mar e estigmatizado.
Se Zé Neto soubesse que atrairia os holofotes por seu comentário indelicado a respeito de Anitta, provavelmente teria ficado de boca fechada. O rebuliço acabou atingindo outros figurões desse gênero musical. Que o diga Gusttavo Lima, bolsonarista que lota shows em feiras agropecuárias, onde é comum defender Deus, pátria e família entre uma música e outra. Surpreendido com a mão na cumbuca, fez chororô nas redes ao saber que o MP investigaria suas apresentações.
O Brasil deixou há muito de ser um país essencialmente agrário. O caipira de hoje não é mais aquele ingênuo personificado por Mazzaropi nos cinemas. O sucesso do agronegócio moldou um novo perfil. O cowboy norte-americano moderno é agora o ícone – self made man com uma pistola na cintura, vastas terras, hipervalorização do dinheiro e valores conservadores. Preservação ambiental, para ele, é pasto para o gado. A referência é J.R. Ewing, o magnata texano da série “Dallas”, sucesso mundial dos anos de 1980.
Tudo isso trouxe à baila uma estética também nova: saem Pena Branca e Xavantinho, já falecidos; adeus Milionário e Zé Rico, com um Brasil cantado em moda de viola. Foram substituídos por um sertanejo anódino, que cresce que nem mato ruim.
Mas, curiosamente, hoje existe um Brasil caipira que é um contraponto às duplas sertanejas. Ele é consumido na tela de TV, na novela “Pantanal”. Começa pela trilha sonora, repleta de Almir Sater, Renato Teixeira e outros poetas do sertão. A natureza aparece em todo seu esplendor, valorizada.
O que vemos na telinha não é um Jardim do Éden, longe disso, nem tampouco um retrato realista do país. Se tivesse que escolher, no entanto, arriscaria dizer que é melhor para a saúde do brasileiro assistir a um capítulo de “Pantanal” do que ter que encarar um show do neosertanejo, com suas consoantes repetidas e a hipocrisia do falso discurso moralista,
Sobre o autor
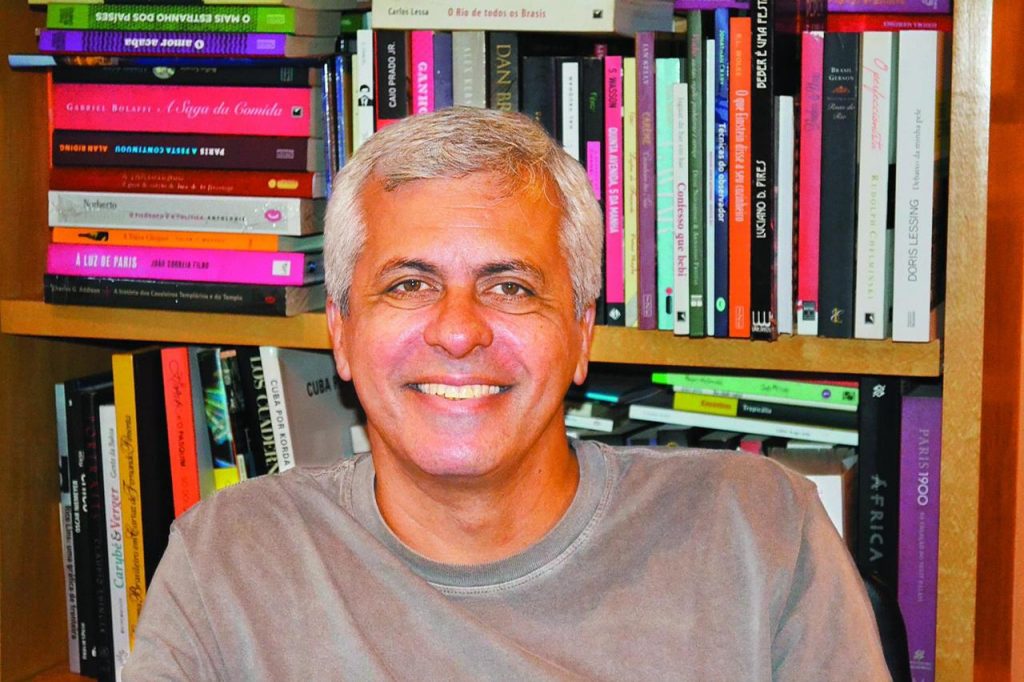
*Henrique Brandão é jornalista e escritor
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de julho/2022 (45ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
Leia também
Revista online | Bolsonaro nos Estados Unidos: a normalização diplomática como narrativa de campanha
Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online
Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online
RPD 33 || Henrique Brandão: Nelson Sargento, a mais alta patente do samba
O grande Nelson Sargento, patrimônio inquestionável do samba e figura emblemática de um modo de ser carioca. Admirado, tanto por moradores dos morros quanto do asfalto, faleceu aos 96 anos, no dia 27 de maio.
Sua partida deixou órfãos aqueles que admiravam seu samba e se divertiam com as inúmeras histórias que contava, sempre carregadas de frases originais e imagens que ele mesmo criava. “Ainda não estou dando comida para bicicleta”, costumava dizer para afirmar que estava lúcido, com a cabeça boa, apesar da idade avançada.
Embora associado à Estação Primeira de Mangueira, Escola de Samba da qual foi baluarte e presidente de honra, Nelson, com seu carisma, extrapolava o universo da Verde e Rosa: era reverenciado em qualquer agremiação, seja qual fosse a cor do estandarte. Sempre elegante, ele circulava com desenvoltura em qualquer ambiente que gravitasse em torno do samba: das quadras das escolas às rodas espalhadas pelos diversos bairros do Rio de Janeiro. A geração formada no movimento de renascimento da Lapa, que teve o samba como força motriz, o tinha em alta conta. Reconhecia nele uma figura importante, como não só um dos últimos representantes de uma época heroica, mas também uma pessoa que dialogava e convivia de igual para igual com as novas gerações de sambistas, sem qualquer traço de empáfia.
Nascido Nelson Matos – o apelido Sargento vem da década de 1940, quando serviu no Exército –, passou a infância no Morro do Salgueiro, na Tijuca. Mudou-se para a Mangueira aos 12 anos, quando sua mãe foi viver com o pintor de paredes, Alfredo Lourenço, conhecido como “Português”. Foi morar no Chalé, uma localidade que ficava bem no alto do Morro da Mangueira. Com seu peculiar humor, dizia para quem o queria visitar: “se virar o morro de cabeça para baixo, minha casa é a segunda, à esquerda de quem sobe.”
Já com o apelido incorporado ao nome artístico, Nelson Sargento iniciou a carreira de compositor na Estação Primeira. Tinha como parceiro o padrasto, que também o introduziu no ofício de pintor. Juntos, fizeram os sambas-enredo com os quais a escola conquistou o bicampeonato de 1949/50. Em 1955, compuseram Cântico à natureza, considerado um dos mais bonitos sambas-enredo de todos os tempos (“Oh, primavera adorada! /Inspiradora de amores/Oh, primavera idolatrada! / Sublime estação das flores”).
O início da carreira de sambista, para além da quadra mangueirense, começou nos anos de 1963/65, no Zicartola (acrônimo de Zica e Cartola), restaurante na Rua da Carioca que foi ponto de encontro de bambas, jovens universitários e intelectuais.
Por conta dessa experiência, em 1965, foi convidado por Hermínio Bello de Carvalho e Elton Medeiros para participar do show Rosa de Ouro, ao lado de Paulinho da Viola, do próprio Elton Medeiros, de Anescarzinho e de Jair do Cavaquinho. Em entrevista ao O Globo em 2019, Nelson lembra daquele momento: “O Elton foi em Mangueira e deixou um recado para eu ir ao Teatro Jovem (local do show), para um trabalho. Como eu era pintor de paredes, na época, achei que seria para pintar o teatro. Só quando cheguei lá soube que precisavam de mais um compositor de samba para o grupo do espetáculo (…). Continuei pintando minhas paredes, mas dali em diante fui conhecendo mais gente e comecei a me profissionalizar”.
A convivência com a Velha Guarda da Mangueira foi fundamental para torná-lo um compositor respeitado. De todos, Cartola desempenhou papel decisivo. “Cartola não existiu, foi um sonho que a gente teve”, costumava repetir em seus shows.
Assim como seus pares de geração, Nelson Sargento demorou para construir uma discografia própria. Seu primeiro álbum solo, Sonho de um Sambista, é de 1979, gravado no embalo do sucesso que fez no ano anterior: Agoniza mais não morre, na voz de Beth Carvalho (1946-2019). Virou seu samba mais famoso, hoje um clássico (“Samba, agoniza, mas não morre/alguém sempre te socorre/Antes do suspiro derradeiro”). Nesse mesmo disco lançou Falso Amor Sincero, uma música com o bom humor característico do sambista (“O nosso amor é tão bonito / Ela finge que me ama / E eu finjo que acredito”).
Pelo que simboliza na tradição mangueirense, por sua trajetória e liderança entre os sambistas, Nelson Sargento, não à toa, representou o Zumbi dos Palmares no enredo História para ninar gente grande, que deu o último título do carnaval à Verde e Rosa, em 2019. E tornou-se unanimidade no mundo do samba, como bem traduziram Aldir Blanc e Moacyr Luz no samba Flores em Vida (Pra Nelson Sargento), feito em sua homenagem: “Sargento apenas no apelido/ Guerreiro negro dos Palmares/ Nelson é o Mestre Sala dos Mares/Singrando as águas da Baía”.

Henrique Brandão é jornalista
Filme “Limite” é marco do cinema brasileiro e mundial, avalia jornalista
Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP
Obra de vanguarda plástica e narrativa realizada por Mário Peixoto, aos 22 anos, o filme “Limite” é um produto raro, marco do cinema brasileiro e mundial, na avaliação do jornalista e crítico de cinema Henrique Brandão. “Uma contribuição artística extraordinária”, diz ele, em artigo que publicou na revista Política Democrática online de junho (32ª edição).
Com o título “Limite chega aos 90 anos, atual e surpreendente”, o artigo foi publicado na revista mensal produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), em Brasília. Todos os conteúdos podem ser a acessados, gratuitamente, na versão flip, no portal da entidade.
Veja a versão flip da 32ª edição da Política Democrática Online: junho de 2021
“Neste ano será comemorado 90 anos do lançamento do filme Limite, considerado por muitos críticos e pesquisadores o melhor filme brasileiro de todos os tempos”, afirma o jornalista, ressaltando a qualidade da obra cinematográfica.
De acordo com ele, para além das listas, quase sempre reducionistas, Limite é um filme raro no panorama do cinema brasileiro. “Tanto por sua forma ousada, que depois desses anos todos continua a surpreender a quem o assiste, como por sua trajetória, cheia de contratempos”, analisa.
O artigo publicado na revista mensal aponta que as peculiaridades começam pelo autor, Mário Peixoto (1908-1992). Filho de família abastada (era descendente de Joaquim José de Souza Breves, maior produtor de café do Império, grande traficante de escravos e dono de vastas terras no Sul fluminense), ainda jovem foi estudar na Inglaterra.

“Na Europa, provavelmente tomou contato com o cinema e as vanguardas europeias. Limite foi seu primeiro e único filme, realizado aos 22 anos”, afirma Brandão. Ele lembra que a inspiração para a fita, segundo depoimento do próprio Mário, veio ao acaso, em uma banca de jornal enquanto caminhava por Paris.
Na avaliação do crítico de cinema, “o filme começa e termina exatamente com a mesma epifania que teve na banca de jornais da capital francesa”. “Limite não é de fácil degustação. Sua narrativa não é linear, sua história não é muito clara”, afirma.
Os personagens, conforme registra o artigo publicado na Política Democrática online de junho, sequer têm nome. “São intitulados, nos letreiros de abertura, como a mulher número um, o homem número um e a mulher número dois. Os três encontram-se em um barco à deriva. Cada qual conta sua história, em flashback”, conta.
Confira todos os autores da 32ª edição da revista Política Democrática Online

Para ler a íntegra do artigo “Limite chega aos 90 anos, atual e surpreendente”, basta acessar a versão flip da revista mensal da FAP.
Os internautas também podem conferir entrevista exclusiva do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid e reportagem especial sobre profissionais em campo de guerra nos hospitais, diante de novas variantes do coronavírus. A publicação mensal da FAP também tem artigos sobre políticas nacional e externa, economia, meio ambiente e cinema.
Além do diretor-geral da FAP, Caetano Araújo, o escritor Francisco Almeida e o ensaísta Luiz Sérgio Henriques compõem o conselho editorial da revista.
Sociedade trilha para ‘tribalismo e diminuição das instituições’, diz especialista
Ex-ministro da Justiça indica como reduzir processos seletivos com viés racista
‘Ricardo Salles é lobista com expertise de destruição’, afirma professor da UFRJ
Situação de Bolsonaro favorece descontrole orçamentário, diz doutor pela USP
O que mudou na escalada de conflitos na Faixa de Gaza? Professor da FGV explica
Bolsonaro desrespeita Forças Armadas, afirma professor emérito da UFF
Lulismo e petismo terão de enfrentar “prova de fogo”, diz ensaísta
Medo e luto: variantes do coronavírus aumentam clima de guerra em hospitais
Absolvição de Pazuello tem objetivo: ‘Semear anarquia, para colher autoritarismo’
‘Temos vários indicativos para responsabilidade de Bolsonaro’, diz Alessandro Vieira
Clique aqui e veja todas as edições da revista Política Democrática online!
RPD || Henrique Brandão: Limite chega aos 90 anos, atual e surpreendente
Neste ano será comemorado 90 anos do lançamento do filme Limite, considerado por muitos críticos e pesquisadores o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Para além das listas, quase sempre reducionistas, Limite é um filme raro no panorama do cinema brasileiro – tanto por sua forma ousada, que depois desses anos todos continua a surpreender a quem o assiste, como por sua trajetória, cheia de contratempos.
As peculiaridades começam pelo autor, Mário Peixoto (1908-1992). Filho de família abastada (era descendente de Joaquim José de Souza Breves, maior produtor de café do Império, grande traficante de escravos e dono de vastas terras no Sul fluminense), ainda jovem foi estudar na Inglaterra. Na Europa, provavelmente tomou contato com o cinema e as vanguardas europeias. Limite foi seu primeiro e único filme, realizado aos 22 anos.
A inspiração para a fita, segundo depoimento do próprio Mário, veio ao acaso, em uma banca de jornal enquanto caminhava por Paris: “vi em um folheto da revista “Vu” (visto) a fotografia de um rosto de mulher abraçado pelos punhos algemados de um homem. Aquilo me perseguiu. Via [na sequência] um mar de fogo e uma mulher agarrada a um pedaço de barco naufragado”. A valer o relato do autor, ele foi fiel à sua fabulação. O filme começa e termina exatamente com a mesma epifania que teve na banca de jornais da capital francesa.
O cinema, na época da realização de Limite, era arte recente. A chegada do trem à Estação Ciotat, dos irmãos Lumière, foi a primeira exibição pública de um filme, em 28 de dezembro de 1895, em Paris, apenas 36 anos antes do filme de Mário Peixoto ser exibido. Em 1931, quando foi lançado, numa sessão no dia 17 de maio, no cinema Capitólio, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, o que fazia sucesso com o público eram as comédias, filmes com muita movimentação ou então românticos. Tudo o que Limite não é. Além disso, desde 1929, o cinema sonoro passou a atrair cada vez mais a atenção do público, ávido por novidades.
A obra foi muito mal-recebida pela crítica e pelo público. Mário Peixoto, magoado, recolheu o filme e jurou nunca mais exibi-lo. Manteve a promessa durante anos. Até que, em 1971, Saulo Pereira de Mello (1933 -2020), fã confesso de Limite, o assistiu ainda jovem, levado pelas mãos do seu professor de Física, na Faculdade Nacional de Filosofia, Plínio Sussekind Rocha, resolveu empreender uma batalha pela recuperação dos negativos do filme, já em estado avançado de deterioração.
Ainda bem que o fez. Graças a seu empenho, hoje é possível assisti-lo em quase sua totalidade. Infelizmente, algumas partes se perderam. Nada que atrapalhe o conjunto da obra.
Limite não é de fácil degustação. Sua narrativa não é linear, sua história não é muito clara. Os personagens sequer têm nome: são intitulados, nos letreiros de abertura, como a mulher número um, o homem número um e a mulher número dois. Os três encontram-se em um barco à deriva. Cada qual conta sua história, em flashback.

Mas isso pouco importa. O foco não é a história de cada um. O que chama a atenção é a linguagem poética: o encadeamento de imagens, as rimas visuais. A montagem (a cargo do próprio Mário Peixoto) faz uso de aliterações para sublinhar a angústia dos personagens; os enquadramentos originais de vários planos, com angulações inusitadas, e a ousadia de alguns travellings (movimentos de câmera), reforçam o clima onírico do filme. Tudo isso faz de Limite um produto raro, um marco do cinema brasileiro e mundial.
Um aspecto que vale destacar é o papel central da fotografia de Edgar Brazil. Sem ela, o filme não iria longe. Quem o vê, hoje, ainda fica impressionado pelos planos-sequência e movimentos de câmera difíceis de serem feitos com a tecnologia existente na época. Mário Peixoto parece reconhecer a participação fundamental de Edgar Brazil: o nome do fotógrafo aparece nos créditos com destaque, logo na abertura.
A trajetória conturbada de Limite e de seu autor (Mário Peixoto passou o resto de sua vida recluso em uma ilha, em Angra dos Reis), acrescenta camadas de curiosidade e uma aura de mistério em torno do filme. O fracasso comercial, seu quase desaparecimento, o posterior – e justo – reconhecimento artístico, tudo isso torna a fita um produto incomum na história do cinema nacional. Para além das intempéries de sua carreira, merece ser visto pela sua contribuição artística extraordinária. Não há nada igual a Limite.
Para quem quiser ver – ou rever – o filme, vai aqui o link: https://www.youtube.com/UeEArblJiMs

Henrique Brandão é jornalista e crítico de cinema.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de junho (32ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
Fonte:
Filme se destaca por mostrar Guerra da Bósnia a partir de dramas humanos
Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP
O filme Quo Vadis, Aida, que conta a história do massacre de 8 mil homens e jovens bósnios mulçumanos em Srebrenica, se destaca por mostrar o conflito a partir dos dramas humanos e não das operações militares, na avaliação do jornalista e escritor Henrique Brandão, em artigo que publicou na revista mensal Política Democrática Online de maio (31ª edição).
A revista é produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania. Todos os conteúdos da publicação podem ser acessados, na íntegra, gratuitamente, no portal da entidade.
Veja a versão flip da 31ª edição da Política Democrática Online: maio de 2021
O filme foi o representante da Bósnia ao Oscar de melhor filme internacional. Dirigido por Jasmila Žbanić, conta a história do massacre de Srebrenica, cidade da Bósnia, em julho de 1995, durante a Guerra da Iugoslávia. Está disponível nas plataformas de streaming Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes, Apple TV, Google Play e YouTube.
“A Bósnia é uma das sete repúblicas que hoje compõem o território da antiga Iugoslávia, país que se autodissolveu em 2003”, lembra o jornalista. “Surgida em 1918, criada pelo Tratado de Versalhes logo após o fim da Primeira Grande Guerra, a Iugoslávia teve vida curta: 74 anos. Situada nos Balcãs, no sudeste da Europa, a região sempre foi um caldeirão fervente de conflitos nacionalistas, religiosos e étnicos”, continua ele.
O líder da resistência (partisans) na Segunda Guerra Mundial, Josef Tito, foi quem conseguiu manter a unidade por mais tempo: de 1945, quando assume o governo e institui a República Socialista Federativa da Iugoslávia, até sua morte, em 1980.

“Uma frase dessa época define bem a complexidade da região e a forma como Tito exerceu o poder: ‘seis repúblicas, cinco etnias, quatro línguas, três religiões, dois alfabetos e um partido’”, escreve o jornalista, em seu artigo na revista Política Democrática Online.
Após a morte de Tito, os nacionalismos e as rivalidades étnicas e religiosas afloraram. As repúblicas reivindicaram autonomia. O equilíbrio instável se rompeu, e o país explodiu em conflitos.
“A Guerra da Bósnia (1992-1995) é um desses conflitos. Foram anos de batalhas envolvendo os três grupos étnicos e religiosos da região: os sérvios, cristãos ortodoxos; os croatas, católicos romanos; e os bósnios, muçulmanos. Os três grupos se engalfinharam em um antagonismo sangrento, o mais prolongado e violento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial”, afirma Brandão.
Veja todos os autores da 31ª edição da revista Política Democrática Online
A íntegra da crítica produzida pelo jornalista está disponível, no portal da FAP, para leitura gratuita na versão flip da revista Política Democrática Online, que também tem artigos sobre política, economia, tecnologia e cultura.
O diretor-geral da FAP, sociólogo Caetano Araújo, o escritor Francisco Almeida e o ensaísta Luiz Sérgio Henriques compõem o conselho editorial da revista. O diretor da publicação é o embaixador aposentado André Amado.Leia também:
Crítica de cinema aponta filme que completa percurso de sucesso
Livro ‘Almeida: um combatente da democracia’ mostra resiliência de um democrata
Cursos a distância crescem no Brasil, apesar de acesso à internet não ser para todos
‘Polo democrático precisa construir agenda mínima e ter cara’, diz consultor estratégico
‘É hora de reconstrução da cultura essencial a exercício da cidadania’, diz sociólogo da Unesp
Bolsonaro vê Amazônia como espaço para ocupação predatória, diz ex-presidente do Ibama
‘Papel de Bolsonaro é o da destruição de políticas públicas’, critica professor da UFRJ
‘Contra ciência, país enveredou para superstição’, diz Política Democrática Online
Quem mais vai perder é o povo pobre’, diz ex-presidente do IBGE sobre atraso do Censo
Abolição não significa libertação do homem negro, diz historiador e documentarista
Santos Cruz: ‘Instituições não aceitarão ações aventureiras do governante’
Clique aqui e veja todas as edições anteriores da revista Política Democrática Online
RPD || Henrique Brandão: Conflitos étnicos e genocídio – As marcas da guerra da Bósnia
Quo Vadis, Aida foi o representante da Bósnia ao Oscar de melhor filme internacional. Dirigido por Jasmila Žbanić, conta a história do massacre de Srebrenica, cidade da Bósnia, em julho de 1995, durante a Guerra da Iugoslávia. O filme encontra-se disponível nas plataformas de streaming Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes, Apple TV, Google Play e YouTube.
A Bósnia é uma das sete repúblicas que hoje compõem o território da antiga Iugoslávia, país que se autodissolveu em 2003. Surgida em 1918, criada pelo Tratado de Versalhes logo após o fim da Primeira Grande Guerra, a Iugoslávia teve vida curta: 74 anos. Situada nos Balcãs, no sudeste da Europa, a região sempre foi um caldeirão fervente de conflitos nacionalistas, religiosos e étnicos.
O líder da resistência (partisans) na Segunda Guerra Mundial, Josef Tito, foi quem conseguiu manter a unidade por mais tempo: de 1945, quando assume o governo e institui a República Socialista Federativa da Iugoslávia, até sua morte, em 1980. Uma frase dessa época define bem a complexidade da região e a forma como Tito exerceu o poder: “seis repúblicas, cinco etnias, quatro línguas, três religiões, dois alfabetos e um partido”.
Após a morte de Tito, os nacionalismos e as rivalidades étnicas e religiosas afloraram. As repúblicas reivindicaram autonomia. O equilíbrio instável se rompeu, e o país explodiu em conflitos.
A Guerra da Bósnia (1992-1995) é um desses conflitos. Foram anos de batalhas envolvendo os três grupos étnicos e religiosos da região: os sérvios, cristãos ortodoxos; os croatas, católicos romanos; e os bósnios, muçulmanos. Os três grupos se engalfinharam em um antagonismo sangrento, o mais prolongado e violento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

É de um episódio desta guerra que trata o filme: o massacre de Srebrenica, quando mais de 8.000 homens e jovens bósnios mulçumanos foram assassinados pelo autoproclamado Exército Sérvio da Bósnia, em clara ação de limpeza étnica.
O cinema sempre se interessou por genocídios. Em geral, os filmes abordam as histórias pelo lado militar, com violências explicitas, tiroteios, bombas e esguichos de sangue. Não é o que predomina no caso de Quo Vadis, Aida.
O mérito do filme é mostrar o conflito a partir dos dramas humanos e não das operações militares. Os refugiados, bósnios mulçumanos, e seus algozes, integrantes das milícias sérvias, militarmente mais poderosos, eram velhos conhecidos entre si, muitas vezes ex-vizinhos, habitantes do mesmo bairro. Como poder mediador, as forças da Organizações da Nações Unidas (ONU) se instalaram na região e decretaram Srebrenica “zona segura” dentro do conflito. Contudo, em uma atuação pusilânime e vergonhosa, acabaram concordando em entregar os refugiados aos “cuidados” dos sérvios. Morte anunciada.
Aida, a personagem do título, é uma professora bósnia de Srebrenica recrutada pelas forças pacificadoras da ONU para servir de intérprete entre os oficiais estrangeiros, as lideranças locais bósnias e o exército sérvio. Em meio à tensão crescente, Aida faz de tudo para salvar a vida dos dois filhos e do marido, chegando até a usar sua prerrogativa de ter livre trânsito entre as forças da ONU para tentar livrá-los das forças sérvias.
Além de Aida (magistralmente interpretada por Jasna Duricic), outro personagem que chama atenção é o histriônico general Rato Mladic (Boris Isaovic), comandante das forças sérvias. Sua chegada à base da ONU é acompanhada por um cinegrafista que registra todos os movimentos. Segundo a diretora e autora do roteiro, Jasmila Žbanić, era assim mesmo que as coisas aconteciam: “se procurar no YouTube [verá] que praticamente transcrevi aquilo. Mladic era uma espécie de diretor-ator. Em frente às câmeras era muito gentil com o povo”, afirmou à Folha de S. Paulo, em 22 de abril.
O massacre de Srebenica acabou sendo considerado como um genocídio por um Tribunal Internacional Penal, que condenou Mladic à prisão perpétua, em 2017. No entanto, o genocídio é negado por parte da direita nacionalista, que tem o atual prefeito de Srebenica, de origem sérvia, entre seus representantes. A propaganda negacionista visa, sobretudo, aos jovens, nascidos depois do conflito.
No epílogo do filme, Aida faz um retorno doloroso à cidade, anos após o término da guerra. Sua casa foi ocupada. Os restos mortais dos homens da família são encontrados em uma vala comum. Em um evento na escola em que dava aula, senta-se em um auditório lado a lado com os milicianos que tomaram parte no genocídio. O silêncio impera. Só as crianças cantam no palco. Na plateia, principalmente no rosto de Aida, as feridas são marcas profundas na alma. O massacre ainda pulsa, latente, na vida de cada um, como um espectro que paira no ar.
*Henrique Brandão é jornalista e escritor.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de maio (31ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
Fonte:





