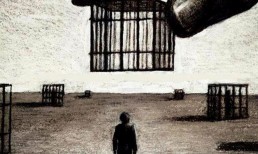hamilton garcia
Hamilton Garcia: Por que somos assim? A evolução da esquerda - III (O desenlace do comunismo brasileiro)
A terceira onda extremista (1963-64), que levaria a esquerda e os movimentos sociais, mais uma vez – vide artigo anterior –, aos calabouços, não seria, infelizmente, a última. A culpa pelo mau cálculo e o subsequente desastre político, como de costume na esquerda brasileira – para a qual autocrítica não passa de uma modalidade laica de expiação de culpa –, não recairia sobre seus idealizadores/implementadores, mas sobre seus inimigos (o “imperialismo latifundista”) e a parcela mais experimentada da esquerda radical que, refletindo sobre a tortuosa trajetória, tateava uma alternativa, ainda que enredada em seus mitos e utopias.
Foi assim que o PCB assistiu, impotente, a debandada de sua juventude em direção à luta armada de inspiração cubana (foquista), a partir de 1967 – até ser esmagada pela repressão em 1974. Enquanto brizolistas, castristas e maoístas, buscavam o caminho das armas, supondo estar o povo à sua espera, o PCB enveredou pela resistência pacífica dando apoio à Frente Ampla que, em 1966, uniu, no exílio, João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, e, posteriormente, animando a oposição criada pela reforma partidária de 1965 (Ato Complementar 4), que instituíra o bipartidarismo (Arena x MDB).
O caminho democrático de resistência à ditadura se mostrou estrategicamente sólido e, embora enfrentando o ceticismo inicial da juventude e dos intelectuais, acabou por nos conduzir a uma transição pactuada em 1984 (Nova República}, que uniu a oposição – excetuando o PT – e os dissidentes do regime (PFL). Apesar do sucesso da transição democrática, os louros da resistência foram colhidos pelos remanescentes do caminho revolucionário: como explicar o paradoxo?
Uma das causas do fenômeno, para além do peso do milenarismo na cultura continental, foi a relativa paralisia que tomou conta do PCB após a razzia repressiva de 1974-76, que eliminou um terço de seus dirigentes nacionais, levou o restante ao exílio, e desmantelou suas conexões internas. Como consequência, os quadros remanescentes, que restaram no país, fecharam-se em extremada clandestinidade, crispando ainda mais a mentalidade de gerações formadas na adversidade da ilegalidade. Mesmo tendo Prestes rompido com o partido na volta do exílio (1979) – formalizando sua dissidência na Carta aos Comunistas (1980) –, o partido prosseguiu fiel ao sovietismo e resistente à renovação de seus quadros e métodos, colocando-se a meio caminho do necessário encontro com a nova sociedade brasileira transformada pela industrialização acelerada do período 1967-1979.
A exacerbação defensiva fechou o partido para a sociedade e as novas gerações. Os jovens que se aproximavam do PCB nesse período tinham uma noção de radicalidade diversa da dos dirigentes – a maior parte deles formada nos embates dos anos 1930-50, quando o país ainda era predominantemente rural. Enquanto para os velhos a radicalidade se confundia com períodos da própria trajetória onde predominara o sectarismo e o revolucionarismo, para os jovens ela significava uma mudança drástica nas instituições republicanas e nos organismos sociais/partidários, no sentido da aproximação com as bases por meio da pluralidade de ideias e dos métodos democráticos – inclusive internos às organizações.
Em termos práticos, a renovação inconclusa dos comunistas – uma tradição de longa data – significou a interdição efetiva de toda uma geração de novos quadros bem preparados à posição de direção, que continuaria nas mãos da geração heróica formada em condições bem mais desvantajosas e culturalmente defasada em relação ao novo país que emergia. A consequência foi o desencontro entre a nova política democrática dos comunistas e a geração radical-democrática em desacordo com seus métodos e crenças ideológicas, o que acabou por abortar as possibilidades competitivas do PCB diante de um PT que nascia encetando essas expectativas.
O encontro dos ex-guerrilheiros castro-stalinistas com o sindicalismo-pastoral, em contato estreito com a classe operária – inclusive do ponto de vista ideológico (catolicismo) e, por isso mesmo, capaz de atrair seus elementos corporativistas mais avançados, aglutinados em torno do sindicalismo pragmático de São Bernardo do Campo (1969-1978) –, significaria o mais sério desafio à recuperação da influência política do PCB. Nesta convergência, do pragmatismo corporativo com a teologia da libertação, surgiria a massa crítica de lideranças e público que permitiu ao velho esquerdismo se reinventar após o fracasso da luta armada. Lula e seus companheiros de greve foram catapultados à condição de lideranças operárias nacionais na esteira das mobilizações operárias de 1978-80, libertando a esquerda sectária de seus guetos ideológicos.
Enquanto a classe operária irrompia num cenário político de agitações marcadas pelo protagonismo intelectual e estudantil das classes médias renovadas, o PCB aprofundava seu hiato ideológico-social ao reagir de modo convencional aos novos desafios colocados pela agitação popular. Em novembro de 1978, por meio de sua imprensa clandestina (Voz Operária) , os pecebistas afirmavam que “(…) o melhor canal para onde fazer confluir (…) toda a movimentação (…) em favor das soluções democráticas é o Congresso Nacional” e que “(…) estes objetivos só podem ser realizados com a (…) unidade do MDB (…)”, onde "caberá a estes parlamentares introduzir permanentemente no debate político nacional as grandes reivindicações dos movimentos populares (…)”.
Apontando a via institucional concreta para a superação do regime de exceção, os comunistas, ao mesmo tempo, sem se aperceberem, colocavam em segundo plano a pressão pela renovação da política em si, que a equação parlamentar-emedebista expressava apenas em parte, menosprezando os efeitos positivos das mudanças que a frente democrática estava fadada a sofrer diante dos novos desafios sociais e da iminência da volta das velhas lideranças exiladas, entre elas Leonel Brizola, Miguel Arraes e Luís Carlos Prestes.
O novo contexto abriria as portas para a ascensão das esquerdas às estruturas de poder do Estado a partir das eleições de 1982, com a participação marginal do PCB. Mas, as promessas de grandes mudanças não se realizariam, dada as pressões centrípetas do sistema de poder vigente e o despreparo das esquerdas em encarar o desafio numa perspectiva frentista; tal como apontado pelo VI Congresso do PCB em 1967. Mas, isso é assunto para o próximo artigo.
Hamilton Garcia: A evolução da esquerda (II)
A submissão do PCB ao radicalismo militar-popular prestista-stalinista — vide artigo anterior — arrastou não só os comunistas, mas o conjunto do movimento democrático (ANL) e sindical a uma profunda depressão, depois da derrota do levante de 1935 e da onda repressiva que se seguiu, abortando a maré montante da nova sociedade civil após o fim da hegemonia oligárquica sobre o Estado, em meio a uma crise econômica internacional (Grande Depressão) e à frustração popular com os rumos da Revolução de 1930 — já sob a égide da Constituição de 1934, a primeira constituição democraticamente produzida no país, não obstante o veto à participação eleitoral do PCB.
O retrocesso aplainou o terreno para a formação de um poderoso bloco conservador que desembocaria no golpe militar-varguista de 1937, permitindo que o processo de modernização passasse à direção da direita, concentrando o poder de Estado nas mãos de Vargas e seus aliados em benefício de uma acumulação nacional-capitalista acelerada sem a participação independente da sociedade civil trabalhadora — incluído seus extratos médios —, aprisionada em formas paraestatais de associativismo sindical e cultural.
O Estado Novo permitiu a Vargas, a um só tempo, desimpedir o caminho para o capitalismo de Estado brasileiro neutralizando tanto a oposição sindical, quanto o empecilho integralista (AIB) a um pacto amplo de alianças em torno do desenvolvimento. Ao franquear livre acesso ao poder — via ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho — aos grupos sindicais moderados, dispostos à barganha com políticos e patrões em troca de privilégios e concessões trabalhistas, Vargas dificultou também o acesso da esquerda ao movimento operário. Aos comunistas, desarticulados e isolados, sobrariam poucas alternativas, tendo prevalecido aquela de tentar recuperar prestígio social ocupando a margem esquerda das concessões do varguismo ao movimento trabalhista (populismo), o que os conduziu a abandonar a extremada oposição e aderir ao queremismo — campanha pela continuidade do Governo Vargas em meio às pressões pela redemocratização e pela constituinte em 1945.
A manobra tisnaria a imagem de Prestes, cuja mulher, Olga Benário — agente da IC no levante de 1935 —, havia sido deportada por Vargas para a Alemanha grávida de uma filha sua, sendo morta em seguida pelos nazistas em um campo de extermínio, sem produzir os resultados esperados e ainda reforçando as desconfianças acerca das intenções totalitárias do PCB.
Mesmo assim, frustrada a manobra queremista pelo golpe civil-militar de 1945, os comunistas lograram obter a ansiada legalidade, não obstante a manutenção do impedimento à liberdade (inter)sindical, e alcançar uma consagradora votação que os colocaria na quarta posição eleitoral em âmbito nacional, sustentando a mensagem da união nacional; que mais refletia a conveniência internacional de um período de paz pera a reconstrução da URSS, do que uma nova estratégia democrática para o socialismo. Logo, o recrudescimento das tensões internacionais (Guerra Fria) e as pressões reacionárias pela contenção dos movimentos sociais – inclusive pelo PTB, interessado no espólio eleitoral do PCB e em eliminar sua concorrência sindical – colocaria por terra a moderação comunista.
A cassação do PCB, seguida da perda do mandato de seus parlamentares, traria de volta o fantasma insurrecional com os comunistas não só abandonando a política de união nacional, como negando a própria ordem democrática (limitada) que haviam ajudado a erigir, voltando-se à pregação revolucionária, agora sob a inspiração da Revolução Chinesa de 1949), sem, mais uma vez, obter a adesão da sociedade.
A recidiva radical seria menos gravosa – dada a relativa ausência de repressão policial –, não fosse o extremo sectarismo que marcou a conduta comunista entre 1948-51, inclusive com tentativas de se formar grupos de autodefesa camponesa armada para enfrentar o arbítrio coronelístico no campo, na esteira da experiência com as Ligas Camponesas – criadas pelos comunistas, a partir de 1945, para driblar o veto católico-latifundiário à sindicalização camponesa.
O fracasso dessa estratégia, cuja expressão urbana foi a malfadada criação de sindicatos vermelhos na tentativa de superar o controle burocrático sobre os trabalhadores, acabaria gerando a reação do setor sindical do partido, que, ignorando as diretrizes do Comitê Central do partido, resolvem voltar aos sindicatos legais, o que levaria à recuperação dos espaços perdidos e ao protagonismo decisivo na greve geral paulista de 1953.
O reatamento dos laços com os sindicatos oficiais, todavia, só reaproximaria os comunistas dos nacionalistas depois do suicídio do líder populista (1954), numa chave semelhante à união nacional, buscando conciliar a via democrático-sindical de acesso à classe trabalhadora, com a perspectiva reformista da acumulação de forças para a revolução; um caminho, sem sombra de dúvida, mais realista para a afirmação dos ideais socialistas do aquele seguido nas fases insurrecionais.
As greves e mobilizações do período 1953-64, fortemente influenciadas pelo PCB, todavia, acabariam por enfraquecer a estratégia reformista ao se deparar com um parlamento petrificado pela ausência de livre organização política no campo — onde residia metade da população — e sem a presença do PCB legal, acabando por alimentar novas correntes rupturistas, agora fora do alcance do prestismo.
Por paradoxal que fosse, o revolucionarismo ganharia tônus com Leonel Brizola (brizolismo), líder radical do PTB gaúcho — partido de amplas bases populares e trajetória ascendente desde a eleição de 1950 — que se insinuaria após a vitoriosa Revolução Cubana (1959) como alternativa nacionalista-popular ao comunismo, avançando, a partir da renúncia de Jânio Quadros (1961), sobre as bases comunistas militares — organizadas, desde 1935, em torno do nacionalismo — sindicais, estudantis e rurais — por meio da recriação das Ligas Camponesas, capitaneadas por Francisco Julião —, através de um programa de mudanças econômico-sociais radicais (reformas de base) a ser implementado por cima do parlamento (“na lei ou na marra”) com o apoio de grupamentos sociais armados (Grupo dos Onze) e da retaguarda dos militares nacionalistas (“dispositivo militar legalista”).
A pressão radical do brizolismo, em maré montante, levaria de roldão não apenas o prestismo — historicamente oscilante entre o putchismo de 1935 e a conciliação de 1945-47, o Manifesto de Agosto de 1950 e a Declaração de Março de 1958 —, mas também boa parte do PTB e o próprio Presidente da República (João Goulart), arrastando a todos para o mesmo precipício de onde, no final de março de 1964, não seria mais possível recuar.
O terrível desenlace, que modernizaria o Estado, a economia e a sociedade brasileira, ao mesmo tempo que a mergulharia numa nefasta ditadura de alto custo humano e social, lançou a esquerda em nova refundação, estilhaçando o PCB e precipitando sua juventude na luta armada à moda cubana (foquismo), numa reiteração trágica do fascínio nacional pela imitação dos modelos estrangeiros, absorvidos aqui sem a necessária consideração acerca das especificidades nacionais.
A nova tournant culminaria com a superação da hegemonia marxista-leninista sobre a esquerda brasileira e sua substituição gradual, a partir dos anos 1970, pela sindical-pastoral, que daria ensejo ao PT em 1980. Mas, isso é assunto para o próximo artigo.
Hamilton Garcia: Por que somos assim? (A evolução da esquerda – I)
A esquerda moderna no Brasil, que compreende a organização dos trabalhadores em movimentos de luta por direitos econômico-sociais associados a correntes ideológicas de viés socialista, nasce em meio à confluência, na passagem do séc. XIX ao XX, da industrialização propiciada pela acumulação dos excedentes econômicos da cafeicultura paulista, da urbanização incrementada pelo fim da escravidão e do incentivo governamental à imigração europeia visando o aumento da produtividade do trabalho.
É daí que surgem as primeiras greves e organizações sindicais que iriam colocar em xeque a Primeira República por meio de inéditas reivindicações político-sociais, que abarcavam do direito de organização política à regulamentação da jornada de trabalho, passando por melhorias salariais e de condições de trabalho; reclamos inassimiláveis pelo Estado liberal-oligárquico de então.
A reação conservadora-liberal a tais movimentos, que se seguiu, com repressão violenta das greves, perseguição aos líderes e deportação de estrangeiros anarquistas, acabou, ao contrário do que se esperava, impulsionando o ideário revolucionário entre os indivíduos mais ativos das classes trabalhadoras e camadas médias. A partir do bloqueio ao diálogo e à participação, emergem, de um lado, o anarcossindicalismo como força mobilizadora de greves nos maiores centros industriais – cujo ápice foram as greves de 1917-1918 – e, de outro, os tenentes, jovens Oficiais Subalternos do Exército com capacidade de organização e liderança para deflagrar rebeliões políticas nos quartéis, a partir de 1922, contra o domínio oligárquico-liberal.
O fracasso, de ambas as vertentes, propiciará a convergência de classe entre operários e setores médios a partir da criação do PCB (1922) e das repercussões da Coluna Miguel Costa-Prestes (1925-1927) dentro e fora da caserna. Os comunistas aparecem, então, em meio aos impactos da Revolução Soviética (1917) – que populariza o marxismo entre nós pela chave russa do “marxismo-leninismo” –, deslocando a influência anarcossindicalista para o segundo plano – influência esta já abalada pela deportação de seus líderes, a partir de 1921, e pelo isolamento político ocasionado por uma radicalização que propunha destruir as instituições vigentes por meio da ação direta de indivíduos de uma classe ainda em formação, e que, ademais, era preponderantemente católica e de engajamento sindical majoritariamente moderado.
Do lado dos tenentes, a situação não era melhor, pois sua filosofia positivista, de caráter elitista, estabelecia uma relação vertical-civilizatória com a massa popular, a partir de sua submissão aos cânones da sociedade industrial – vulgarmente traduzidos em termos de fé (Religião da Humanidade) –, que tornava o engajamento político da massa subalternizada não só um contrassenso, mas uma temeridade.
Miguel Costa e Luís Carlos Prestes, engajados na Revolta Militar de 1924, é verdade, rompem com essa perspectiva ao iniciarem sua marcha pelo interior do país – maior em extensão e tempo de duração do que a famosa Grande Marcha dos comunistas chineses de 1934-1935 –, conscientizando os camponeses sobre as razões político-econômicas de sua pobreza e a necessidade da revolução para dar fim a esta opressão, e à dominação das oligarquias agrárias sobre o país. Todavia, sem serem derrotados militarmente, os revoltosos se dispersariam pelo país e pelo exterior após verem seus esforços frustrados pela inação política do campesinato e o temor das populações rurais pelos saques e violência que sua passagem provocavam.
Enquanto as formas radicalizadas de ação se viam prejudicadas por sua inspiração utópica, permeada tanto por equívocos político-doutrinários como tático-estratégicos, com seu consequente isolamento social, os comunistas, liderados por Astrojildo Pereira e Octávio Brandão, inauguravam uma nova radicalidade ao romperem com a perspectiva antipolítica dos anarquistas e estabelecerem alianças político-eleitorais com segmentos moderados da esquerda para a exploração dos (poucos) espaços democráticos existentes na República Velha (1889-1930), ao mesmo tempo que procuravam atrair os tenentes para o partido ou uma aliança democrático-popular. Mas, por esses azares da história, perto de colherem os frutos de sua estratégia mais consistente e colada à realidade do país, os comunistas seriam atropelados por seus camaradas da Internacional Comunista (IC), que, sintonizados com a guinada stalinista ocorrida na União Soviética após a prisão de Trótsky, em 1929, pressionaram o PCB a mudar sua direção, tida como excessivamente moderada (bukharinista).
Morto Lênin, em 1924, a russificação do comunismo internacional se completaria nos anos 1930, agora sob a égide do orientalismo despótico do cristianismo-ortodoxo, em oposição ao ocidentalismo libertário do materialismo-histórico, com reflexos também no Brasil, onde a IC iria iniciar um período de expurgo das lideranças "reformistas” em proveito daquelas que considerava aptas à “ação revolucionária” e mais diretamente ligadas à classe operária (obreirismo). Com isso, a interessante experiência comunista brasileira seria desperdiçada, impondo-se, a seguir, a filiação ao PCB dos tenentes convertidos ao comunismo, que, a partir daí, se empenhariam na preparação do Terceiro Levante Tenentista (1935) sob a liderança de Prestes – filiado ao partido, por pressão de Moscou, em 1934 –; cuja derrota político-militar, então sofrida, marcará o recuo, mas não o abandono, do radicalismo pequeno-burguês no interior do PCB.
A substituição do novo radicalismo democrático-popular pelo radicalismo militar-popular (prestismo), está na raiz da sinuosa trajetória da esquerda radical brasileira desde então, que se tornará hegemônica – confundindo-se com a própria noção de esquerda – dada a incapacidade do sistema político, reformado pela Revolução de 1930 e pela Constituição de 1946, de institucionalizar as organizações intersindicais e partidárias dos trabalhadores, bloqueando, assim, a difusão da cultura democrática em seu seio e reforçando a internalização do putschismo em sua cultura política.
O blanquismo – que é como o putschismo se propagou na tradição revolucionária internacional – voltaria a jogar um papel fundamental entre nós a partir da Revolução Cubana (1959), em especial depois do golpe de 1964, possibilitando o aparecimento de inúmeras dissidências comunistas "revolucionárias" que viriam, na fase da abertura geiselista – de intensa repressão ao PCB –, somar-se ao PT; mas isto é assunto para um próximo artigo.
FAP Entrevista: Hamilton Garcia
Crise pela qual passa a república brasileira é um problema de nascença, avalia Hamilton Garcia: a distância existente entre Estado e sociedade, que se explica pelo caráter da colonização
Por Germano Martiniano
A entrevista desta semana da série FAP Entrevista é com o sociólogo Hamilton Garcia de Lima. Formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), fez Mestrado em Ciência Política na Unicamp e Doutorado em História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense (UFF), se dedicando ao estudo dos partidos de esquerda. Atualmente leciona na Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) disciplinas de Política e Sociologia Política voltadas para a compreensão dos processos políticos e seus (múltiplos) desenvolvimentos – levando em conta fatores “genéticos" e “mutacionais" produzidos ao longo das formações histórico-sociais que lhes servem de base –, além de colaborar com o portal Gramsci e o Brasil e com a Fundação Astrojildo Pereira (FAP). Esta entrevista integra uma série que a FAP está publicando, aos domingos, com intelectuais e personalidades políticas de todo o Brasil, com o objetivo de ampliar o debate em torno do principal tema deste ano: as eleições.
Em uma semana extremamente difícil para conjuntura socioeconómica e política brasileira, Hamilton Garcia analisa a greve dos caminhoneiros como um “exercício da cidadania”, com o agravante da impopularidade do governo Temer. “O Governo Temer está "pendurado na brocha", sem condições de tocar sua agenda, com irrisório reconhecimento popular e incerto apoio parlamentar; o que se deve, evidentemente, às denúncias que sofreu e a reação que teve, se agarrando ao poder para não ter que se explicar à Justiça”, afirmou o sociólogo.
Hamilton também ressalta que a crise, que o Estado e a sociedade brasileira vivem, é consequência do próprio distanciamento entre essas duas partes. “Nossa República sofre cronicamente de um problema de nascença: a distância existente entre Estado e sociedade, que se explica pelo caráter da colonização – como bem nos mostrou Caio Prado Jr. – e pela ausência de verdadeira revolução burguesa por aqui”, avalia.
Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista:
FAP - Para o senhor, o que representa essa greve em relação ao Estado democrático brasileiro?
Hamilton Garcia - Exatamente o exercício da cidadania, com os excessos aos quais estamos acostumados. É claro que ela se reveste de uma excepcionalidade, que está ligada ao fato de que o Governo Temer está "pendurado na brocha", sem condições de tocar sua agenda, com irrisório reconhecimento popular e incerto apoio parlamentar; o que se deve, evidentemente, às denúncias que sofreu e a reação que teve, se agarrando ao poder para não ter que se explicar à Justiça.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou as Forças Armadas a desobstruírem as rodovias bloqueadas pelos grevistas. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que tal atitude era “coisa de governo fraco”. Temer perdeu a “mão” no governo do Estado brasileiro?
Rodrigo Maia é um dos responsáveis pela “coisa": ajudou a blindar Temer das investigações do MPU – nos deixando um governante frágil num contexto dificílimo – e pleiteia ser reconhecido como uma alternativa à crise; faria papel melhor se ficasse calado. O uso da força será implementado, como prevê a lei, e isso não acarretará grandes problemas, embora não seja garantia de total desarticulação do movimento. A questão é que Temer criou o problema, dando carta branca aos liberistas na Petrobras, e agora tem que remediá-lo.
Luiz Carlos Azedo, jornalista, em um dos seus artigos nesta semana para o Correio Braziliense, Coisa Estranha, lembrou que foi uma greve de caminhoneiros que desestabilizou o governo de Salvador Allende no Chile e abriu caminho para o golpe do general Pinochet. Com o uso das Forças Armadas, você crê em algum risco para nossa democracia?
No nosso caso, creio que o risco que corre a democracia se relaciona mais com fatores estruturais do pacto de poder, do que com a conjuntura política; embora esta seja, evidentemente, decisiva para o desencadeamento das crises. A crise que estamos vivendo, desnudada pela revolta de 2013, nada mais é que o virtual esgotamento do pacto de poder da redemocratização, constituído pelos grandes interesses empresariais, burocráticos, sindicais e partidários, que teceram variadas coalizões políticas baseadas em seus interesses, com menor ou maior ênfase nos “descamisados" – como se referia Collor aos depauperados pelo sistema –, mas sem tocar nos seus privilégios, se limitando a aumentar o acesso de novos grupos a eles; o que já não pode ser mais suportado pela sociedade, que é quem sustenta os custos do Estado e dos monopólios privados – das finanças, da energia, das telecomunicações e das oligarquias políticas. Nesse contexto, as FFAA só podem atuar como última instância – de acordo com nossa tradição republicana – e sempre nos limites do interesse nacional, que, na sua perspectiva, implica na reativação do desenvolvimento industrial, tanto para mantê-las autônomas e bem aparelhadas, como para realizar a "paz social" e garantir o "progresso do país”; como reza o evangelho positivista que faz parte de seu DNA. Se os civis não forem capazes de reformar o regime neopatrimonial , naturalmente, as pressões sobre os militares crescerão. Mas a cúpula militar parece comprometida com seu papel histórico, não com a anomalia de 1964. Tudo, porém, depende do desenrolar dos acontecimentos eleitorais e governamentais por vir.
Qual lição o governo e o povo brasileiro podem tirar dessa greve? Por exemplo, a greve expôs o quanto a sociedade brasileira é dependente de um recurso esgotável como o petróleo.
A incompetência histórica do mercado em diversificar os modais de transporte para benefício da produção patenteia a necessidade de elaborarmos projetos nacionais de longo-prazo, não só neste caso, mas também para a diversificação das fontes de energia, para nossa inserção nas cadeias produtivas globais, etc.. Todas estas questões, nesses 34 anos, estiveram fora das agendas políticas por conta de um sistema político-eleitoral voltado para o atendimento dos grandes interesses particularistas, no atacado, e dos pequenos interesses populares, no varejo.
No seu último artigo, A democratização do Estado, o senhor discorre que o Brasil teve um processo de democratização “falso”, se assim podemos dizer, pois o governo continuava a ser comandado pelas oligarquias latifundiárias. Atualmente, não parece ser diferente com os atuais “coronéis” Jader Barbalho, Eunício de Oliveira, Renan Calheiros, Romero Jucá e outros nomes, que há tempos estão no comando da política brasileira. Como mudar este quadro?
Nossa República sofre cronicamente de um problema de nascença: a distância existente entre Estado e sociedade, que se explica pelo caráter da colonização – como bem nos mostrou Caio Prado Jr. – e pela ausência de verdadeira revolução burguesa por aqui – revoluções estas que, alhures, foram as responsáveis pelo corte do cordão umbilical que atava o Estado Nacional aos interesses particularistas dos velhos estamentos medievais. A solução, portanto, passa pela ruptura radical com as forças político-sociais que sustentam o atual pacto de poder, estejam elas na esquerda, centro ou direita. Ela passa pela constituição de um novo pacto a partir de uma coalizão política comprometida em realizar, com o apoio de forças liberais, socialistas e mesmo conservadoras, um programa mínimo de reformas que contemple a responsabilização dos partidos e seus agentes no poder – coisa que o sistema de Justiça já está nos proporcionando, mas apenas de modo parcial e incerto –, a reforma radical do Estado, com o fim dos privilégios corporativos, da ingerência indevida dos políticos na educação, na saúde, nas penitenciárias, polícias, etc., e uma política de desenvolvimento econômico, em parceria com o mercado, mas sem os vícios atuais de privilegiamento dos monopólios, que nos coloque de novo na rota do desenvolvimento – com ênfase no fator humano pelo trabalho –, entre outras providências para tornar nosso Estado sustentável, nossa economia próspera e nosso povo mais capacitado e participante.
Lula e Bolsonaro, por sua vez, não são estes tradicionais coronéis da política brasileira, no entanto, representam a face do populismo e também do salvacionismo. Lula está preso, mas o senhor acredita que Bolsonaro tem reais chances de vitória nas eleições presidenciais? E o que representaria uma vitória de Bolsonaro?
Bolsonaro surfa no fracasso da esquerda que se associou ao sistema em putrefação, ao invés de reformá-lo. Seu sucesso eleitoral, todavia, não garante sua vitória política. Ele me parece um personagem incapaz de dar conta da refundação que necessitamos, prisioneiro que é de seu próprio passado e suas concepções ideológicas sectárias. Se eleito, todavia, será forçado a realizar importantes reformas, mas não poderá fazê-las a partir de uma perspectiva democrática; o que pode tornar o processo mais rápido, é verdade, mas também bem mais incerto e custoso.
Por que o senhor defende a racionalização do Estado em contraste a opiniões liberais de intervenção mínima?
Os novos liberais estão colocados diante do desafio de pensar o Brasil, não de imitar seus ídolos. Esse problema já nos acometeu no passado, basta ver como os comunistas se submeteram aos ditames do stalinismo, cujo líder era chamado, até a denúncia de seus crimes, de “guia genial dos povos”, com os custos sabidos e pagos. Os liberais precisam se debruçar sobre os erros das suas gerações passadas, mas sem perder de vista as circunstâncias que fizeram delas o que elas foram, inclusive na desconcertante heterodoxia desenvolvimentista que praticaram sob o regime militar – não sem antes expurgarem os pensadores progressistas defensores do planejamento econômico e das políticas de desenvolvimento nacional. Tal heterodoxia, é bom que se diga, não obstante seus erros, nos colocou no clube dos países industrializados, que a democracia não soube, até aqui, nem preservar, nem muito menos desenvolver.
O que o senhor espera das eleições 2018? Quais devem ser as prioridades do novo governo brasileiro?
O cenário não é muito alvissareiro em termos eleitorais. Ninguém chega a uma crise de representação, como a que vivemos, sem ter a atividade política rebaixada e mesmo vilipendiada. A ascensão de Bolsonaro é um indicativo disso, ao mesmo tempo que a candidatura de um Lula corrupto e preso é a evidência de que a ameaça à democracia vem de outro lado. Pena que o PPS, até aqui, tenha aberto mão de ser o articulador da frente ampla para um novo pacto, e tenha elegido como seu principal interlocutor um candidato para a disputa presidencial que representa mais uma tentativa de compromisso com a velha ordem do que uma ruptura.
*Excepcionalmente a entrevista desta semana está sendo publicada nesta segunda-feira (28/05/2018).
Hamilton Garcia: A democratização do estado
A democracia representativa no Brasil é uma experiência historicamente recente, cuja inauguração pode ser associada ao fim da monarquia-escravista (1888-89) e ao processo de urbanização e diversificação econômico-social que a partir daí se encorpou. Se comparada à da Inglaterra, bem mais antiga, é também bastante mais irresoluta. Os ingleses, depois de um longo período de disputas religiosas (1547-58), conflitos políticos agudos e guerras civis (1640-89) – com um Rei decapitado (1649) e uma República autoritária (Cromwell, 1653-58) –, encontraram seu modelo numa Igreja reformada (1559) e numa Monarquia Constitucional governada por um Parlamento representativo sob a égide da Declaração de Direitos (1689), que afirmava a liberdade dos indivíduos como base inalienável das formas de governo.
No nosso caso, nem a Igreja foi reformada, nem o poder absoluto do Estado foi decapitado; tudo se deu, como reza nossa tradição, de maneira segura e sincrética, mantendo-se os indivíduos subjugados ao poder oligárquico, fonte primeira do poder de Estado. Depois de derrubada a Monarquia por uma conjuração militar-civil (1889), no qual o povo assumiu o papel de expectador – tanto ativo, como passivo –, inaugurou-se um período (Primeira República) onde as oligarquias agrárias ganharam autonomia (federalismo) e as burguesias voz ativa no cenário político das mais importantes cidades (liberalismo) sem, contudo, ameaçar o poder estabelecido sobre o vasto território – inclusive os currais eleitorais, beneficiados pela vigência do voto aberto e a ausência de autoridade corregedora isenta – e as mentalidades (Igreja Católica).
Não obstante o conservadorismo do pacto elitista inaugural da República – com a fracassada pretensão reformista de certos segmentos militares (positivistas) –, as novas classes sociais urbanas manifestariam seu descontentamento político, mesmo tendo contra elas o liberalismo de fachada instituído pela Constituição de 1891 e a dura repressão das forças policiais. Medidas como o fim do voto censitário, dos privilégios nobiliárquicos e da dominância eclesiástica sobre as localidades e a educação – entre outras iniciativas legais modernizadoras –, mesmo descasadas de reformas econômico-sociais progressistas (agrária, urbana, tributária, financeira, etc.), foram suficientes para, pelo menos, inaugurar um período de aspirações democráticas, que acabaria por desnudar o descompasso entre a superestrutura jurídico-política e as mudanças econômico-sociais, de sentido democratizante, provocadas pelo avanço do capitalismo – descompasso este que, não obstante os avanços percebidos desde 1985 (Nova República), está na base da instabilidade política dos nossos dias.
As curtas experiências liberal-democráticas vividas após as intervenções civis-militares de 1930 e 1945 – logo descontinuadas por intervenções análogas de polaridade invertida e sentido diverso, em 1937 e 1964 –, demonstraram a fragilidade (e força) de nossa tradição republicana. Nelas, podemos enxergar as marcas profundas do nosso modo de ser contemporâneo, radicado na formação social polarizada por quatro séculos de latifúndio, onde tanto a sociedade civil se forjou comprimida pelo esmagador peso do agrarismo colonial, como a sociedade política (Estado) se amalgamou ao compromisso neopatrimonial, mesmo quando sob a liderança de seus segmentos dissidentes (populismo).
Enquanto 1930 e 1945 nos revelaram uma sociedade civil trabalhadora frágil, incapaz de conter os arroubos jacobinos de suas lideranças – rupturismo que propiciou o retrocesso autoritário após a aventura "revolucionária" de 1935, e, depois, em sentido inverso, levou os comunistas a apoiar o ditador que antes queriam derrubar, precipitando a intervenção militar redemocratizadora –, 1937 e 1964 mostraram a inapetência da sociedade civil burguesa em lidar com as pressões legítimas (e ilegítimas) pela democratização vindas de baixo, cedendo ou estimulando o protagonismo conservador de caserna ao invés de pactuar a reforma das instituições republicanas da qual participavam – dentre elas o Parlamento e o Judiciário –, de modo a reverter seu embotamento histórico (patrimonialismo).
A semelhança com a crise de hoje não é mera coincidência: a sociedade civil trabalhadora continua presa fácil de lideranças retrovisoras (bolivarianistas) e de um populismo que, embora descido às fábricas, ainda veste o manto sagrado dos pais dos pobres, enquanto as principais instituições republicanas (redemocratizadas) claudicam pela insuficiência das reformas até aqui efetuadas, abrindo amplo espaço para o conservadorismo de caserna, agora autonomizado pela fórmula político-eleitoral do bolsonarismo.
De auspicioso, apenas a emergência de uma nova sociedade civil burguesa disposta a renovar as lideranças políticas do liberalismo, contra a vontade de seus partidos tradicionais; um novo ativismo do Ministério Público e do Judiciário, que – dentro de seus limites funcionais e ainda adstritos à esfera federal – permitem o avanço das reformas institucionais que Executivo e Legislativo tentam barrar; e uma liderança militar (Alto Comando) até aqui inclinada a apoiar ambas as novidades e agir, se necessário, apenas na condição de última instância.
Tal conjunção, que tem constituído até aqui a verdadeira âncora de nossa ainda frágil liberal-democracia – diga-se de passagem, contra a vontade de boa parte das esquerdas, inclusive a desconfiança de certos segmentos seus de viés liberal –, carece, é verdade, de uma concertação política mais ampla do que a permitida pelos parâmetros corporativos dos operadores do direito; mas isto parece estar sendo superado, não obstante sua mais nítida expressão eleitoral, Joaquim Barbosa, ter desistido da postulação por conta de uma aparente falta de vocação.
O que é importante nisso tudo, é que a sociedade civil, por meio da política bem pensada e articulada, pode vencer a pesada herança semirrepublicana que resiste no Estado, nas corporações e nas mentes de todos os quadrantes ideológicos, mas para isso vai ter que se livrar dos mitos e das concepções ideológicas anacrônicas e pseudorrealistas que impedem-na de enxergar o cenário em toda a sua inteireza e complexidade, inclusive contemplando os remédios contra a pior de todas as heranças: a marginalização social por meio da pauperização econômica e da alienação laboral-educacional, que exigem a reinvenção do liberalismo (liberalismo-social) e do progressismo-nacional (neodesenvolvimentismo).