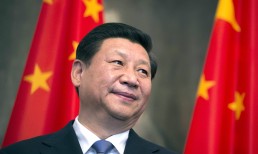Demétrio Magnoli
Demétrio Magnoli: A cor como ideologia
O racismo degrada a todos, fazendo ver raças onde existem indivíduos
Nos Estados Unidos, correntes minoritárias do Black Lives Matter deploram a vasta adesão de brancos aos protestos antirracistas, alegando que eles estariam se divertindo com uma nova moda. No Brasil, setores do movimento negro acusam o ex-quase-ministro Carlos Decotelli de ser algo como um "negro falso", por não seguir a cartilha política e cultural que eles defendem. Lá, cor define ideologia; aqui, ideologia define cor.
A acusação parte de várias vozes, mas é melhor ilustrada por um artigo de Dodô Azevedo (Folha, 1° de julho). Decotelli seria um "negro conveniente", um "desertor". Mas como identificar esse personagem abominável?
Primeiro, por desvios de caráter derivados do desejo de assimilação. "Esses negros começam a agir como se desfrutassem dos mesmos privilégios que os brancos" e, por isso, "roubam, matam, mentem". Ficamos sabendo, assim, que os indivíduos desapareceram, convertendo-se em meras representações raciais. Se Decotelli fosse um "negro inconveniente", seria necessariamente reto, justo e puro. Tudo, inclusive o caráter pessoal, depende da ideologia.
Segundo, pela fé religiosa. Decotteli, "cristão batista, é um negacionista do sistema de crenças de suas avós e bisavós e tetravós". A liberdade de escolher uma fé está aberta a todos, menos aos negros. Isso porque "mentira e injustiça não seriam toleradas" nas religiões de matriz africana. François Duvalier, sanguinário ditador do Haiti, fez do vodu o pilar de seu poder, em nome da "autenticidade" africana. Martin Luther King era pastor batista —e, portanto, segundo Dodô, um monstro potencial.
Terceiro, pela carreira. Decotelli teria escolhido a carreira militar "para tentar não ser negro". Se, como Dodô, tivesse optado pelo jornalismo, o cinema, a história e a filosofia, talvez se aproximasse do pódio de "negro legítimo". Nessa linha, como fica o marinheiro João Cândido, líder da Revolta da Chibata? E o jornalista, filho de escritor e irmão de músico Sérgio Camargo, presidente ultrabolsonarista da Fundação Palmares?
"Se fosse de esquerda…": Elizabeth Guedes, presidente da associação das universidades particulares e irmã do ministro da Economia, reclama do movimento negro a defesa de Decotelli. Dodô replica: um "negro inconveniente" jamais inflaria seu currículo, pois saberia que, se ousasse "mentir como um ancestral de imigrantes", não teria o privilégio do perdão social concedido a ele. A implicação lógica do argumento é que o racismo opera como ferramenta positiva, moldando negros virtuosos. A política identitária precisa da discriminação racial que alega combater.
"Um negro que migra para um país assimilacionista esquece a que matriz pertence", escreve Dodô. O atacante Eusébio, nascido na Moçambique colonial, artilheiro de Portugal na Copa de 1966, identificava-se como português. O escritor moçambicano Mia Couto não o reprovou. "Se existem brancos que são africanos, se existem negros que são americanos, por que os pretos africanos não podem ser europeus?"
E segue: negros de origem africana, como Eusébio, terão filhos e netos nascidos na Europa e "não podem cair na armadilha de reivindicar um gueto, uma cidadania de segunda classe". Mas o "gueto", a "matriz", é exatamente o que exige Dodô, sob pena de excomunhão eterna.
"Nós dois lemos a Bíblia dia e noite, mas tu lês negro onde eu leio branco." (William Blake). A obsessão essencialista pela tradição é o traço crucial que aproxima Dodô de Damares Alves. A ministra, pastora evangélica, também teme o "assimilacionismo", o esquecimento das "raízes", das "crenças ancestrais". Os dois, donos da régua do Bem e do Mal, falam em nome de cruzadas purificadoras simétricas.
Ainda bem que brancos engajaram-se nos protestos antirracistas nos EUA. O racismo degrada-nos a todos, fazendo-nos ver raças onde existem indivíduos.
*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
Demétrio Magnoli: A esquerda no espelho da epidemia
O vírus tem lado ideológico
A crise ensina. A emergência sanitária do coronavírus evidenciou o negacionismo criminoso de Jair Bolsonaro, desmoralizando seu governo aos olhos de todos que não sucumbiram ao fanatismo ideológico da extrema direita. Contudo, de um modo menos óbvio, ela também lançou um penetrante jato de luz sobre a esquerda, expondo suas vísceras. A imagem resultante não é bonita.
Capítulo um: hipocrisia.
A esquerda ocupou a linha de frente do exército que clamava pela imposição de lockdown. Na Itália, na Espanha e na França, rígidas medidas de lockdown travaram o avanço dos contágios, circunscrevendo regionalmente as epidemias. Lockdown não é, porém, um ato de pura vontade. O congelamento geral da vida econômica e social exige uma ditadura totalitária (China) ou a conjunção de dois fatores inexistentes na paisagem brasileira: consenso político e coesão social.
Não se faz lockdown sob um governo central em campanha permanente contra o distanciamento social. Não se faz lockdown com vastas parcelas das populações metropolitanas carentes de renda e redes de proteção social, que se concentram em cinturões periféricos e favelas desassistidas. A esquerda que ignora essas realidades escolheu dialogar exclusivamente com as classes médias.
Semanas atrás, deputados do PT de São Paulo recorreram, sem sucesso, aos tribunais para impor ao governador Doria a execução de um lockdown. No Rio, um clamor similar emanou de lideranças do PT e do PSOL. Um eventual lockdown nas duas metrópoles demandaria massiva mobilização de forças policiais nas periferias e favelas. As PMs patrulhariam as ruas onde vivem os pobres e ocupariam favelas controladas por milícias e facções. Os partidos de esquerda ofereceriam apoio às inevitáveis implicações repressivas do lockdown?
Capítulo dois: oportunismo.
Quarentenas têm limites temporais, definidos pelo esgotamento da resistência econômica e psicossocial da população. Nenhum país do mundo manteve quarentenas por mais de três meses. As reaberturas conduzidas pelos governos estaduais não são exemplos de planejamento, eficiência ou lógica. A esquerda, porém, escolheu criticar as próprias reaberturas, não suas inúmeras deficiências, aderindo a um iracundo fundamentalismo epidemiológico. A finalidade é disputar as eleições municipais acusando governadores e prefeitos de subordinar vidas a negócios.
Capítulo três: corporativismo.
As escolas estão, em geral, fechadas desde março. Na Europa, com exceção de raros países, a reabertura escolar foi medida prioritária na etapa de relaxamento das quarentenas. Os governos europeus concluíram que crianças são fracos transmissores do vírus — e a experiência comprovou que isso é verdade. Na França, de 40 mil escolas reabertas, surgiram focos de infecção em meras 70. O Brasil, porém, enxerga o ensino público como a mais dispensável das chamadas “atividades não essenciais” — e cogita-se retomar aulas presenciais apenas nas calendas de setembro.
As crianças pobres carregarão para a vida adulta os prejuízos cognitivos e de sociabilização causados pela interrupção escolar de sete meses. Mesmo assim, sindicatos de professores dirigidos por lideranças de esquerda resistem à reabertura em setembro, declarando-a “prematura” e ensaiando movimentos grevistas. Médicos, enfermeiros, comerciários, motoristas, operários e incontáveis outras categorias podem trabalhar presencialmente durante a epidemia. Professores, jamais, na opinião dos sindicatos.
Capítulo quatro: duplicidade moral.
Lá atrás, as manifestações públicas da militância bolsonarista foram qualificadas pela esquerda como atos criminais de difusão de contágios. A esquerda criticou menos o conteúdo antidemocrático delas que a produção de perigosas aglomerações. Há pouco, porém, setores da esquerda voltaram às ruas, em protestos contra Bolsonaro. Nesse caso, as aglomerações não geraram escândalo.
O vírus tem lado ideológico: as manifestações deles provocam infecções, potencializam a epidemia, causam mortes em massa; as nossas são belas, justas e higiênicas. A esquerda que emerge da Covid nada aprendeu.
Demétrio Magnoli: Derrubada de estátuas é a imposição do esquecimento
Uma estátua erguida no passado não representa uma celebração presente
A Oxford Union, representação dos estudantes da Universidade de Oxford, votou a favor da campanha “Rhodes deve cair”, iniciada numa universidade sul-africana com o objetivo de remover a estátua de Cecil Rhodes da fachada de um dos edifícios da universidade britânica.
No fim, a estátua fica, graças à pressão exercida por grandes doadores de Oxford. O dinheiro dobrou os intelectuais, impedindo-os de agir como vândalos, coisa que gostariam de fazer.
Rhodes é o maior ícone do imperialismo britânico na África. A sua figura personifica a ideia racista da “missão civilizatória do homem branco” que impulsionou o empreendimento colonial do outono do século 19. As sementes do apartheid na África do Sul e na Rodésia do Sul (atual Zimbábue) foram plantadas no solo que ele arou.
Os vândalos do bem escolheram o alvo certo. Assim como os intelectuais de ontem, que ergueram estátuas para celebrar as ideias hegemônicas da época, os de hoje estão dispostos a derrubá-las em nome do mesmo princípio covarde.
Uma estátua é uma cicatriz da história, uma marca inscrita pelo passado no corpo paisagístico da sociedade. Nas praças, nos parques ou nas ruas, as estátuas alertam-nos sobre o passado —ou melhor, sobre incontáveis camadas de passados. A derrubada desses símbolos revela o desejo tirânico de exterminar a memória social.
Uma estátua erguida no passado não representa uma celebração presente de um personagem ou de uma ideologia, mas apenas a prova material de que, um dia, em outra época, isso foi celebrado.
Sua derrubada não é um chamado à reflexão sobre os erros, os crimes, a tragédia e a dor, mas a imposição do esquecimento.
A transferência das estátuas malditas para museus ou parques temáticos, retirando-as de seus contextos, tem efeito similar. Num caso, como no outro, trata-se de higienizar os lugares de circulação cotidiana, reservando o exercício da memória a uma elite de especialistas da memória.
Rhodes, o pecador, não está só. De Pedro, o Grande, a Thomas Jefferson, de Marx a Churchill, de Machado de Assis a Monteiro Lobato, ninguém passa no teste contemporâneo dos valores.
A lógica férrea do vandalismo do bem conduz a um programa de terra arrasada. O rastilho de fogueiras purificadoras nada poupará, a não ser as novas estátuas esculpidas pelos próprios vândalos do bem, que virão a ser derrubadas por seus futuros seguidores. O presente perpétuo —eis a perigosa ambição dessa seita de iconoclastas.
Lenin caiu, às centenas, por toda a antiga Alemanha Oriental, nos meses loucos que se seguiram à queda do Muro de Berlim. Aquilo foi uma revolução popular. As estátuas derrubadas eram a representação pública de um poder real, opressivo e totalitário.
“Borba Gato, matador de índios e proprietário de escravos, deve cair.” Os alemães que limpavam as ruas do Lenin onipresente estavam mudando o presente. Os vândalos do bem investem contra sombras do passado. Mascarados de radicais, eles ajudam a desviar os olhares das iniquidades do presente.
Quem tem o direito moral de suprimir os lugares da memória? Se concedermos esse direito aos vândalos do bem, como negá-lo a governos eleitos democraticamente? E, se é assim, como criticar a remoção da estátua de Imre Nagy, líder da revolução democrática húngara de 1956, pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, um nacionalista de direita aliado de Vladimir Putin? Ou como impedir que Jair Bolsonaro ou algum assecla eleito derrube a escultura “Vlado Vitorioso”, homenagem a Vladimir Herzog implantada numa rua do centro de São Paulo?
A Universidade de Oxford tem quase mil anos. Há pouco mais de um século ela cantou as glórias do imperialismo britânico. O registro esculpido na sua fachada será preservado e cercado por texto de contextualização histórica. Os vândalos do bem perderam essa —mas não desistirão de acender fogueiras.
*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
Demétrio Magnoli: Cooptação em massa de oficiais da reserva ameaça fragmentar dique institucional
"Vai ter golpe?", indagou-me um amigo dileto pouco tempo atrás. Retruquei com uma negativa convicta: a geração atual de comandantes das Forças Armadas aprenderam com a história e não repetirão, como farsa, a tragédia de 1964.
"Vai ter putsch?", meu amigo pergunta agora. Respondi-lhe com mais um "não", acompanhado por argumentos razoáveis. Contudo, pensando melhor, acho que perdi uma parte da paisagem.
Putsch é um intento golpista fadado, de antemão, ao fracasso. No célebre Putsch da Cervejaria de Munique (1923), Hitler e seus seguidores não obtiveram o esperado apoio de setores do Exército ou da polícia da Baviera.
Mas aquela escória nazista, forjada no caldeirão fervente da derrota alemã na guerra europeia, mostrou-se disposta a combater e morrer de verdade. Já a escória de fanáticos bolsonaristas é feita do material lânguido fabricado pelas redes sociais. Deles, nada surgirá, exceto ameaças anônimas digitadas a distância ou fogos de artifício numa esplanada deserta.
A fuga de Weintraub rumo a uma bem remunerada diretoria inútil do Banco Mundial comprova, para quem ainda nutria dúvidas, que esses cachorros barulhentos não mordem. A parte que perdi da paisagem é outra. Até que ponto o bolsonarismo conseguirá limar a disciplina militar?
O fenômeno mais saliente é a ação ininterrupta das redes bolsonaristas nos quartéis. A cooptação de militares e policiais para a militância antidemocrática ganhou alento com as publicações de manifestos golpistas de altos oficiais da reserva e a difusão de mensagens dúbias oriundas dos generais do Planalto.
Contudo, paralelamente, desenrola-se um novelo menos visível, mas talvez ainda mais relevante: a militarização extensiva dos altos e médios escalões da administração pública federal. O Ministério da Saúde, ocupado de alto a baixo por militares, ilustra uma tendência generalizada. Nesse passo, generais e coronéis passam a desempenhar funções de intermediários de contratos e compras governamentais. Abrem-se, assim, de par em par, as portas para a incorporação dos militares no ramificado negócio da corrupção estatal.
Dinheiro, muitas vezes, pesa mais que ideologia. No Egito, Hosni Mubarak consolidou seu poder pelo loteamento do aparelho administrativo e das empresas estatais entre os comandantes militares. Quando o ditador tornou-se um fardo político pesado demais, o sistema ditatorial reciclou-se, substituindo-o por Abdel Fatah al-Sisi. Na Argélia, Abdelaziz Bouteflika operou de modo similar, entregando ao Exército as chaves da economia para estabilizar, por duas décadas, seu regime autoritário.
A ferramenta funciona à direita e à esquerda. Maduro não caiu porque, seguindo a receita cubana, transferiu às Forças Armadas os setores mais lucrativos de uma economia em ruínas: comércio exterior e distribuição de alimentos. Na Bolívia, prova inversa, Evo Morales nunca incluiu o Exército no jogo do capitalismo de estado, o que acabou decidindo seu destino.
O Brasil não é o Egito, Argélia, Cuba ou Venezuela. Por aqui, não se verifica uma transferência das chaves da economia às Forças Armadas. A instituição militar segue separada do governo, circunscrita às suas missões profissionais definidas pela Constituição. Mas a cooptação em massa de oficiais da reserva para a administração pública, elemento do projeto de politização dos homens em armas conduzida pelo bolsonarismo, ameaça fragmentar o dique institucional.
Lá atrás, os generais estrelados cederam à ilusão de que seria possível conciliar o apoio político dos militares ao governo Bolsonaro com a preservação da neutralidade institucional das Forças Armadas. Hoje, quando se fecha o cerco judicial à subversão bolsonarista, a tensão entre esses objetivos incompatíveis atinge temperatura insuportável. Não vai ter golpe. Reúnem-se, porém, as condições para um putsch.
*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
Demétrio Magnoli: Nos EUA, o racismo saiu dos códigos legais, mas não das consciências
George Floyd é a vítima mais recente de uma barbárie perene
Martin Luther King foi assassinado em abril de 1968. No rastro do tiro fatal, manifestações pacíficas e atos de vandalismo misturaram-se em dezenas de cidades. Richard Nixon venceu as eleições, seis meses depois, prometendo restabelecer a "lei e ordem". Trump inspira-se no roteiro de Nixon para matar King pela segunda vez.
A Lei dos Direitos Civis (1964), obra de King, inscreveu a igualdade dos cidadãos na letra da lei. Mas o racismo institucional sobreviveu à derrota, instalando-se principalmente na casamata do sistema judicial e policial. "Não consigo respirar": negros temem circular nas ruas, pois são alvos prioritários da brutalidade policial, e enfrentam tribunais que usam réguas diferentes para punir violações similares. George Floyd é a vítima mais recente de uma barbárie perene.
Nixon inaugurou os programas de preferências raciais no serviço público e nas universidades. As ações afirmativas, na linguagem de alguns, ou racismo reverso, na de outros, tornaram-se um programa bipartidário, adotado por democratas e republicanos, durante três décadas. Sob o manto delas, a cisão racial perdurou, como uma âncora que prende os EUA à areia grossa da "nação de colonos".
Os programas de preferências raciais tomaram o lugar de políticas universais de inclusão social. O conceito de nação única é o arcabouço do Estado de Bem-Estar edificado na Europa do pós-guerra. Os EUA nunca completaram essa tarefa histórica, esboçada com o New Deal, devido à persistência do conceito da "nação de colonos": uma nação branca e protestante rodeada por uma coleção de minorias (negros, latinos, asiáticos, indígenas). Na pandemia da Covid-19, a ausência de um sistema universal de saúde iluminou o fosso das desigualdades sociais, com seus nítidos recortes raciais.
A divisão da nação entre cidadãos de primeira e segunda classe assumiu novas formas após a supressão das leis de segregação racial. O racismo saiu dos códigos legais, mas não das consciências. As políticas de preferências raciais propiciaram a naturalização de um cínico intercâmbio: se você não é branco, terá caminhos especiais até a universidade, mas será tratado como marginal por policiais e juízes. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, da esquerda democrata, um arauto das preferências de raça e o chefe de uma polícia que ataca protestos pacíficos, personifica esse intercâmbio.
Depois de Obama, Trump. Sob a paisagem da desindustrialização e dos choques de renda sofridos pela baixa classe média, os ressentimentos gerados pelos programas de preferências raciais ajudaram a difundir a mensagem do populismo de direita entre os brancos.
"Make America Great Again" é o grito de um nacionalismo que promete restaurar a mítica idade de ouro da "nação de colonos". A onda de manifestações que sacode o país, um segundo movimento pelos direitos civis, representa o mais poderoso desafio à distopia trumpiana.
"O silêncio branco é violência", lia-se num cartaz erguido diante da Casa Branca. A cascata de protestos reúne brancos, negros, latinos e, notoriamente, jovens de todas as cores. Quando Trump ameaçou convocar o Exército para "dominar as ruas", definia os manifestantes antirracistas como o inimigo interno.
Do seu ponto de vista, o inimigo é a nação única pela qual os manifestantes apoiam um joelho no chão junto com policiais dispostos a romper o círculo de ferro da repressão.
"Esse país foi fundado pelo protesto", alertou Obama. "Cada expansão da liberdade foi conquistada por esforços que tornaram desconfortável o status quo."
No Brasil, os George Floyd são centenas. O último chama-se João Pedro, 14 anos. Morreu na sua casa, em São Gonçalo, cravada por 70 projéteis disparados por uma polícia que tem passaporte para assassinar. Sobram-nos cotas raciais, uma mão de tinta fresca no status quo. Faltam-nos protestos.
*Demétrio Magnoli, Sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
Demétrio Magnoli: Arapuca
Militares pagam, agora, o preço de posicionar suas tropas em terreno incógnito
A fogueira acendeu-se no 19 de abril, Dia do Exército, quando Jair Bolsonaro e seus devotos manifestaram-se diante do QG do Exército, em meio a faixas pela restauração do AI-5, contra o Congresso e o STF. Suas labaredas espalharam-se um mês depois, no rastro da demissão de Sergio Moro.
Sexta, 22 de maio, o general Augusto Heleno, chefe do GSI, divulgou uma “nota à Nação brasileira” classificando como “interferência indevida de outro Poder” o ato burocrático do ministro Celso de Mello de encaminhar para análise um pedido de apreensão do celular do presidente. Nos dias seguintes, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, apoiou o gesto de Heleno, e 89 oficiais da reserva, quase todos coronéis, ameaçaram o STF com o espectro de uma “guerra civil”. A artilharia verbal seguiu, com o agradecimento “emocionado” de Heleno à carta dos coronéis e uma “carta aberta” do Clube Naval repudiando a “arbitrária decisão” de Celso de Mello de divulgar a gravação da reunião ministerial tarja-preta de 22 de abril.
Os militares caíram na arapuca no 5 de agosto de 2018, data em que o então candidato Bolsonaro anunciou o nome do seu companheiro de chapa. Hamilton Mourão, o vice, uma das figuras icônicas da geração de oficiais formados durante a “lenta, gradual e segura” abertura política de Geisel, selou a aliança entre as Forças Armadas e o ex-capitão turbulento, rejeitado pelo Exército por indisciplina. O pacto rompeu a fronteira que, desde 1985, separava os quartéis da política. O vírus da anarquia militar, moléstia crônica do Brasil República, voltou a circular na caserna.
Desde o início, o plano de batalha estava crivado de equívocos fatais. Os militares avisaram, ingenuamente, que os altos oficiais engajados no governo operavam individualmente, não em nome das Forças Armadas. Acreditaram na ilusão de que, por meio de um cordão sanitário de ministros-generais, neutralizariam os excessos de Bolsonaro para produzir um governo pragmático, assentado nos pilares da Economia (Guedes) e da Justiça (Moro). Não entenderam a natureza do movimento bolsonaro-olavista, que se orienta por uma estratégia de ruptura institucional. Pagam, agora, o preço de posicionar suas tropas em terreno incógnito.
O movimento bolsonaro-olavista acalenta o sonho delirante de uma “marcha sobre Brasília”. Para isso, multiplica suas ações em rede destinadas a cooptar oficiais militares e sargentos, cabos ou soldados das PMs. A tática atenta contra a disciplina nos quartéis, desgastando os fios da hierarquia castrense. Os manifestos de Heleno, dos coronéis e do Clube Naval conferem nova dimensão à agitação subversiva da ultradireita.
O bombardeio das redes bolsonaro-olavistas não poupou o círculo de generais do Planalto. A queda de Santos Cruz, em junho de 2019, evidenciou que, na ordem de prioridades de Bolsonaro, o núcleo ideológico sempre está acima dos conselheiros militares. Aquele evento assinalou a derrocada da linha de resistência interna. A mira dos canhões voltou-se, então, para o Congresso e o STF.
Há anos, num ritmo ditado pela crise do sistema político, o STF extrapola seus limites constitucionais, operando como Poder Moderador. Nessa moldura, a fábrica de ofensas do bolsonaro-olavismo provocou uma reação em cadeia, iniciada pelo inquérito das fake news e acirrada após as denúncias de Moro. O veto à nomeação de Alexandre Ramagem para a PF, a ordem de divulgação da reunião ministerial e a operação policial de devassa das redes de propagação do ódio explodiram as pontes remanescentes. Hoje, um presidente sitiado pelas instituições civis busca proteção na casamata dos militares.
“Saia de 1964 e tente contribuir com 2020”, pediu Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, ao ministro Heleno. Mesmo o destinatário da mensagem, um dos poucos generais do Planalto que dá ouvidos aos desvarios do núcleo ideológico, não chega ao ponto de desejar a ruptura institucional. Mas, junto com seus camaradas mais sensatos, ele conduziu suas forças à guerra errada, entregando-as ao comando clandestino de um capitão sem farda nem bússola.
Demétrio Magnoli: Pátria de Bolsonaro não é Brasil, EUA ou Israel, mas sua própria família
Nação de Bolsonaro não é Brasil, EUA ou Israel, mas sua própria família
Política é um jogo de signos. O PT oscila, taticamente, entre o verde e amarelo e o vermelho. O bolsonaro-olavismo insiste nas cores nacionais, mas empunha três bandeiras simultâneas, desfraldando também as dos EUA e de Israel. Nesse passo, revela um nacionalismo equívoco, uma aversão essencial ao Brasil e a alma de um partido sem pátria.
O cálculo de marketing norteia o PT. Verde e amarelo funciona para ofensivas destinadas a vencer eleições ou conservar a popularidade de seus governantes. Já o vermelho funciona para as conjunturas de recuo, quando se trata de reunificar sua base militante, evitando dissensões.
A postura ofensiva tem raiz autoritária, pois identifica a parte (o partido) ao todo (a nação). A defensiva, ainda que acompanhada ritualmente por discursos sectários, é democrática: "Nós, vermelhos, somos uma corrente política, entre as várias disponíveis no mercado de ideias".
O impulso autoritário, representado pela invariável apropriação partidária das cores brasileiras, norteia o bolsonaro-olavismo. Mas a presença dos pendões estrangeiros, que provoca tanta curiosidade, indica algo mais: a pátria amada não é a realmente existente. Para esses patriotas de araque, o Brasil não serve: deve ser substituído não por uma, mas por duas pátrias imaginárias.
A primeira tem contornos seculares: EUA. O Brasil precisa tornar-se uma outra coisa, que não existe de fato, mas pertence à mitologia identitária. No universo delirante do cortejo presidencial, o modelo é uma nação de colonos armados organizada como Estado-milícia. Na base dessa ideia-força encontram-se o elogio do individualismo extremado, o desprezo às políticas sociais, a aversão à diferença, a nostalgia de uma "idade de ouro" puramente ficcional. Donald Trump, o líder adorado, sintetiza a pátria terrena imaginária.
A segunda tem contornos sagrados: Israel. Seitas neopentecostais oriundas dos EUA adotaram o "sionismo cristão", doutrina escatológica apoiada na profecia de que a reunião de todos os judeus em Israel é condição para o segundo retorno de Jesus.
No Brasil, os chefes dessas igrejas messiânicas tornaram-se aliados vitais de Bolsonaro, oferecendo-lhe acesso privilegiado a seus estoques de fiéis. Binyamin Netanyahu, um líder sionista secular, aproveita-se da crença apocalíptica que não compartilha para obter respaldo à sua política de anexação dos territórios palestinos ocupados.
A natureza do bolsonaro-olavismo impede que se articule como partido nacional. De um lado, porque recusa a condição de parte, de corrente singular, almejando obsessivamente representar a totalidade da nação: não é casual que o esboço inconcluso de entidade partidária bolsonarista, a Aliança pelo Brasil, carregue na sua certidão de batismo o nome da pátria. De outro, porque rejeita a política nacional, alistando-se em dois movimentos estrangeiros: a "Internacional dos nacionalistas", de Trump e Bannon, e a "Internacional cristã-sionista", do neopentecostalismo.
O caleidoscópio de cores e bandeiras que cerca Bolsonaro é um fruto dos detritos filosóficos espalhados por Olavo de Carvalho. O grau de influência do Bruxo da Virgínia sobre o círculo presidencial não deve ser desprezado, pois é função direta da ignorância desses acólitos. Mas o personagem central da tragédia é Bolsonaro, que não compreende os significados da paisagem simbólica erguida ao seu redor. Ao contrário do mestre místico, ele tem uma única pátria, que não é o Brasil, nem os EUA ou Israel.
A pátria de Bolsonaro é a família. Não a família brasileira ou a família tradicional, essas fabricações de reacionários de churrasco, mas a sua própria família, com o entorno de relações suspeitas e conexões obscuras que um dia virão à luz. O brasão dos Bolsonaro --eis o estandarte oculto no carnaval das manifestações domingueiras.
*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
Demétrio Magnoli: Suécia, vida e morte
O colapso econômico cobra vidas
Os secretários estaduais de Saúde bateram a porta na cara do agora ex-ministro Nelson Teich. Diante de uma proposta de diretrizes sobre níveis de distanciamento social, responderam que, enquanto a curva da epidemia sobe, não é hora de discutir o assunto. Nossa polarização política reflete-se como guerra retórica entre dois extremismos. Num polo, Bolsonaro e seus lunáticos fantasiam-se de defensores da economia e dos empregos. No extremo oposto, configura-se um fundamentalismo epidemiológico que, vestido com a roupagem da ciência, exibe-se como o exército da vida. A Suécia oferece uma alternativa à dicotomia irracional.
O país escandinavo rejeitou a polaridade filosófica vida versus morte e sua tradução estratégica: saúde pública versus economia. Distinguindo-se de quase toda a Europa, navega por medidas brandas de isolamento social que não abrangem quarentenas extensivas. O fundamentalismo epidemiológico acusou-a de renegar a ciência, cotejou sua taxa de mortalidade por Covid (34 por 100 mil) com a de seus vizinhos (Noruega: 4,3; Finlândia: 5,1) e, num julgamento sumário, declarou-a culpada de desprezo pela vida.
O governo sueco não classificou a doença como “uma gripezinha”, recusando o negacionismo. Como o resto da Europa, definiu o objetivo de “achatar a curva”. Mas modulou a estratégia para o longo prazo, estimando que a vacina tardará. Aceitou, portanto, taxas maiores de óbitos imediatos, em troca da mesma mortalidade que os outros no horizonte da imunidade coletiva. No plano epidemiológico, um veredicto justo deve aguardar o momento redentor da vacinação em massa.
O parâmetro sueco não é suprimir o vírus pelo bloqueio social, mas evitar as mortes evitáveis — ou seja, preservar a capacidade hospitalar de atendimento de casos graves. Nesses dias, após “achatar a curva”, os governos europeus começam suas reaberturas, ainda em meio a milhares de contágios. Todos rendem-se ao mesmo parâmetro — e, claro, enfrentam a voz indignada dos anjos da vida.
Os anjos estão errados, por motivos pragmáticos e filosóficos. O colapso econômico cobra vidas. A depressão mundial lançará cerca de 130 milhões de pessoas na vala da fome. O desemprego crônico, com seu cortejo de alcoolismo e opioides, corta a expectativa de vida em mais de cinco anos. Por que a vida de um faminto ou de um desempregado vale menos que a de um infectado pelo vírus?
A Suécia levou em conta um valor que escapa ao domínio epidemiológico: as liberdades civis. Quarentenas prolongadas achatam direitos, tanto quanto a curva de contágios. A liberdade ou a segurança? No caso da Aids, que matou 32 milhões, jamais restringimos as atividades sexuais, impondo legalmente testagens aos parceiros para evitar a difusão do vírus. A filosofia moderna nasceu com a declaração do direito à revolta contra governos tirânicos. A escolha de viver em liberdade deflagra rebeliões, que causam conflitos e mortes.
No plano dos valores, quarentenas justificam-se pela interdição ética fundamental de deixar pacientes morrerem sem tratamento apropriado. Itália, Espanha e França recorreram ao lockdown precisamente diante desse abismo. A Alemanha, que não chegou perto dele, preferiu uma quarentena moderada — e começa a reabrir em nome dos “direitos constitucionais”.
O exemplo sueco não indica que os italianos erraram — e não serve para moldar as respostas brasileiras a uma curva exponencial. Por outro lado, é a bússola mais precisa para nortear o debate, em todos os lugares, sobre lockdowns, quarentenas e flexibilizações. A epidemiologia militante, iracunda e intolerante, não tem o direito de invocar uma aliança preferencial com a vida, rotulando como arautos da morte os que ousam contestar suas receitas.
Teich foi elevado por Bolsonaro ao ministério com a missão de fabricar mais desordem, sabotando nossas últimas oportunidades de coordenar o combate à epidemia. Mas ele sabotou o sabotador, ao oferecer um esboço de diretrizes comuns. Os secretários de Saúde fizeram baixa política ao recusar a mera discussão da proposta. Ganham aplausos indevidos de fanáticos do bem.
Demétrio Magnoli: Réplica a um confinado bacana
Eu, que furo a quarentena, sou pretexto para você desviar tua indignação
Li a tua carta a um não confinado, na Folha (9 de maio). Vesti a carapuça e o jornal abriu espaço para essa minha resposta. Você é um cara bacana, ama o planeta, valoriza a vida, me despreza. Concordo com teus argumentos sobre a necessidade de confinamento.
Só não pratico o que acho certo: furo a quarentena todos os dias. Coerência é coisa de bacana, num outro sentido.
Sou "zé povinho", como você escreveu. E, pior, não estou entre os mais pobres. Tenho um estabelecimento (não direi de que tipo, nem onde fica), que toco com minha mulher e dois funcionários. Fechei por três semanas, cumprindo a ordem do governador. Reabri, clandestinamente, para evitar a falência. Enquanto você vê Netflix e até pinta, passo o dia no Whats, marcando hora com clientes. Levanto a porta, eles entram, abaixo rápido. Um "ser antissocial", na tua síntese bacana.
Você me odeia; eu te invejo. Suspeito que o epidemiologista mencionado na tua carta, aquele da quarentena por "mais de um ano", tem salário garantido na universidade ou em cargo público, com grana do meu imposto. A moda dos bacanas com renda certa é posar de bacana diante dos sem renda certa. O governo declarou-me "não essencial" e proíbe que eu ganhe a vida, mas não me dá um tostão. Diz que devo salvar vidas, mas não salva a minha. Bacana, né?
Ciência! Consciência! Não sou doutor, mas entendi a história do vírus. Nem precisa recomendar pra eu lavar as mãos. Sei que as UTIs funcionam no limite. Um senhor de idade, vizinho, morreu de Covid-19. Tinha problema no coração, mas parecia bem.
Mesmo assim, nada --nenhum gráfico ou imagem chocante-- me convence a transferir minha família para a pobreza. Tudo que tenho é meu negócio, que paga as contas de casa, a faculdade do meu filho, o salário dos auxiliares.
"Economia, consertamos depois", né? Juntos, no mesmo barco, sem individualismo. Ok: você topa dividir tua renda comigo?
Não sou tão desinformado como você imagina. Bolsonaro, já vi, não cuida da saúde de todos nem protege a renda do "zé povinho". Seu companheiro de jornada é o caos --ou seja, eu. O Capitão Morte investe no meu desamparo para desmoralizar a quarentena. Tem a cooperação involuntária de um prefeito que substituiu aglomerações de carros por aglomerações de gente que não possui vários carros.
Sou o caos, mas estou na companhia de muito bacana. Você, a ordem, quer chamar a polícia sanitária para fechar meu negócio. Parabéns: salva vidas, às custas da minha.
Quem lê tanta notícia? Um certo Daniel Balaban, do Programa Mundial de Alimentos da ONU, calcula que 5,4 milhões de brasileiros serão rebaixados à pobreza extrema. Conheço um que já foi, meu primo.
Jardineiro, mora na favela. Dois meses parado: vocês, bacanas, não querem "gente estranha" em casa. A mulher, doméstica, ainda empregada, segura as pontas. Chegaram, finalmente, os tais R$ 600. Dois moleques sem escola: o menor não sai da rua; o maior vai hoje a um baile funk. Meu filho vai com ele. Vetores de contágio, é assim que agora se fala, não é?
"'Lockdown' já!", você exige, com milhares de cadáveres de razão. Pergunto, porém, de que marca? Europeia, chinesa ou brasileira? Não fiz faculdade, como você, mas acho que nada vem sem embalagem.
O "lockdown" europeu precisa da Europa toda: sociedades de classe média com governos funcionais. O chinês, que você elogia, precisa da China inteira: ditadura total, o governo acima de todos. Sobra o brasileiro, me engana que eu gosto, aplicado em São Luís: a cidade dividida entre a quarentena dos bacanas e o fuzuê dessa gentinha sem Netflix.
Sei que eu, não confinado, te atrapalho. Mas, pense bem, também ajudo: minha existência, essa incômoda presença, fornece a você o pretexto perfeito para desviar tua indignação. Não é culpa deles, os governantes. É minha.
Assino: um cidadão transgressor. Volto ao Whats.
*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
Demétrio Magnoli: Carta a um não confinado
Consertamos a economia depois, todos juntos, sem individualismo
Não ponho o pé na rua há semanas. Leio, aproveito meu pacote da Netflix, experimento receitas, até comecei a pintar. Exercito-me na esteira da sala. Peço tudo por aplicativo. Faço sacrifícios: sinto falta do Iguatemi, dos meus restaurantes preferidos, de viajar.
Você, não confinado, sabota meus sacrifícios, espalhando o vírus. Devo qualificá-lo como um ser antissocial.
Não há vacina ou remédio confiável. O governo Bolsonaro ignora a pandemia, fechou o Ministério da Saúde, não coordena esforços de testagem. São mais motivos para ficar em casa, nossa única salvação.
O renomado cientista Miguel Nicolelis disse que a quarentena é para "evitar contágios". Itália e Espanha estão flexibilizando a medida com, respectivamente, 1.552 e 2.397 contágios médios diários na última semana. Seus governos irresponsáveis deram as costas à ciência. Você nunca a seguiu.
Leio na Folha as palavras sábias do sanitarista Claudio Henriques, que adiciona prazos à meta expressa por Nicolelis. A quarentena deve perdurar por "mais de um ano" e precisará ser reforçada por períodos de "lockdown" com "cerca de duas semanas cada". Ok: home office direto, via Zoom. Perdi um naco de renda; meus gastos, porém, também diminuíram. Mas essa extensão de meus sacrifícios só terá sentido se você ficar em casa, como eu. Hora de chamar a polícia, Doria!
Os restaurantes, graças aos céus, ainda não podem abrir na Itália. Seus proprietários iniciaram um movimento coletivo de entrega das chaves aos prefeitos. Mercenários: pressionam pelo desconfinamento em nome do vil metal. Vocês, donos de lojinhas e serviços não essenciais que furam a quarentena no Belém, no Brás, no Pari, são ainda piores que eles. Chega, né, Covas? Tem que trancar tudo, com multas exemplares.
Guedes boicota a rede emergencial de proteção social, atrasando o pagamento dos vouchers para os pobres. São meros R$ 600. Ok, acho pouco. Mas nada disso desculpa as cenas das favelas que retomam a normalidade. A vida é o bem maior. Você, informal desconfinado, revela sua ignorância ao desrespeitar a norma sanitária ditada pela ciência. Todos estamos no mesmo barco: dê sua cota de sacrifício, como dou a minha.
Quarentena tem, afinal, coisas boas. O planeta descansa, a natureza respira, a humanidade usa o tempo livre para reaprender a solidariedade. Louvo os corajosos médicos que estão na linha de frente. Postei homenagem no meu Insta, que ganha seguidores.
Vejo imagens de crianças descalças jogando bola na rua de uma favela, não sei se na zona oeste ou na leste. Serão filhos de auxiliares de enfermagem? Pouco importa: um sacrifício não justifica uma negligência. As escolas fecharam para evitar o tráfego do vírus pela ponte dos assintomáticos. Meu filho brinca no playground do prédio, quando desliga o celular. De quantas mortes você precisa para segurar as crianças em casa?
Sigo, atento, as estatísticas da Covid-19. A curva sobe, sinistra. Leio projeções sombrias de queda do PIB. Cinco milhões perderam empregos ou tiveram cortes salariais. Há, nesses milhões, gente como você, que se desconfina --e diz ao Datafolha que a quarentena deve terminar. Por falta de escola, você não aprendeu a ordem das coisas: a distinção entre gráficos relevantes e insignificantes. Economia, consertamos depois. Daqui a um ano pensamos nisso. Todos juntos, sem individualismo.
O Ocidente fracassou --e nem falo dos EUA. A Alemanha reabriu todo o comércio num dia com 282 óbitos, mais de mil contágios. É deboche da ciência. A China, sim, funciona. Lei marcial. Queria ver você lá, em Wuhan, onde dão valor à vida. O isolamento em São Paulo caiu a 47%. Covas, fracote, desistiu de bloquear avenidas. Mas disse certo: "As pessoas não entenderam a mensagem".
Basta. "Lockdown" já! Com esse zé povinho não dá. Odeio você.
Assino: um cidadão informado. Volto às séries.
*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
Demétrio Magnoli: Operação geopolítica da China na pandemia terá implicações de longo prazo
Na aurora de 7 de fevereiro, o nome de Li Wenliang surgiu numa inscrição imensa, desenhada na neve, à margem de um rio chinês.
Três meses e uma pandemia depois, em 29 de abril, a página A5 da Folha foi inteiramente ocupada por um informe publicitário que canta as glórias da China. As duas imagens contam uma história —ou melhor, a inversão de uma história. A operação terá implicações geopolíticas de longo prazo.
O médico Li Wenliang, um dos primeiros a soar o alarme da nova doença, foi calado pelo Estado, contraiu o coronavírus e morreu. A notícia correu nas redes sociais, convertendo-o em herói popular: o símbolo da perversidade do regime.
A página publicitária na Folha traz a voz de Xi Jinping, dublada por um "especialista" brasileiro, um diplomata chinês e o médico-burocrata responsável pela medicina tradicional chinesa. É o segundo funeral de Li Wenliang: o panegírico da "eficiência" sanitária do sistema totalitário.
O primeiro pilar da "guerra da informação" deflagrada por Xi Jinping é a manipulação das estatísticas de óbitos. Segundo os números oficiais, a China encerra sua epidemia com 4.600 mortos, 13 vezes menos que os EUA, onde o vírus continua a ceifar 2.000 vidas por dia.
Deborah Birx, a chefe da força-tarefa dos EUA para a Covid, classificou a contabilidade chinesa como "irreal". A palavra quase apareceu num relatório da Comissão Europeia, mas foi suprimida por temor à represália do principal fornecedor de respiradores, máscaras e EPIs.
O segundo pilar é a campanha de "filantropia sanitária", pela transferência gratuita desses equipamentos e materiais a países em desenvolvimento. Nessa frente, o governo chinês divide o trabalho com Jack Ma, fundador do Alibaba, a "Amazon do Oriente". A iniciativa faz parte de um projeto muito mais ambicioso, a "rota da seda sanitária", que almeja converter a China em ator global no setor multibilionário da indústria farmacêutica.
O surto do ebola na África Ocidental, em 2014, foi o palco da aventura pioneira chinesa na política sanitária internacional. Na ocasião, a China cooperou com os EUA, cumprindo papel coadjuvante. Já na "rota da seda sanitária", ela opera unilateralmente, projetando influência no Sudeste Asiático, na Ásia Central e na África.
A escolha do etíope Tedros Adhanom para a chefia da OMS, em 2017, alavancada por um lobby chinês, converteu a organização em trampolim para a diplomacia sanitária de Xi Jinping na África, que utiliza a Etiópia como cabeça de ponte.
O FMI estima violentas quedas do PIB anual nos EUA (-5,9%), na Zona do Euro (-7,5%), no Reino Unido (-6,5%) e no Japão (-5,2%), mas discreto crescimento na China (1,2%). A crise do coronavírus acelera as tendências prévias de deslocamento do eixo econômico global. Mas o triunfo geopolítico chinês, apoiado na falsificação da história, deriva essencialmente dos fracassos ocidentais.
Os EUA praticaram o esporte primitivo do negacionismo, retrocederam para o isolacionismo e, no fim, renunciaram a disputar influência com a China na OMS. Trump tenta, pateticamente, livrar-se da responsabilidade pela negligência, atribuindo a pilha de 65 mil cadáveres ao "inimigo estrangeiro" (o "vírus chinês") e disseminando teorias conspiratórias (o "vírus de laboratório"), enquanto faz da emergência sanitária um pretexto para radicalizar a xenofobia.
Do outro lado do Atlântico, a União Europeia fechou descoordenadamente suas fronteiras internas e reativa a tensão entre Alemanha e o trio França/Itália/Espanha em torno das estratégias de resgate da economia.
"Para a China, tudo serve a uma utilidade política; um número nada significa para eles", explica Ai Weiwei, o célebre artista dissidente chinês, referindo-se à macabra piada estatística. A China da página A5 soterra a China da inscrição na neve fofa. Ao mentiroso, as batatas.
*Demétrio Magnoli, sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.
Demétrio Magnoli: Ciência serve para políticos fugirem à responsabilidade por suas decisões
Na guerra, o poder deve ser transferido aos generais? Na emergência sanitária, devemos recorrer ao 'governo dos epidemiologistas'? A resposta democrática é duas vezes 'não'
O físico Neils Bohr, um dos fundadores da teoria quântica, sabia o que não sabia. “A predição é muito difícil, especialmente sobre o futuro”, afirmou ironicamente, para explicar que a ciência cuida, essencialmente, da descrição. É útil recordar sua frase, nesses tempos em que líderes políticos —com o apoio de não poucos cientistas presunçosos— enchem a boca para dizer que suas decisões sobre a emergência sanitária fundamentam-se “na ciência”.
João Doria decidiu, “com base em ciência”, conservar regras lineares de isolamento social no estado de São Paulo, até 10 de maio. Já Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, resolveu flexibilizar as restrições no interior de seu estado —claro, “com base em ciência”. Os cenários são similares, embora não idênticos. A ciência também poderia ser invocada por cada um deles para adotar as iniciativas do outro.
O finado Mandetta justificou o isolamento social com o argumento de evitar o colapso hospitalar, um raciocínio que propicia flexibilizações em áreas de baixa pressão sobre leitos e UTIs.
O neurocientista Miguel Nicolelis, que assessora os governadores do Nordeste no mapeamento da epidemia, discorda veementemente. Segundo ele, em entrevista à TV, o isolamento social tem a finalidade muito mais ambiciosa de “evitar contágios”, o que exigiria rígidas quarentenas em todos os lugares, por período indefinido. Os dois falam —adivinhe!— em nome “da ciência”.
A ciência está na moda —o que é sempre bom, e melhor ainda nessa era de Bolsoneros, rezas coletivas para assustar o vírus, presidentes que receitam remédios, teorias conspiratórias veiculadas por ignorantes com cargo público. Contudo, o fetiche da ciência não ajuda a ciência e, sobretudo, serve como vereda para os políticos fugirem à responsabilidade por suas decisões, que são sempre políticas.
A ciência faz descrições e, no limite, formula hipóteses probabilísticas sobre o futuro. Um modelo sobre a pandemia da Universidade de Washington recomenda que nenhum estado dos EUA reabra a economia antes de maio —e que alguns deles só o façam no longínquo julho. Mas, rejeitando o fetichismo, o responsável pelo estudo disse que “se fosse um governador, certamente não tomaria decisões baseadas apenas no nosso modelo”.
O modelo da Universidade de Washington reflete, exclusivamente, uma especialidade científica: a epidemiologia. Não desapareceram, contudo, na tempestade viral, outros campos do conhecimento, como a sociologia e a economia (a “ciência sombria”, na definição de Thomas Carlyle). Essas ciências têm algo a dizer sobre os efeitos não epidemiológicos do congelamento prolongado de amplos setores da produção e do consumo.
A maior depressão mundial desde a Grande Depressão terá fortes implicações sobre a saúde pública. A ONU alerta para o risco de uma “fome de proporções bíblicas” em países pobres, como resultado da ruptura do sistema econômico. Investigações (científicas!) realizadas nos EUA indicam que o desemprego de longa duração corta a expectativa de vida em algo entre cinco e dez anos. Há mais coisas sob o sol do que o vírus.
O fundamentalismo epidemiológico (“evitar contágios”) pode ser tão desastroso quanto a negligência criminosa (“uma gripezinha”). A saída encontra-se na ciência desfetichizada —ou seja, numa visão holística da emergência sanitária.
A Alemanha, com folga no sistema de saúde, reduz paulatinamente as restrições na hora em que ainda se registram milhares de novos contágios diários. É uma decisão política, certa ou errada, tomada pelos representantes eleitos, não por epidemiologistas.
Na guerra, o poder deve ser transferido aos generais? Na emergência sanitária, devemos recorrer ao “governo dos epidemiologistas”? A resposta democrática é duas vezes “não”. No segundo caso, inclusive, para não converter a ciência em superstição.
*Demétrio Magnoli é sociólogo, autor de “Uma Gota de Sangue: História do Pensamento Racial”. É doutor em geografia humana pela USP.