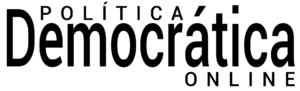Por Raul Jungmann e Caetano Araújo
Defensor do auxílio emergencial desde o início da pandemia diante de uma situação que não é típica do ciclo econômico, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central (1999-2003) durante o segundo mandato do Governo FHC é o entrevistado especial desta 28ª edição da Revista Política Democrática Online. Para 2021, o sócio fundador da Gávea Investimentos e um dos mais notórios economistas liberais do país avalia que um novo auxílio seja necessário para ajudar a sustentar a economia. “Há consenso a esse respeito, mas o governo enfrenta limites na sua capacidade de financiamento. Terá de ser, portanto, muito bem pensado”, acredita.
Armínio Fraga também faz um alerta sobre a ideia de que o governo brasileiro vai continuar se endividando, na expectativa de que isso vai gerar um futuro melhor. “É um perigo monumental”, completa. Para ele, o governo Bolsonaro não está discutindo os problemas centrais da economia brasileiro. “Nossa taxa de investimento em torno 15%, 16% do PIB é muito baixa para sustentar o crescimento. Espelha enorme incerteza”, acredita. Associado fundador do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps), Fraga também considera a derrota de Trump como muito importante para o Brasil e o mundo. “Se o Biden for na direção de Clinton, de Obama, será um espetáculo”, avalia. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista à RPD Online.
Revista Política Democrática Online (RPD): Alguns analistas avaliam que, a partir de suas declarações e artigos mais recentes, você poderia considerado como uma ponte autorizada entre os setores liberais e a esquerda democrática. O que pensa a respeito?
Armínio Fraga (AF): É mais uma torcida do que uma análise. Eu vejo a necessidade de esquecer um pouco os rótulos e pensar nas propostas concretas. Estou convencido – e não digo que seja um teorema – da ideia de que no Brasil, como em muitos outros países, alguns grandes temas têm que andar juntos, eles se reforçam. Na economia são três. Macroeconomia saudável, para organizar um pouco a casa e impedir que haja uma crise a cada cinco, 10 anos. No plano do crescimento, importa cuidar da produtividade para o país crescer. Há décadas que crescemos muito pouco. Houve momentos de luz, mas sempre mais do que compensados por trevas, colapsos, uma desgraça.
Outro ponto não menos importante refere-se ao tema da desigualdade, que, embora não seja monopólio da esquerda, é sua essência. É fundamental olhar para a desigualdade de uma maneira ampla, completa. A pobreza é inaceitável, mas nós temos que ir muito além do combate à pobreza extrema. Temos que criar condições para que as pessoas tenham capacidade de se empregar, ter sua renda, seu espaço, portanto, de oportunidade e mobilidade, e por aí vai. Essa agenda, a meu ver, é de fato uma combinação liberal, social, que não difere muito da agenda do Fernando Henrique Cardoso, tampouco da do Lula em seu primeiro mandato. Naquele momento, parecia que o Brasil político fosse oscilar dentro de um espaço pequeno, um pêndulo que não se tornaria uma bola de demolição, como acho que acabou acontecendo.
Eu me vejo nessa posição. Não sou político, não tenho ambições eleitorais, mas tenho, sim, participado do debate público. Como me dão espaço, procuro aproveitar. E essa ponte, a meu ver, precisa ocorrer mais para o centro, algo mais equilibrado, e não essa loucura que temos hoje, de costumes e ameaças autoritárias, de comportamento truculento, nem tampouco de uma esquerda velha, sonho compreensível, mas que avalio nunca ter dado certo. Menos ainda uma esquerda, entre aspas, que produziu o bolsa-empresário de sete pontos do PIB, quando o Bolsa Família consome meio ponto do PIB. Isso não é esquerda, nem sei muito bem o que era. Embarcou-se numa canoa furada, abraçaram ideias equivocadas e, infelizmente, também a corrupção e tudo mais. Então, se é esse espaço de ponte que querem me atribuir, fico muito feliz, é onde eu gostaria de estar mesmo.
RPD: Você não estaria apostando muito na convicção das pessoas, na capacidade de elas reagirem da maneira descrita? Não faltaria um orquestrador, uma liderança que lhes abrisse o caminho e as conduzisse na aproximação entre o liberalismo e a esquerda?
AF: Não vejo o que eu faço como sendo uma tentativa política completa, sou apenas uma pessoa que disputa um espaço de opinião. Trata-se de uma tese a ser construída, o que será, em muitos aspectos, difícil. O lado liberal não é muito intuitivo, isso já vem desde Adam Smith. São receitas que, às vezes, levam as pessoas a se sentirem desprotegidas. Penso, assim, que caberia uma campanha de informação, mas isso me faria sair um pouco do meu quadrado.
Há muito tempo venho tentando entender a narrativa da história, por assim dizer. Tentei quando estive no governo. Depois, prossegui conversando com muita gente, inclusive com o próprio presidente Fernando Henrique. Mas como se faz, por exemplo, para lograr vencer o populismo? Muito difícil. Com meu chapéu de economista, diria que é quase impossível. Um dia, ele pode quebrar, mas, até lá, é imbatível, prometendo mundos e fundos, ninguém fazendo contas, ninguém entendendo coisa alguma e, num belo dia, quebramos de novo. Esse é um desafio político de primeira ordem.
Muito francamente, penso que acabaremos reinventando a socialdemocracia. Adaptada às coisas ao século 21. Ótimo: meio ambiente e tecnologia. Eu, por exemplo, sou bem verde. Mas acho que precisamos mais de ideias do que liderança. O Brasil tem de repensar o espaço partidário. Os partidos e suas siglas de hoje não valem nada. Escrevi recentemente na Folha artigo em que mencionei esse ponto. Precisamos evoluir nessa área. Entendo que o número de partidos tende a cair com as cláusulas de barreira e a proibição das coligações, mas, além de uma redução no número de partidos, acho que falta clareza programática, ideológica. Não é suficiente fazer, por exemplo, como tenta fazer o partido Novo que declarou “nós queremos honestidade e eficiência”. Todo partido deveria defender honestidade e eficiência. Falta ir muito mais longe. É necessário mais do que uma pessoa, embora isso sempre ajude. No mundo de redes e de comunicação direta com o eleitorado, o peso da candidata ou do candidato numa eleição presidencial é altamente relevante. Mas, se isso vier sem uma estrutura de valores, de propostas, inclusive no plano partidário, ainda que seja alguma coligação, desde que construída em cima de ideias, temo que o Brasil seguirá patinando.
RPD: Para a retomada do crescimento, o auxílio emergencial poderá ajudar? Qual é o dever de casa que o Guedes deve seguir?
AF: Guedes se define como um liberal. Ao tomar posse, disse que era um liberal político também, um defensor da democracia. Nada disso se revelou evidente. Há que se distinguir crescimento, que, para mim é algo mais sustentado, de recuperação, esta, mais cíclica, de curto prazo, basicamente o que ocorre na esteira de uma recessão, do que já tivemos dois exemplos gigantes nos últimos sete anos. Na primeira, a recuperação foi tímida, pífia, é um momento ainda muito complicado, mesmo que Temer tenha apresentado boa agenda de reformas. Mas, depois, tudo se complicou, como se sabe, e aí veio o que veio.
Para fazer o país crescer, é outra estória. Temos de incluir na política econômica a educação, a saúde. Depende também de confiança, estando tudo interligado. Uma empresa, quando explora a possibilidade de investir, tem que trabalhar com um horizonte de tempo que vá além da recessão.
Defendi o auxílio emergencial desde o início da pandemia diante de uma situação que não é típica do ciclo econômico; antes, uma calamidade colossal, agravada pela não resposta pronta do governo federal. Cabia, pois, um auxílio. Depois ocorreu, e forte, só que veio mal calibrado, talvez por razões meio populistas, talvez por uma expectativa de que o negócio não fosse tão sério ou duradouro assim. Não dá, portanto, para repetir o esforço do ano passado. Algum auxílio tem, porém, que acontecer, para ajudar a sustentar a economia. Há consenso a esse respeito, mas o governo enfrenta limites na sua capacidade de financiamento. Terá de ser, portanto, muito bem pensado.
Não acredito que se estejam discutindo os problemas centrais da economia brasileiro. Nossa taxa de investimento em torno 15%, 16% do PIB é muito baixa para sustentar o crescimento. É um nível que espelha enorme incerteza, grande falta de confiança. Em entrevista live recente, Larry Summers, indicou que, se tivesse de escolher um único indicador para entender o que está acontecendo num país, olharia para o que os investidores locais estão fazendo com o dinheiro deles. No nosso caso, a coisa complica.
Estamos tendo essa conversa logo após as votações do Congresso, e nada sugere uma situação que nos vá encher os olhos, com o Brasil embarcando num outro modelo. Ao contrário: acho que a gente está dando um mergulho no passado e sem liderança.
RPD: O enfrentamento da crise sanitária justificaria o abandono de toda preocupação relativa ao equilíbrio das contas públicas?
AF: Um governo pode se endividar, um governo que não seja um estado falido, mas isso obedece a várias restrições. Mas a restrição mais básica é ter alguém disposto a emprestar esse dinheiro para o governo. Começando por baixo, a ideia de que emitir moeda, emitir dívida na sua própria moeda, é uma garantia de que não há limite para seguir se endividando é um nonsense completo. Imagine se as pessoas seguirão comprando papel do governo, se entupindo de papel do governo, de um governo que não mostra um rumo, que repetir nossa própria história, a história de nossos vizinhos, de vários países, da própria Alemanha no passado? Acho surpreendente que alguém acredite nisso. Escrevi isso num dos meus artigos na Folha que essa ideia de que um governo, que pode emitir sua própria moeda, siga emitindo dívida sem limite é para mim na verdade uma ameaça. Não é à toa que o dólar está tão alto aqui.
Vamos aos fatos. A política fiscal no Brasil, desde a Dilma (2014), virou uma das políticas fiscais mais gastadoras do mundo. Essa política, que foi um total colapso fiscal, alguém pode defendê-la? Eu não sei como as pessoas falam em austeridade, num país que está com déficit primário e acumulando muita dívida desde 2014. Alguns alegam que valeria a pena se endividar para investir.
Os programas de investimento do governo são difíceis de administrar. Defendo mais investimento público, há muito tempo. Defendo mais eficiência do estado, mas isso não resolve, inclusive porque o investimento público é lento, e nós estamos precisando de uma resposta, do ponto de vista conjuntural, imediata.
Acho que é preciso separar. Reconheço alguns passos, mas a ideia de que o governo brasileiro vai continuar se endividando, na expectativa de que isso vai gerar um futuro melhor, é um perigo monumental. O investimento público cair de 5% do PIB para menos do que 1% é um problema. Mas isso é porque, do outro lado, vários outros gastos aumentaram muito e ocuparam o espaço. Vejamos. A folha de pagamento do governo como um todo cresceu imensamente, a previdência brasileira é extravagante dada nossa relativamente jovem estrutura etária, que vem mudando rapidamente, e, sobretudo a partir da gestão Dilma, o Brasil gastou uma fortuna em subsídios. Segundo relatórios muito bem feitos pelo tesouro nacional, a tal da bolsa empresário, se quiser, os gastos tributários, chegaram a 7% do PIB, inclusive os subsídios do BNDES. O Bolsa Família, só para comparar, é 0,5%.
É evidente que o Brasil precisa reorganizar seus gastos, redirecioná-los na direção de mais produtividade e menos desigualdade, esse é o jogo. De onde vem o dinheiro? Dos gastos e subsídios que mencionei há pouco. Ao contrário dos países avançados, no Brasil, com juros de longo prazos ainda altos, e pouco crescimento e credibilidade, a opção de financiar com mais dívida seria muito arriscada.
RPD: A crise do estado de bem-estar social, na década de 1970, foi seguida, a partir de 2008, pela crise do modelo de auto regulação dos mercados mundiais. Está aberto o caminho para estratégias intermediárias de desenvolvimento?
AF: A pergunta remete a um mundo que desembarcou do “fim da história” do Fukuyama, onde se supunha a vitória de um modelo liberal-democrático. Mas nada disso aconteceu. O estado-nação está mais forte do que nunca. Estou falando de China, Índia, Turquia, os Estados Unidos sob Trump e de outros casos menores, mas não irrelevantes, como Filipinas e o Leste Europeu, para não mencionar um número de combinações entre modelos econômicos e políticos.
Não bastasse a disseminação de um viés autoritário em muitos países, preocupa ainda mais o modelo econômico chinês. Eles abraçaram o mercado, mas com um controle quase que absoluto do partido, com a presença obrigatória de um membro do partido em todos os conselhos das principais empresas. Quanto ao tratamento da informação, o sentido de privacidade sob o comando do Xi Jinping meio que deu um cavalo de pau. No que parecia ser uma suave caminhada para algum grau de abertura, a partir das bases, ele pisou no freio. Pisou no freio também na internacionalização da moeda chinesa. Várias dessas ideias foram deixadas de lado, ante a introdução do controle de câmbio e de outras medidas duras. É um modelo que assusta, como o foi, no passado, o modelo soviético. Mas o chinês, por estar mais adaptado às realidades do mercado, representa talvez desafio maior para a construção de um mundo livre, aberto e pacífico, bom de se viver.
Representa, no fundo, um desafio para a socialdemocracia, para o liberalismo também, e, embora não me sinta qualificado para dar grandes respostas, arrisco supor um repensar do modelo social-democrático, vale dizer, da ideia de um liberalismo progressista e da própria socialdemocracia, conceitos que considero muito parecidos e que estão em crise. Bastaria mencionar o descontentamento das classes médias, em especial nos países desenvolvidos, diante da concorrência global, de um lado, e dos avanços da tecnologia, de outro. É um quadro que requer respostas urgentes, entre as quais se destaca um desafio existencial, que é a questão da mudança climática. Espero que chegada do Biden force maior coordenação no mundo ocidental e que o chamado soft power, não só americano, mas também europeu, cada um do seu jeito, volte a prevalecer.
Quero dizer que a chance de o mundo se desenvolver de uma forma tranquila depende muito do êxito do modelo ocidental. Mas não só. As pessoas que vivem sob regimes autoritários têm que saber que existe um modelo melhor, na linha do que os americanos oferecem, por ser um lugar aberto.
Para o Brasil e o mundo, vejo como muito importante a derrota do Trump. Em que medida essa adaptação política vai acontecer, não saberia dizer. Imagino para o Brasil uma visão que seja solidária e capaz, ao mesmo tempo, de gerar crescimento. Incluiria também o uso de tecnologia para queimar etapas, desde que seja complementar às pessoas e não substitutiva, distinção nada trivial. Recomendaria também – e com ênfase especial – a ideia, que, aliás, tem nossa cara, de um Brasil Verde, que caiba no seu espaço, com qualidade de vida para as pessoas, isto é, a qualidade do ar, da água, da alimentação, comentário autorizado para quem, como eu, mora no Rio.
O Brasil tem tudo para num período de uma ou duas décadas transformar-se transformar num espaço verde extraordinário. Olhem a Nova Zelândia, a Costa Rica. Não importa o tamanho, o modelo é que tem de ser bom. Acho que nossa adaptação ter de ser nessa linha.
RPD: O governo Biden pode influir nessa adaptação?
AF: Indiretamente, sim, dando o exemplo. Só remover o exemplo péssimo do Trump já é bom. Se o Biden for na direção de Clinton, Obama, será um espetáculo. Mesmo que seja inevitável que os Estados Unidos, junto com os europeus, nos apertem um pouco. Podem até estender a pressão para outros temas, como Amazônia, direitos humanos, respeito à imprensa, respeito à própria democracia. Não dá para viver sem isso. Acho até bom para nós também. Talvez uma pressão externa não chegue a modificar muito o comportamento de nossas lideranças, mas a pressão do mercado pode: a pressão econômica eventualmente vai morder.
RPD: Executivo da BlackRock e Jorge Caldeira, em seu livro, Paraíso sustentável, defendem que a questão ambiental, a questão climática, tem influência direta nas finanças, na produtividade, nos lucros das empresas. Qual sua visão a respeito?
AF: Considero procedente essa visão. A BlackRock está certa em defender essas causas e trazê-las para o dia a dia das empresas, das pessoas, acho super saudável. Mas nada disso substitui o governo. Acredito em autorregulação, mas ela só funciona, se acima da autorregulação, tiver a regulação do Estado. E, claro, estou pressupondo um Estado de boa qualidade, sem a qual país algum se desenvolve. Essa é a estrutura básica. Vejo como muito positiva as opiniões acima indicadas. Esse movimento, que se identifica como ESG, a meu ver, é saudável, porque toca num nervo sensível das pessoas, uma alma solidária. E essa é uma crítica, inclusive uma autocrítica, que muitos economistas mundo afora vêm fazendo e que, a meu ver, faz todo sentido. Entendo que esse assunto vai longe. Não até onde precisa chegar, no entanto, sem uma participação concreta do Estado. As boas intenções do setor privado têm de ser complementadas por um Estado que também cumpra com o seu papel.
Venho refletindo muito sobre o tema ESG, em geral. O G, de governança, no Brasil tem avançado bastante. O que aconteceu com a Petrobras foi um enorme acidente de percurso, mas foi apenas isso, porque, no mundo privado, as empresas vêm evoluindo muito bem nessa direção, já não é de hoje. Foi um movimento que nasceu dentro do setor privado, na bolsa de valores em particular, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É, sem dúvida, uma revolução, o que aconteceu aqui no Brasil, está dando muito certo.
O S de social é carente no Brasil, a despeito de governos socialdemocratas e do próprio PT. Ainda há muito a faze. Mas também penso que há alguma consciência, não no momento, mas há. E o A de ambiental é o que estamos discutindo. É indispensável, essencial, é uma questão de sobrevivência do planeta, que se faça a transição. Ela está acontecendo de forma lenta e perigosa. O governo Trump deu, na verdade, duro golpe nesse projeto, ao se afastar do acordo de Paris. Mas agora, com o Biden, pode voltar aos trilhos. Vejo, de novo, o Brasil numa posição muito boa para ocupar esse espaço e de uma forma que projete para o mundo a consciência de que essa é uma questão planetária, e boa para nós também.
*Arminio Fraga
Sócio fundador da Gávea Investimentos e presidente do conselho do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Membro do Group of Thirty e do Council on Foreign Relations. Foi presidente do Banco Central (1999-2003), presidente do conselho da B3, diretor do Soros Fund Management e trustee da Princeton University (EUA), onde obteve seu Ph.D.. Foi professor da PUC-Rio, da EPGE-FGV, da SIPA-Columbia (Nova York) e da Wharton School (Pensilvânia).
*Raul Jungmann
Ex-deputado federal, foi Ministro do Desenvolvimento Agrário e Ministro Extraordinário de Política Fundiária do governo FHC, Ministro da Defesa e Ministro Extraordinário da Segurança Pública do governo Michel Temer.
*Caetano Araújo
Consultor legislativo do Senado Federal, sociólogo. É diretor da Fundação Astrojildo Pereira (FAP)