Day: novembro 12, 2020
Maria Cristina Fernandes: O que esperar de um eleitor machucado
Se as eleições de 2016 foram marcadas pelo cansaço, as de 2020 o serão pelas perdas - de vidas, empregos e perspectivas
A campanha eleitoral transcorreu num ano em que a pandemia matou 160 mil pessoas, desempregou 12 milhões, e deixou 7 milhões sem aulas. Por mais que as disputas municipais tratem do que o jargão dos candidatos chama de zeladoria, não há como subtrair da corrida pelas prefeituras e Câmaras de Vereadores, o drama nacional.
Mais do que o cansaço de 2016, pavimento para a praga da antipolítica que se esparramaria pelo país em 2018, a disputa de domingo será marcada pela perda - de vidas, empregos e perspectivas. Foi este o denominador comum das pesquisas feitas por Nilton Tristão ao longo de 2020.
De tão discreto, o instituto que dirige (Opinião) nem perfil em redes sociais tem, mas passou pelo crivo rigoroso do site Pindograma, que analisou quase 2 mil pesquisas no país, como o de maior grau de acerto. Por não seguir a metodologia estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que classifica de binária, Tristão não publica suas pesquisas. Trabalha por encomenda de candidatos.
Do que tem colhido nas pesquisas - quantitativas e qualitativas - conclui que nunca houve distância tão abissal entre os anseios de um eleitor machucado e a oferta do mercado de candidatos. Desse fosso, aposta, sairá a maior taxa de votos em branco, nulos e abstenção de uma eleição municipal desde a redemocratização.
É bem verdade que não se trata uma aposta arriscada. O próprio TSE, lembra Tristão, tem alertado na sua propaganda eleitoral que, na presença de quaisquer dos sintomas da covid-19, o eleitor deve se abster de votar. Mas aqueles que forem aos locais de votação, aposta, não estarão propensos a bravatas e propostas contra-tudo-o-que-está-aí.
O cansaço de 2016 fez ascender gente que se dizia avessa à carreira que estava a abraçar - os empresários João Doria (São Paulo), Alexandre Kalil (BH) e Hildon Chaves (Porto Velho), além do professor universitário Clécio Vieira (Macapá) - e de outros, como Marcelo Crivella (Rio) que, apesar de agarrado à política há muito tempo, ainda age e fala como se num templo estivesse.
As perdas de 2020 dão o tom da moderação. De radical, basta a conjuntura. Basta ver as bem-sucedidas campanhas de Guilherme Boulos, em São Paulo, e de Manuela d’Ávila, em Porto Alegre. O candidato do Psol conteve as ironias que marcaram sua campanha presidencial. Agora faz blague de si mesmo, ou de seu “celtinha prata”, o carro com 120 mil quilômetros rodados que nunca o deixou na mão.
Assiste de dentro de um carro à abordagem de uma repórter de sua campanha a eleitores que temem sua fama de invasor para depois aparecer com um sorriso a explicar os pressupostos do Estatuto das Cidades. Exibe a entrevista-depoimento com o apresentador José Luiz Datena que o conheceu, na virada do século, pelas histórias que seu pai, o epidemiologista Marcos Boulos, fonte do jornalista, lhe contava. Do relato, sai quase um São Francisco de Assis redivivo.
Nas viradas, uma transmissão por 24 horas de sua vida, o eleitor teve acesso ao aquário de suas filhas e à mesa de café da manhã da família - sem leite condensado no pão. A intimidade não explica como montaria uma maioria na Câmara de Vereadores, mas ajuda a moderar a imagem e aproximá-la do paulistano médio. Se conseguir o voto útil dos petistas, chegará ao segundo turno contra o prefeito Bruno Covas (PSDB), que tem na sua luta pessoal contra o câncer o maior ponto de adesão com este eleitorado machucado pela pandemia.
Também é outra Manuela aquela que se apresenta ao eleitor de Porto Alegre. A candidata do PCdoB, vice de Fernando Haddad em 2018, se apresenta como alguém que “sofreu e aprendeu”. Tanto ela quanto Boulos podem vir a ser beneficiados pelo comparecimento do eleitorado jovem, presumivelmente maior do que a média por causa da pandemia. Não têm uma eleição fácil, mas se passarem para o segundo turno já terão conseguido dar o tom da esquerda para 2022. E não apenas da esquerda.
De candidato da antipolítica em 2016, Alexandre Kalil (PSD) virou o conciliador pragmático que só não transige com o coronavírus. Quando o presidente da República culpou os prefeitos pelas mortes, respondeu: “Muito ajuda quem não atrapalha”. Cartola do Atlético Mineiro, vetou a presença de público em estádio de futebol durante a pandemia como queria Bolsonaro - “É coisa de débil mental”. Chega ao fim do primeiro turno mantendo Belo Horizonte com uma taxa de transmissão da covid abaixo de 1 (o que indica desaceleração do contágio) e caminha para se reeleger facilmente no primeiro turno, derrotando um candidato abertamente bolsonarista.
Daqueles mais identificados com o presidente da República, só Wagner Gomes, o deputado federal Capitão Wagner (Pros), tem chances de passar para o segundo turno em primeiro lugar. Para isso, precisou se afastar de Bolsonaro. O candidato do Republicanos em São Paulo, Celso Russomanno fez o mesmo movimento, mas não adiantou. Talvez porque quando ele diz que morador de rua não pega covid por não tomar banho ninguém sabe se é ele ou Bolsonaro quem esteja falando.
Levada para as “lives” do Palácio do Alvorada - pode TSE? - por outro frequentador e sanfoneiro do evento, o presidente da Embratur Gilson Machado, a candidata do Podemos no Recife, a delegada Patrícia, despencou. A capital do Estado ruma para ser a única no país com dois candidatos de esquerda, os deputados federais e primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT). É o oposto do que se vê nas capitais do Centro-Oeste. Nesses oásis do agronegócio, onde os marqueteiros paulistas que lá estão reclamam do preço dos restaurantes, a esquerda não tem qualquer chance de chegar ao segundo turno.
A eleição nas capitais está longe de refletir o conjunto do país. São 5.568 disputas diferentes comandadas pelas realidades locais. Só o medo da morte e da fome os une. O resultado eleitoral de domingo não determina o futuro de Bolsonaro. No limite, pode mostrar um presidente da República dissociado do sentimento do eleitor. O que é metade do caminho para 2022.
Bruno Boghossian: Aliados estimulam Huck a conversar com Ciro e Marina
Articuladores querem reduzir marca da direita e formar candidatura de terceira via
O grupo que procura uma candidatura de terceira via para 2022 deu um passo largo à direita no almoço entre Luciano Huck e Sergio Moro. A repercussão do encontro pegou mal entre alguns articuladores desse plano. Agora, eles afirmam que é preciso fazer um movimento para o outro lado da régua política.
O protagonismo dado ao apresentador estabeleceu o DNA inicial do projeto. Embora não tivesse uma identidade ideológica nítida e defendesse uma agenda de redução da desigualdade, Huck vestiu o figurino da direita quando se associou a Aécio Neves e se cercou de conselheiros com uma visão liberal da economia.
Uma candidatura com essa cara seria, a princípio, uma jogada para atrair o que se convencionou chamar de bolsonaristas arrependidos –eleitores escolarizados e de centros urbanos que se afastaram do presidente nas sucessivas crises do governo.
Moro se somaria ao consórcio sob a bandeira da Lava Jato, que ainda atrai uma parcela desse nicho. Assim que o encontro entre Huck e o ex-juiz se tornou público, porém, ficou claro que a aliança não teria amplitude para ganhar uma eleição.
Operadores do grupo reconhecem que uma chapa com a marca da direita afastaria eleitores de esquerda e teria pouco sucesso em desidratar Jair Bolsonaro. Por outro lado, se a coalizão tiver a cor da esquerda, pode empurrar bolsonaristas arrependidos de volta para o presidente.
Articuladores acreditam, ainda assim, que o plano passa pela adesão de nomes à esquerda. Com isso, eles pretendem atrair parte do eleitorado do PT e chegar ao segundo turno contra Bolsonaro. Nesse cenário, Moro não teria destaque na campanha nacional –poderia disputar o Senado pelo Paraná. O tucano João Doria também ficaria sem espaço.
Ninguém conhece o ponto de equilíbrio, mas aliados dizem que Huck deve procurar nomes como Marina Silva e Ciro Gomes em breve. A tarefa não deve ser fácil: o ex-governador do Ceará já afirmou que a ideia de lançar o apresentador ao Planalto era uma “irresponsabilidade”.
Ascânio Seleme: Bolsonaro criminoso
Presidente mentiu categoricamente ao afirmar que a CoronaVac causava morte
A contabilidade passava de uma dúzia de crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República quando ele deu uma freada por orientação do Centrão. Não porque não tivesse outras barbaridades para dizer, mais ameaças a proferir, novos crimes para cometer. Mas sim porque precisava dar uma envernizada no seu perfil para que o agrupamento mais fisiológico do Congresso pudesse dele se aproximar. Há dois dias, o escorpião venenoso não conseguiu se conter e voltou a seu estado natural de irresponsável maior da República. Desta vez, o alvo do seu atentado criminoso não foi o Congresso, o Supremo ou a democracia. Agora, ele preferiu golpear a saúde do povo brasileiro.
Além de festejar um hipotético fracasso da vacina que está sendo testada pelo Instituto Butantan, órgão do governo de São Paulo, onde identifica um inimigo na figura do governador, disse em rede social que ganhava mais uma sobre João Doria. E mentiu categoricamente ao afirmar que a CoronaVac causava morte, invalidez e anomalias. Foi um crime contra a dignidade, a honra e o decoro do cargo que ocupa, previsto na lei do impeachment. Mas deste mato não sai cachorro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, único com poder para dar andamento a pedidos de afastamento do presidente, já sentou em cima de mais de 30. Se um novo ocorrer, vai ser aquecido sob a mesma pilha gorda.
Talvez o Tribunal de Contas da União possa identificar um outro crime, de interferência indevida do presidente numa agência reguladora, se tocar para valer a investigação solicitada pelo Ministério Público. Difícil não enxergar essa interferência diante do que se viu antes e logo depois da decisão da Anvisa de suspender as pesquisas do Butantan. Para começar, a nota noturna da Anvisa suspendendo os testes já apontava o caminho pelo qual transitaria o capitão logo em seguida. Ao afirmar que houve um evento adverso grave, e mesmo já sabendo se tratar de possível suicídio, listou o que podem ser esses eventos (morte, invalidez, anomalias), dando munição a Bolsonaro.
Todos os erros cometidos pela Anvisa parecem deliberados. 1) A agência não esperou nem sequer o amanhecer para tomar a decisão de suspender a pesquisa. 2) A Anvisa não aceitou a ponderação do Butantan sobre a morte do homem que testara a vacina por não a considerar formal (queria um boletim de ocorrência da polícia), ao contrário do Comitê Internacional Independente e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 3) O contra-almirante Antônio Barra Torres, presidente da agência, disse não ser parceiro do Butantan. Patético. Os responsáveis pelos testes mereciam confiança, e o BO poderia se ver depois; claro que a Anvisa poderia esperar mais detalhes antes de suspender os testes. E, evidentemente, todos deveriam estar do mesmo lado contra a pandemia.
O contra-almirante e os dois subordinados que deram entrevista explicando a decisão apressada foram instrumentos do presidente. O que Bolsonaro queria era ter um ganho político sobre Doria na reta final da eleição municipal. Seu candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomanno, vai tão mal que talvez nem chegue ao segundo turno. Doria, por sua vez, torce para que ele avance e seja o adversário de Bruno Covas, para dar uma coça em Bolsonaro. As explicações da trinca da Anvisa, Barra Torres, Alessandra Bastos Soares e Gustavo Mendes, na entrevista de terça-feira foram ridículas. Mesmo sabendo desde a véspera que a morte não se devia à vacina, insistiram que o aspecto formal era inevitável. Não era. Tanto que recuaram 24 horas depois.
Sabia-se desde sempre que o contra-almirante era um bolsonarista sem máscaras. Nos bastidores da Anvisa comenta-se que o mandato da diretora Alessandra Bastos Soares vence em abril do ano que vem, e ela busca sua recondução para o cargo. Talvez isso explique a condescendência com decisão baseada em premissas tão frágeis. Sobre o papel do técnico Gustavo Mendes, que disse na entrevista estar falando em nome de todos os seus colegas sem apresentar procuração, sabe-se na Anvisa que ele é daqueles quadros em que os chefes podem sempre confiar.
Merval Pereira: Na boca do mundo
A mistura de ignorância com empáfia numa mente desequilibrada jogou o Brasil no ridículo internacional ao ameaçar os Estados Unidos com uma guerra, devido à possibilidade de sanções econômicas por causa do desmatamento da Amazônia.
O presidente Bolsonaro vive se queixando de que sua vida está “uma desgraça” (e a dos brasileiros?), e parece por esses dias mais fragilizado do que normalmente. Transformar o país que governa em motivo de piada no mundo, no entanto, é arriscar-se na linha que separa a sanidade mental da simples gafe.
A paráfrase que fez do conceito de guerra de Carl Von Clausewitz é uma humilhação para os generais brasileiros que fizeram a preparação acadêmica que faltou a Bolsonaro, um tenente que foi promovido a capitão quando foi para a reserva, depois de uma expulsão branca por ser um militar incompatível com a instituição do Exército.
“Quando falta saliva, tem que ter pólvora” é a simplificação vulgar que Bolsonaro fez da definição de guerra de Clausewitz, especialista em estratégias e autor do mais famoso tratado sobre o tema no Ocidente: “Sobre a Guerra” (do alemão Vom Kriege), publicado em 1832, depois de sua morte.
“A guerra é a continuação da política por outros meios” é uma frase que resume bem o que Clausewitz pensava sobre a guerra, que o vice-presidente General Hamilton Mourão chamou de “antigo aforismo”, na tentativa de dar um lustro nas bobagens que o presidente disse.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, durante um debate na campanha, disse que buscaria "organizar o hemisfério e o mundo para prover US$ 20 bilhões para a Amazônia". Afirmou também que o Brasil pode enfrentar "consequências econômicas significativas" se não parar de "destruir" a floresta.
Bolsonaro sentiu-se ofendido, disse que não queria esmolas, e várias vezes já se referiu a essa “ameaça” para justificar porque ainda torce pela vitória de Trump: “É isso que vocês querem para o Brasil?”perguntou recentemente a um grupo de apoiadores."
No discurso em questão, Bolsonaro não se referiu diretamente a Biden, mas a um “um grande candidato à chefia de Estado” ( para Bolsonaro, assim como para Trump, a eleição americana ainda não terminou) que ameaça o Brasil com sanções econômicas: “E como é que podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, não é, Ernesto [Araújo, ministro das Relações Exteriores]? Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão, não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo. Ninguém tem o que nós temos", declarou.
Muitos se lembraram de filmes associados a essa pataquada, como o “O Incrível Exército de Brancaleone”, com Vittorio Gassman, ou “O rato que ruge”, com Peter Sellers. O primeiro trata das alucinações de um grupo de maltrapilhos que se armam para uma guerra na Europa medieval. O segundo, de um país periférico que declara guerra aos Estados Unidos para receber algum auxílio financeiro, e acaba ganhando.
Eu fiquei mais preocupado ao me lembrar do general ex–ditador argentino Leopoldo Galtieri, que declarou guerra à Inglaterra em 1982 ao tomar militarmente as Ilhas Malvinas, hoje definitivamente Falklands. A decisão teria sido tomada em meio a um tremendo porre de uísque, bebida frequente do General.
Assim como o país fictício de “O rato que ruge”, o Grão Ducado de Fenwick, também a Argentina estava em crise econômica gravíssima, e a ditadura militar estava prestes a cair. No dia 30 de março daquele ano, 40 mil pessoas estavam na Praça de Mayo, em frente à Casa Rosada, pedindo o fim da Ditadura. A invasão das Malvinas deu-se três dias depois, numa manobra para tentar unir o país contra um inimigo externo.
“Que venga el principito, gritavam os argentinos nas ruas diante da notícia de que o Príncipe Andrew estava no porta-aviões Invencible, como co-piloto de helicóptero. Deu certo durante poucos dias, pois, ao contrário do que o General Galtieri imaginava, a primeira-ministra Margareth Thatcher ordenou o envio de tropas às Malvinas, e a Argentina foi humilhada militarmente.
Ao que me consta, Bolsonaro não bebe. Mas anda muito estressado. Só faltava essa loucura para humilhar mais ainda os generais que se atrelaram a seu governo, a cada dia mais insustentável.
Sergio Fausto: Lições para o Brasil da eleição nos Estados Unidos
A mais óbvia: há que construir uma ampla coalizão e tirar votos do campo adversário
O título deste artigo deve ser lido com um pé atrás. As características do sistema partidário e do processo eleitoral são muito diferentes nos dois países. Ainda assim, a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump deixa lições úteis para as forças de oposição ao governo Bolsonaro.
A mais óbvia delas é a necessidade de construir uma ampla coalizão e subtrair votos do campo adversário. Quando o país está praticamente dividido em duas metades iguais, não basta contar com todos os votos do seu próprio campo político para assegurar a maioria eleitoral. Nos Estados Unidos, a questão se colocou de imediato e influenciou as próprias primárias do Partido Democrata. Aqui, imagina-se que esse seja um problema para o segundo turno. Trata-se de um engano. Em sociedades destrutiva e perigosamente polarizadas, é preciso construir uma alternativa já para o primeiro turno.
Como a chapa Joe Biden-Kamala Harris conseguiu obter apoio maciço de sua base política e, ao mesmo tempo, captar votos de quem havia votado em Trump quatro anos atrás? A escolha dos personagens importa. A soma das características políticas e pessoais dos candidatos democratas explica em boa medida o sucesso da campanha do partido para a Casa Branca: ele, um político capaz de ser aceito, mesmo sem entusiasmo, por um amplo contingente de eleitores; ela, uma mulher negra que, sem puxar a chapa muito para a esquerda, acrescentou à dupla a marca identitária valorizada pelos eleitores mais jovens e “progressistas”. E mais: ele, um homem crivado pela tragédia, pai amoroso, querido pela mulher, pelos amigos e mesmo por muitos adversários, por sua simpatia natural; ela, uma filha de imigrantes que se integrou ao establishment por trabalho e mérito, ex-procuradora geral da Califórnia, “liberal” nos costumes, porém “firme” em matéria de lei e ordem.
Mas na política, como nas artes cênicas, não basta escolher os personagens, é preciso criar o enredo. Ou melhor, é necessário que atores e narrativa sejam congruentes entre si e adequados ao momento. A campanha democrata produziu uma mensagem feliz para definir o que estava em jogo: a battle for the soul of America (uma batalha pela alma dos Estados Unidos). Feliz porque permitiu uma conexão emotiva dos eleitores com a campanha e estabeleceu o terreno onde o Partido Democrata pretendia jogar o jogo: o campo dos valores e do caráter. A ressonância religiosa do slogan é evidente. Bela sacada num país, como o nosso, em que o sentimento religioso é estendido e profundo.
Ao contrário dos republicanos, os democratas não mobilizaram a religiosidade para demonizar o adversário, mas sim para convocar “our better angels” (os nossos anjos bons, em tradução livre) a enfrentar os desafios do país. Não foi uma campanha, como a de Trump em 2016, para insuflar a raiva e o ressentimento, e sim para assoprar a chama do “melhor lado de todos os americanos e americanas”. Foi uma campanha contra Trump, mas não contra os seus eleitores, referidos sempre como “fellow americans” (compatriotas), e não como “a basket of deplorables” (um monte de gente deplorável, como disse Hilary Clinton em 2016).
A batalha pela alma dos Estados Unidos pôs na linha de frente alguns poucos valores básicos – decência, civilidade, solidariedade, etc. – e os traduziu em termos concretos nas propostas de fortalecimento da proteção social (saúde, em particular), transição para uma economia de baixo carbono (com geração de renda e empregos) e luta contra o racismo estrutural (apresentada como uma luta pela igualdade). Dessa maneira projetou uma visão contrastante com a de Trump sobre o que são e o que podem ser os Estados Unidos, capaz de ser compreendida e reproduzida pelo eleitor comum.
Cada país é um país, cada eleição é uma eleição. Faltam dois anos para a próxima eleição presidencial no Brasil. É muito ou pouco tempo? Depende para quê. Para escolher os personagens é muito, mas para criar o enredo está mais do que na hora de começar. Num país com vários e pouco estruturados partidos, onde o personalismo impera, a escolha dos personagens consome tempo e energia excessiva em prejuízo do que deveria ser o essencial, principalmente a esta altura: com base em que valores, em torno de que propostas e por meio de que mensagem política é possível formar uma aliança de forças suficientemente ampla e consistente para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo e governar o País a partir do próximo mandato presidencial?
Para ajudar na resposta recorro à sabedoria alheia. Perguntado num jantar com “representantes da sociedade civil”, cada qual com sua bandeira, sobre como deveria ser o programa de uma “frente progressista” em 2022, um governador de Estado, relativamente jovem, mas macaco velho na política, respondeu: deve ser mínimo, conter apenas o essencial e falar aos corações e mentes do brasileiro comum, homens e mulheres, pretos e não pretos, cristãos e não cristãos, homo e heterossexuais, na condição de cidadãos brasileiros.
*Diretor-Geral da Fundação FHC, é membro do Gacint-USP
William Waack: As riquezas dos maricas
Bolsonaro é o pior inimigo de si mesmo quando se trata de ridicularizar sua autoridade
Era óbvio e esperado que, ao perder a aposta feita em Donald Trump, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro fosse incluído na coluna “perdedores” em todas as listas de governantes que se deram mal com a vitória de Joe Biden. Não são poucos, e incluem países tão diferentes entre si como Israel, Arábia Saudita, Turquia, Reino Unido e Hungria. Mas o que a língua solta do presidente está produzindo é uma rápida perda da própria autoridade
A popularidade que resulta de auxílios emergenciais é tão efêmera quanto a duração desses auxílios, e até aqui o governo não conseguiu dizer como vai incluir uma renda básica no Orçamento do ano que vem (que, aliás, não foi votado). Sim, é popularidade que pode ser reconquistada, ainda que a custo literalmente alto para os cofres públicos – e enquanto a economia não sofrer desarranjos maiores, fantasma que o próprio ministro Paulo Guedes anda alimentando.
Com autoridade é diferente. Um presidente não precisa necessariamente ter grande autoridade para ser popular, mas precisa ser levado a sério para governar. A autoridade de Bolsonaro está sendo diluída por ele mesmo ao cair no ridículo, um ácido capaz de corroer qualquer pedestal. Personagens que dizem coisas “folclóricas”, toscas, ofensivas, desvinculadas da realidade, abusivas ou mentirosas avançam até o ponto em que afundam nas próprias palavras.
A briga de Bolsonaro com a vacina “chinesa” conseguiu gerar desconfiança em qualquer vacina, justamente quando os especialistas alertam para o fato de que o Brasil provavelmente enfrentará uma segunda onda de covid-19, tal como acontece no momento na Europa e nos Estados Unidos. E a politização afeta a confiança em duas instituições essenciais para saúde pública: as que produzem a vacina (como o Instituto Butantan) e as que regulam sua aplicação (como a Anvisa). O resultado geral é péssimo para todos os governantes e causou séria apreensão nos governadores.
Da mesma maneira, pode-se argumentar indefinidamente sobre quem atrasa mais a aprovação das reformas que lidem com a questão fiscal, se é o Congresso ou se é a equipe do Ministério da Economia. Mas, no sistema político brasileiro, é o presidente quem tem o poder de ditar a agenda política, e a pergunta cada vez mais pesada no ar é se alguém sabe o que Bolsonaro pretende além de manter popularidade a um custo que a passagem do tempo só torna mais caro do ponto de vista fiscal.
O grau de isolamento internacional do Brasil por conta das apostas de Bolsonaro é inédito, ainda que lhe reste o consolo de estar na companhia de países como China, Rússia e México, que até aqui se recusam a parabenizar Joe Biden pela vitória nas eleições presidenciais. Ocorre que esses três países tem contenciosos importantíssimos com os Estados Unidos, enquanto Bolsonaro está aparentemente ávido para encontrar um: a Amazônia.
Biden mencionou US$ 20 bilhões de possível ajuda, o agronegócio tecnológico e nossa matriz energética têm tudo para ganhar num impulso rumo à economia “verde”, mas o presidente prefere falar de “pólvora” quando esgotar a diplomacia em relação à pressão americana em questões ambientais. No caso brasileiro, nossa diplomacia esgotou-se ao exercer a ridícula opção preferencial de se subjugar a Donald Trump. Os que realmente possuem “pólvora”, como China e Rússia, não ficam falando disso.
De qualquer forma, faltou Bolsonaro esclarecer como pretende usar eventualmente pólvora para enfrentar os malandros de olho nas nossas riquezas, se ele considera que preside um país de maricas.
*JORNALISTA E APRESENTADOR DO JORNAL DA CNN
Luiz Carlos Azedo: Bêbado a uma hora dessa?
Apesar de todo o seu poder, Góis Monteiro não escapou da gozação, até mesmo entre os colegas de farda, no auge da luta para o Brasil entrar na guerra contra o nazifascismo
Desculpem-me a analogia. Tem certas coisas no Brasil que não escapam da gozação, mesmo quando são muito sérias e preocupantes. Por exemplo, o namoro de Getúlio Vargas com o fascismo de Benito Mussolini, o ditador da Itália, e o nazismo de Adolf Hitler, da Alemanha, cujo ponto alto foi a entrega da judia alemã Olga Benário, a esposa do líder comunista Luís Carlos Prestes, grávida de sua filha Anita Prestes, à Gestapo. Olga foi morta na câmera de gás do campo de extermínio de Bernburg, mas sua filha foi resgatada antes disso, depois de uma grande campanha internacional. Hoje é professora de História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Nessa época, em plena ditadura Vargas, havia uma luta surda entre o ministro da Guerra, Góis Monteiro, e o chefe de Polícia do Distrito Federal, Filinto Muller, que defendiam uma aliança com o Eixo, de um lado, e o chanceler Oswaldo Aranha e o almirante Amaral Peixoto, genro de Vargas, que articulavam a entrada do Brasil na guerra ao lado dos Estados Unidos e seus aliados da Europa, de outro.
O repórter David Nasser, no livro Falta alguém em Nuremberg, traça o perfil da equipe de Filinto Muller, “recrutados entre a escória do Exército”: capitão Felisberto Batista Teixeira, delegado especial de Segurança Política e Social: capitão Afonso de Miranda Correia, delegado auxiliar; tenentes Emílio Romano, chefe da Segurança Política, e Serafim Braga, chefe da Segurança Social, e, ainda, o tenente Amaury Kruel e seu irmão, capitão Riograndino Kruel, ambos da inspetoria da Guarda Civil, “indivíduos cujo servilismo ao governo e brutalidade com os presos” contribuíram, segundo Nasser, para as violações dos direitos humanos ocorrida na época. No Estado Novo, segundo o historiador Cláudio de Lacerda Paiva, “quem censurava era Lourival Fontes, quem torturava era Filinto Muller, quem instituiu o fascismo foi Francisco Campos, quem deu o golpe foi Dutra e quem apoiava Hitler era Góis Monteiro”.
É justamente nessa época que começa a gozação com o Góis Monteiro, dentro do próprio governo. Alagoano de São Luís do Quitunde, fora o comandante militar da Revolução de 1930 e chefiou as tropas federais que combateram a Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo. Na época em que foi ministro da Guerra (1934 e 1935), elaborou a Doutrina de Segurança Nacional que inspirou várias leis da ditadura de Vargas e do regime militar. Em 1937, articulou o golpe do Estado Novo, sendo um dos responsáveis pelo famoso Plano Cohen, que serviu de pretexto, planejamento de uma revolução comunista forjado pelo então capitão Olímpio Mourão Filho. Góis Monteiro deu de presente ao temido deputado fluminense Tenório Cavalcanti a sua famosa “Lurdinha”, uma metralhadora alemã MP-40.
Alvorada
Apesar de todo o seu poder, Góis Monteiro não escapou da gozação até mesmo entre os colegas de farda. No auge da luta para o Brasil entrar na guerra contra o nazifascismo, seus adversários políticos se divertiam com a seguinte piada contada nos corredores do Palácio do Catete e nos bares do Rio de Janeiro: Góis Monteiro resolvera conhecer de perto o treinamento das tropas do Eixo. Na Alemanha, um oficial nazista formou um pelotão das SS e mandou que um oficial demonstrasse sua disciplina e amor a Hitler: “Tenente Fritz, tiro na cabeça!”. O jovem oficial disparou a Luger e caiu morto sem dizer um ai, enquanto a tropa fazia a tradicional saudação nazista: “Heil, Hitler!”. Gois Monteiro ficou impressionadíssimo.
No Japão, visitou o porta-aviões do almirante Yamamoto, que formou o esquadrão de pilotos e mandou que um deles dedicasse sua vida ao Imperador: “Capitão Tanaka, seppuku!”. O camicase, como autêntico samurai, sacou seu espadim e rasgou o abdômen; imediatamente, seguindo o ritual de honra, o líder da esquadrilha, num golpe certeiro, cortou sua cabeça com a espada, para evitar maior sofrimento. “Banzai!”. Foi demais para Góis Monteiro: mareado, vomitou.
De volta ao Palácio do Catete, o ministro da Guerra passou a noite em claro e mandou tocar a alvorada às 5 horas da manhã, uma hora mais cedo. Aguardou os Dragões da Independência nos jardins, cantarolando: “A voz do despertar/ Chega a nós/ Que a missão a se cumprir/ É função do que sentir/ Sentir/ Que ela vem dizer/ Com seu repercutir/ / O que é o dever/Quem entender/ Clarim tocar/ Antes do amanhecer/ Tem que se inflamar (…)”. Assustada e sonolenta, a tropa formou desengonçada, às pressas, com a farda mal-abotoada, rabos de cavalo dos capacetes embaraçados, sem saber o porquê da antecipação da alvorada. Góis Monteiro deu a voz de comando: “Primeiro pelotão, sentido!”. O sargento Tião, homem-base na formatura, soldado casca-grossa, já havia percebido a voz pastosa do general quando ele cantava, desconfiou que havia algo errado. Quando o general enrolou a língua no “Apresentar-armas”, Tião se deu conta de que a situação era crítica: “Vixe, está bebado!”. Levou o general para a cama, antes que ele fizesse mais besteira, sem saber de suas sinistras intenções.
El País: Com menção a pólvora e maricas, Bolsonaro desvia atenção do desemprego e acusação contra seu filho
Foi mais um dia marcado pelas palavras do presidente, que pisou no acelerador, possivelmente com os olhos voltados para o primeiro turno das eleições municipais do próximo domingo
Naiara Galarraga Gortázar, do El País
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, lançou mão de um comentário homofóbico como fez tantas vezes ao longo de sua carreira política. Nesta terça-feira foi para se queixar da crise do coronavírus, de como está sendo administrada e da atenção midiática que recebe. “Temos que deixar de ser um país de maricas”, disparou durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Bolsonaro, conhecido negacionista da gravidade da doença, governa um dos países mais afetados do mundo, com 162.000 mortos e a caminho dos seis milhões de infectados. O mandatário populista dinamitou durante o dia a tônica dos últimos meses em que reduziu a frequência de suas típicas grosserias: comemorou a suspensão do teste clínico da vacina chinesa, insultou homossexuais, pela primeira vez se referiu a Joe Biden desde as eleições nos EUA, mas não para cumprimentá-lo, e gabou-se do poder de dissuasão militar diante dos EUA.
Foi mais um dia marcado pelas palavras do presidente, que pisou no acelerador, possivelmente com os olhos voltados para o primeiro turno das eleições municipais do próximo domingo. Bolsonaro é um artista que desvia a atenção dos problemas relevantes como o desemprego, a inflação ou a recém-formalizada acusação de corrupção contra o filho mais velho. Fica incomodado que o coronavírus ainda esteja no centro do debate político porque é um campo em que seu principal rival, João Doria, se movimenta bem.
Nenhum dos dois é candidato às eleições para prefeitos e vereadores, mas cada um apoia um candidato em São Paulo, a cidade mais rica e populosa do Brasil, onde o homem do presidente, Celso Russomanno, está bem atrás do atual prefeito nas pesquisas, Bruno Covas, apoiado por Doria.
Bolsonaro presidia uma solenidade no Palácio do Planalto sobre a necessidade de reativar o turismo, moribundo por causa da pandemia, quando deu renda solta à sua exasperação: “Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento, mas todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, da realidade. Temos que deixar de ser um país de maricas e enfrentar isso de peito aberto, lutar”, disse Bolsonaro, um paraquedista militar aposentado que construiu sua carreira política como um dos políticos mais medíocres, mas provocadores, do Congresso. O atual presidente ganhou fama há muitos anos por seus elogios à ditadura, além de seus insultos machistas e homofóbicos.
O governador de São Paulo aproveitou a crise sanitária para se destacar entre os vários aspirantes a candidato às presidenciais de 2022. Doria apostou na ciência desde o início da pandemia e sua prioridade agora é a vacina chinesa produzida pela Sinovac em colaboração com Instituto Butantan. É por isso que a recente suspensão do teste dessa vacina por parte do Governo, em uma decisão cercada de suspeitas, é um revés para Doria que Bolsonaro comemorou com entusiasmo como uma vitória pessoal.
O chamado Trump dos trópicos também aproveitou para romper o silêncio sobre a vitória de Biden sobre o Trump verdadeiro, aliado e candidato preferido do brasileiro. Bolsonaro não mencionou o democrata pelo nome, referiu-se a ele como “um grande candidato a chefe de Estado”. Criticou as propostas do próximo presidente dos EUA de liderar um fundo de financiamento para preservar a Amazônia –que o Brasil considera um ataque frontal à sua soberania– e, diante de hipotéticas sanções comerciais, exibiu poder de dissuasão: “Apenas na diplomacia não dá. Porque quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem”, declarou o capitão.
Entre os graves problemas que o presidente quer afastar dos holofotes está o desemprego, que ronda os 14 milhões, incluindo um milhão de pessoas acrescentadas no último trimestre. Embora o Brasil tenha melhores perspectivas econômicas do que a maioria de seus vizinhos e o fluxo de dinheiro público para os bolsos dos brasileiros tenha mitigado o impacto, a pandemia interrompeu os ambiciosos planos econômicos. As reformas previstas avançam em passo de tartaruga. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, se diz frustrado por não ter conseguido privatizar uma única empresa pública em dois anos de mandato. E também existe o caso de corrupção contra o senador Flavio Bolsonaro. O filho mais velho do presidente acaba de ser formalmente acusado pelo Ministério Público de peculato, de ter aumentado o seu patrimônio em um milhão de reais graças ao desvio de fundos públicos no Rio de Janeiro.
As eleições de domingo não servirão para saber com precisão se o bolsonarismo goza de boa saúde porque o presidente está há meses sem partido e seus aliados estão espalhados em uma infinidade de siglas. Será mais fácil avaliar a situação do Partido dos Trabalhadores de Lula.
El País: Richard Nixon: “Se houver uma forma de desbancar Allende, é melhor fazer isso”
Cinquenta anos depois da chegada do socialista à presidência do Chile, o Arquivo de Segurança Nacional dos EUA divulga documentos inéditos que revelam as estratégias de Washington para desestabilizá-lo
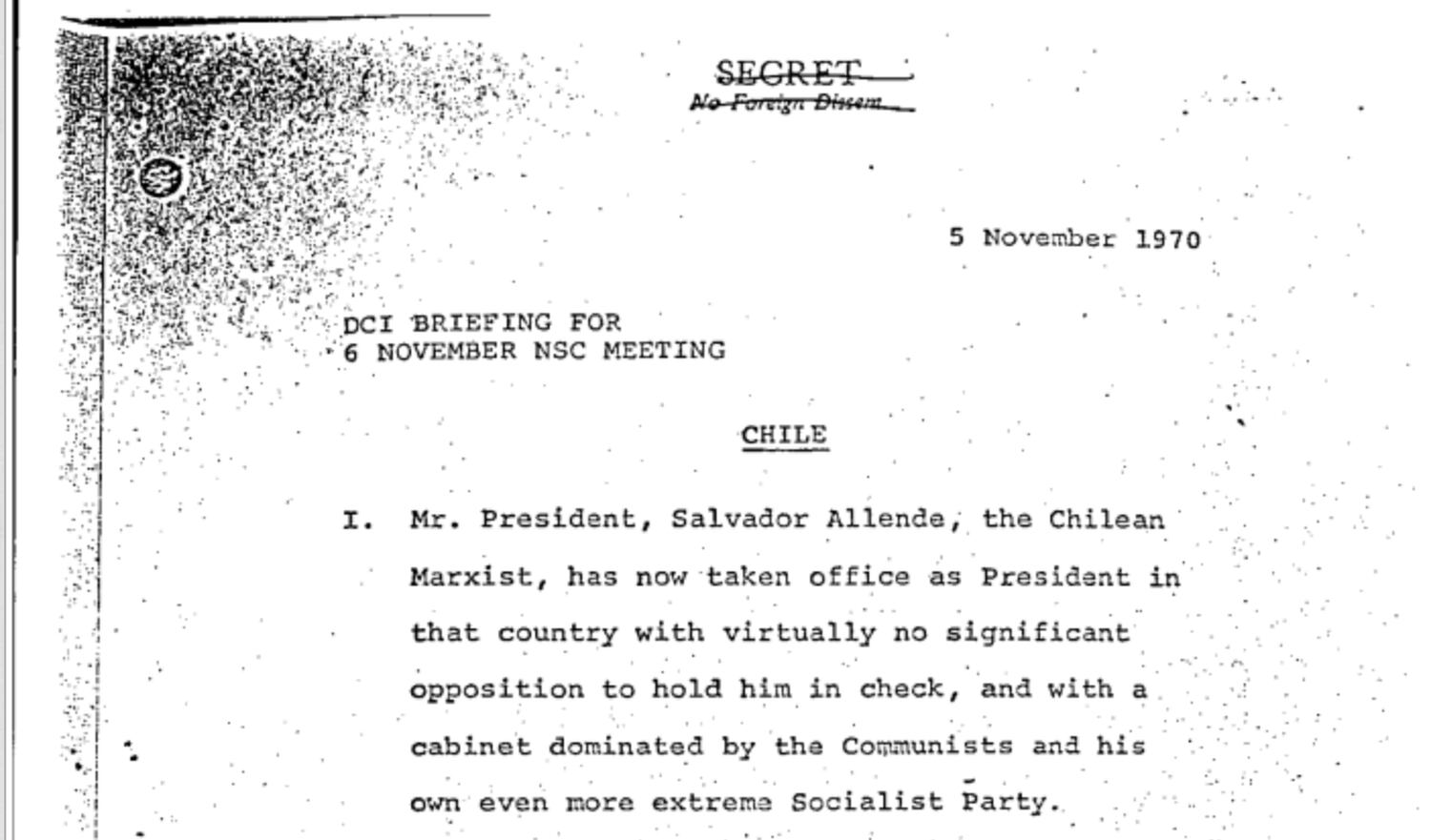
Rócio Montes, do EL País
- Gravidez por estupro e tortura revelam como a era Pinochet fez das mulheres troféus de guerra
- A Justiça chilena ratifica que Salvador Allende se suicidou
- A última manhã de Salvador Allende
Cinquenta anos depois da chegada de Salvador Allende ao poder no Chile, em 3 de novembro de 1970, o Arquivo de Segurança dos EUA divulgou documentos que derrubam a versão oficial sobre o papel desempenhado pela Administração de Richard Nixon (1969-1974) contra o Governo do socialista chileno. Durante décadas, os Estados Unidos afirmaram que intervieram no país sul-americano não com a intenção de desestabilizar a Unidade Popular de Allende, e sim de apoiar os partidos de oposição como vistas a uma eleição que seria realizada em 1976. Em suma, para “preservar” a democracia e suas instituições. O próprio Henry Kissinger, então assessor de Segurança Nacional dos EUA, declarou que seu país não sabia do golpe de Estado de 1973 ―que acabou com os mil dias da via chilena para o socialismo e levou o presidente à morte― e não tinha relação com aqueles que o impulsionaram na frente interna. Os documentos liberados agora pelo organismo, porém, evidenciam uma estratégia agressiva de hostilidade e pressão.
“Esses documentos registram o objetivo deliberado das autoridades americanas de minar a capacidade de Allende para governar e de derrubá-lo para que não pudesse estabelecer um modelo bem-sucedido e atraente de mudança estrutural que outros países poderiam seguir”, explica Peter Kornbluh, analista sênior encarregado do Chile no Arquivo de Segurança Nacional, uma ONG com sede em Washington que analisa os documentos desclassificados pelos Estados Unidos depois da detenção de Augusto Pinochet em Londres em 1998. “É uma história de um país pioneiro ―um poderoso império― que queria controlar os países, suas instituições e as vidas de seus cidadãos, mas não em nome da democracia, e sim de uma ditadura militar e sua repressão. No nosso mundo atual, em plena crise, devemos estar atentos a essa história trágica”, diz.
Kornbluh se refere a um dos principais temores do Governo de Nixon e, principalmente, de Kissinger: que o caminho do socialismo à chilena ―alcançado pela via democrática― expandisse sua influência não só na América Latina, mas também em outras regiões do planeta. “Acredito firmemente que esta linha é importante no que diz respeito a seu efeito nas pessoas do mundo”, disse Nixon a Kissinger em uma conversa telefônica em novembro de 1970, segundo os papéis divulgados pela primeira vez pelo Arquivo de Segurança Nacional. “Se [Allende] puder demonstrar que pode estabelecer uma política marxista antiamericana, outros farão o mesmo”, afirmou o presidente americano. Kissinger concordou: “Terá efeito inclusive na Europa. Não só na América Latina”.
Os documentos mostram que o assessor de Segurança Nacional influiu decisivamente na política que o Governo americano adotou em relação ao Chile, que incluiu uma tentativa frustrada de golpe de Estado para impedir que Allende assumisse a presidência que ele havia conquistado democraticamente. Estava marcada para 5 de novembro de 1970, na Casa Branca, uma reunião formal do Conselho de Segurança Nacional para discutir a política para o Chile. Mas Kissinger manobrou para adiar a reunião por 24 horas e, com isso, conseguir se reunir a sós com o presidente para que este desistisse de tomar decisões brandas em relação ao Governo de Allende, empossado dias antes. “É essencial que você deixe muito clara a sua posição sobre esse assunto”, disse Kissinger a Nixon. O assessor tinha motivos para se preocupar: nem todos os funcionários americanos estavam de acordo com uma estratégia hostil.
O Departamento de Estado temia que houvesse um escândalo internacional se os esforços para derrubar Allende ficassem em evidência e, por isso, defendeu uma política prudente de coexistência. Foi a chamada estratégia modus vivendi: apoiar os partidos da oposição chilena― os de centro e de direita― para ajudá-los nas eleições de 1976. O Escritório de Assuntos Interamericanos, entretanto, alertou que se Washington violasse seu “respeito pelo resultado das eleições democráticas”, reduziria sua credibilidade mundial, “aumentando o nacionalismo” contra os Estados Unidos. “Isso será utilizado pelo Governo de Allende para consolidar sua posição junto ao povo chileno e ganhar influência no resto do hemisfério”, assinalou o escritório em um documento.

Chile e o temor de uma “Cuba em 1972”
Kissinger fez gestões de alto nível para conseguir se reunir a sós com Nixon antes do encontro do Conselho de Segurança Nacional. De acordo com um memorando em que um funcionário do Gabinete do presidente justifica o adiamento da reunião, Kissinger advertiu: “O Chile pode acabar sendo o pior fracasso de nossa Administração: ‘nossa Cuba’ em 1972”.
A reunião, registrada em 5 de novembro de 1970, entre Nixon e seu assessor de Segurança Nacional foi realizada no Salão Oval. Durante uma hora, Kissinger apresentou um estudo completo para que a abordagem agressiva de longo prazo em relação ao Governo socialista saísse vitoriosa. “Sua decisão sobre o que fazer a respeito pode ser a decisão mais histórica e difícil sobre relações exteriores que você terá de tomar este ano”, disse Kissinger, dramaticamente, a Nixon. “O que acontecer no Chile durante os próximos 6 a 12 meses terá ramificações que irão muito além das relações entre Estados Unidos e Chile.”
Kissinger se referia à influência mundial da via chilena para o socialismo: “O exemplo de um bem-sucedido Governo marxista eleito no Chile certamente teria um impacto em ―e até mesmo um valor como precedente para― outras partes do mundo, principalmente na Itália. A propagação imitativa de fenômenos similares em outros lugares, por sua vez, afetaria significativamente o equilíbrio mundial e nossa própria posição nele”, analisou.
O assessor procurava, por todos os meios, convencer Nixon a pressionar a burocracia da política externa a adotar uma posição de mudança de regime, em vez de preferir a estratégia modus vivendi, segundo um documento desclassificado pelo Arquivo de Segurança Nacional e publicado pela primeira vez no livro de Kornbluh intitulado The Pinochet File, lançado em 2013, 40 anos depois do golpe de Estado.
“Podemos derrubá-lo”
A reunião do Conselho de Segurança Nacional foi finalmente realizada em 6 de novembro de 1970. Nem todos os participantes sabiam que Nixon tinha ordenado que a CIA impulsionasse secretamente um golpe de Estado preventivo para evitar que Allende assumisse a presidência do Chile, o que não havia dado certo. No encontro, havia um acordo importante: a eleição democrática de Allende e sua agenda socialista para uma mudança substancial ameaçavam os interesses dos Estados Unidos. Mas, como Kissinger temia, não havia consenso sobre o caminho a seguir. O secretário de Estado, William Rogers, manifestou sua oposição à hostilidade e à agressão aberta contra o Governo de Allende: “Podemos derrubá-lo, talvez, sem ser contraproducentes”. O secretário de Defesa, Melvin Laird, sustentou: “Temos de fazer tudo que pudermos para prejudicá-lo e derrubá-lo”.
O diretor da CIA, Richard Helms, apresentou um documento informativo no qual explicou como Allende conquistou a presidência em uma eleição apertada, traçou o provável rumo de suas políticas econômicas e de relações externas e fez uma análise de sua equipe de ministros. O presidente chileno escolheu “um gabinete militante de linha dura” que “reflete a determinação dos socialistas de afirmar sua política mais radical desde o início”, assinalou Helms, que também se dedicou a fazer anotações.
“Se houver uma forma de desbancar Allende, é melhor fazer isso”, indicou Nixon no encontro, segundo o manuscrito de Helms, que faz parte dos documentos desclassificados pelos Estados Unidos e publicados agora pela primeira vez. O presidente havia decidido: seria adotado um programa de agressão hostil, mas de baixo perfil, para desestabilizar a capacidade de Allende de governar. “Nossa principal preocupação no Chile é a possibilidade de que [Allende] possa se consolidar e a imagem projetada ao mundo seja seu sucesso”, disse Nixon ao dar instruções à sua equipe de Segurança Nacional. “Seremos muito frios e muito corretos, mas fazendo coisas que serão uma verdadeira mensagem para Allende e outros.
Em 9 de novembro, Kissinger distribuiu um memorando secreto com a decisão adotada no conselho, intitulado Política para o Chile. “O presidente decidiu que a posição pública dos Estados Unidos será correta, mas fria, para evitar dar ao Governo de Allende uma base sobre a qual reunir apoio nacional e internacional para a consolidação do regime”, resumiu o assessor de Segurança Nacional. “Mas os Estados Unidos procurarão maximizar as pressões sobre o Governo de Allende para evitar sua consolidação e limitar sua capacidade de implementar políticas contrárias aos interesses dos Estados Unidos e do hemisfério”, acrescentou.
O documento desclassificado pelos Estados Unidos detalha os métodos: autoridades americanas colaborariam com outros Governos da região ―principalmente do Brasil e da Argentina― para coordenar esforços contra Allende; seriam bloqueados, silenciosamente, os empréstimos dos bancos multilaterais para o Chile, e cancelados os créditos e empréstimos para exportações dos Estados Unidos para o país sul-americano; empresas americanas seriam recrutadas para abandonar o Chile; e seria manipulado o valor, nos mercados internacionais, do principal produto de exportação do Chile, o cobre, para afetar ainda mais a economia chilena. Além disso, a CIA foi autorizada a preparar planos de ação relacionados à futura implementação dessa estratégia.
Naquela ocasião, Nixon e seu assessor também mantiveram uma conversa telefônica na qual comentaram o discurso de posse de Allende. “Helms [diretor da CIA] tem de chegar a essas pessoas”, disse o presidente. Kissinger respondeu: “Deixamos isso claro”. A transcrição do diálogo foi divulgada pela primeira vez pelo Arquivo de Segurança Nacional.
Os novos documentos publicados lançam por terra as tergiversações que, durante décadas, autoridades dos Estados Unidos tentaram construir para que os EUA se esquivassem de sua responsabilidade pela quebra da democracia do Chile e pelos 17 anos de ditadura militar, que deixaram milhares de vítimas. Em setembro de 1974, o The New York Times revelou as operações encobertas da CIA para derrubar Allende. O Congresso americano abriu uma investigação sobre o assunto, o escândalo internacional resultou nas primeiras audiências públicas sobre as operações da CIA e foi publicado o estudo Covert Action in Chile 1963-1973 (“ação encoberta no Chile 1963-1973”), escrito por uma comissão especial do Senado, presidida pelo senador Frank Church (a comissão Church). Mas o Executivo americano reteve parte da documentação e os senadores que investigaram o caso não tiveram acesso ao registro completo sobre as deliberações e decisões da Casa Branca nos dias anteriores e posteriores à posse de Allende, que o Arquivo de Segurança Nacional revela agora, 50 anos depois dos fatos.
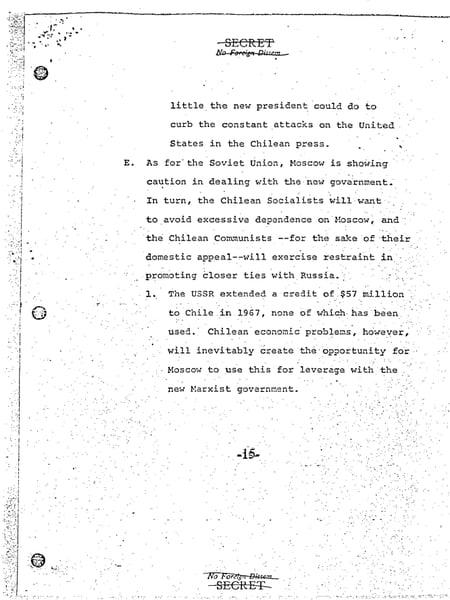
As palavras do poder
“Embora soubéssemos bastante sobre as maquinações do Governo de Nixon para impedir ou desestabilizar o Governo de Allende, é extremamente importante contar com estes documentos, incluindo notas manuscritas e transcrições de conversas telefônicas”, opina o historiador chileno-americano Iván Jaksic. “É surpreendente ver como aquilo que antes parecia ser especulação era mais do que verdadeiro. A crueldade da linguagem e as medidas propostas para pressionar o Governo de Allende e mandar sinais inequívocos a outros países são francamente arrepiantes”, acrescenta o ganhador do Prêmio Nacional de História de 2020. “São as palavras do poder e, com estes documentos, não resta dúvida de que por trás de cada palavra existiram medidas concretas que tiveram um impacto direto na agonia que viveu nosso país nesses anos.”
Jaksic conheceu o relatório da comissão Church assim que chegou aos Estados Unidos, em 1976: “Foi realmente devastador”, lembra o autor de livros como La Lucha por la Democracia en Chile (“a luta pela democracia no Chile”). “Mas a história não para por aí, pois nem mesmo essa comissão teve acesso a todos os documentos. As evidências que surgiram desde então e que continuam aparecendo são fundamentais para comunicar como foi urdida uma política em relação ao nosso país e à América Latina”, reflete.
O historiador, que mora em Santiago desde 2006, considera “notável” que se envolva a Europa na política para o Chile: “É evidente que, para o Governo dos EUA, o Chile era importante principalmente como um exemplo que não deveria se espalhar, ou seja, um marxismo que chega ao poder por vias democráticas”.
Segundo Ascanio Cavallo, jornalista e um dos autores de La Historia Oculta del Régimen Militar (“a história oculta do regime militar”), “não há ninguém no Chile que duvide da vontade do Governo de Nixon de que Allende não terminasse seu mandato”. “Mas tanto o próprio Nixon como Kissinger ―que em suas memórias faz uma referência muito breve ao Chile― sempre negaram um papel ativo dos Estados Unidos depois que Allende assumiu a presidência, diferentemente do que indicam estes documentos, que revelam que a Administração americana discutia como conseguir sua derrubada.”
O Estado de S. Paulo: Pessimistas sobre luta jurídica, aliados de Trump já falam em volta em 2024
Assessores admitem privadamente que batalha judicial é uma miragem e oficialização da vitória de Biden é uma questão de tempo; para arrecadar fundos, presidente criou comitê que deve ser usado para manter o Partido Republicano em suas mãos
WASHINGTON - Enquanto o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, recebe ligações de líderes mundiais e monta seu gabinete, Donald Trump segue encastelado na Casa Branca. Após seis dias sem ser visto publicamente, ele foi ontem a um evento no Cemitério de Arlington, no Dia do Veterano, mas não falou com a imprensa. Privadamente, seus aliados mais próximos admitem que a batalha legal é uma miragem e muitos já falam em lançá-lo como candidato em 2024.
Trump desafia sua derrota na Justiça em seis Estados – até agora, nenhuma ação relevante foi adiante. O fracasso levou seus principais aliados, entre eles Ronna McDaniel, presidente do Partido Republicano, Corey Lewandowski, ex-chefe de campanha, e Mark Meadows, seu chefe de gabinete, a reconhecerem, em conversas privadas, que a oficialização da vitória de Biden é menos uma questão de “se” do que de “quando”.
Por isso, alguns republicanos importantes já apoiam a ideia de uma nova candidatura em 2024, apesar de insistirem publicamente que a eleição “não acabou”. A 22.ª Emenda da Constituição diz que um presidente só pode ser eleito duas vezes. Na história recente, dois perderam a reeleição, mas não se candidataram de novo: Jimmy Carter, em 1980, George Bush pai, em 1992.
Após Joe Biden ser declarado vencedor das eleições, Trump criou um comitê de ação política, uma espécie de fundação autorizada a arrecadar fundos que podem ser gastos em viagens, pesquisas e propaganda política. O objetivo é garantir sua influência e manter o Partido Republicano em rédeas curtas, mesmo fora da Casa Branca.
“O presidente sempre planejou fazer isso, ganhando ou perdendo”, afirmou Tim Murtaugh, porta-voz de sua campanha. “A ideia é apoiar candidatos e questões que lhe interessam, como o combate à fraude eleitoral.”
Muitos aliados já sugerem abertamente que Trump concorra novamente. “Eu o encorajaria seriamente a pensar no assunto”, disse o senador Lindsey Graham à Fox News Radio. Mick Mulvaney, ex-chefe de gabinete da Casa Branca, disse não “ter dúvidas” de que ele será candidato em 2024. “Acho que o presidente continuará envolvido na política e estará na lista de candidatos que concorrerão em 2024”, disse. Segundo o site de notícias Axios, dois assessores teriam ouvido do próprio Trump a intenção de se candidatar outra vez.
O desafio, no entanto, é grande. Paul Waldman, colunista do Washington Post, acredita que Trump deixará sempre subentendida a chance de se candidatar para não perder a atenção da mídia e da base de eleitores. No entanto, ele precisará vencer vários obstáculos.
O primeiro é a Justiça. O presidente enfrenta investigações criminais em Nova York por fraude e sonegação. O segundo são as dívidas. Ele tem centenas de milhões de dólares em empréstimos que vencem no ano que vem – e suas empresas devem precisar de dinheiro. Por fim, haverá concorrentes dentro do partido, esperando para herdar o espólio de Trump, que terá 78 anos em 2024. / W.Post
Eliane Brum: Vote em Marielle
Mais viva do que nunca, a vereadora executada há quase mil dias é a principal antagonista de Bolsonaro e de seu projeto de poder
As eleições municipais de 15 de novembro são, para o Brasil, o que a eleição presidencial dos Estados Unidos foi para o mundo. Vão mostrar para onde está indo o país, desde que o governo foi ocupado e pervertido por um mentiroso com intenções genocidas. É claro que 2022 será o momento decisivo, pela possibilidade de tirar não apenas Jair Bolsonaro do centro do poder, mas também tudo o que ele representa. A resistência, porém, se expressa no miúdo dos dias e é exercida no chão das cidades ―em cada comunidade, em cada favela, em cada rio. A política, para muito além dos partidos, é tecida no cotidiano. As eleições do próximo domingo vão mostrar qual é a temperatura do movimento de brasileiros anônimos na soma destas pequenas ações e reações. Vão expor o quanto uma parcela da população é capaz de enfrentar o autoritarismo de Bolsonaro também no campo da política institucional e manter a luta mesmo no luto. Vão apontar, principalmente, o quanto o legado de Marielle Franco vive e resiste e avança.
Bolsonaro e o bolsonarismo, a criatura mais importante e possivelmente mais longeva do que o criador que lhe empresta o nome, são fenômenos complexos. Além de tudo o que representam e revelam do Brasil, são também a resposta violenta de uma parcela assustada da população por um lado, de uma elite com medo de perder seus privilégios de classe e de raça, por outro. Em comum, os eleitores de Bolsonaro parecem temer tudo o que a figura de Marielle Franco representa em seu gesto de ocupar o centro político: a pressão de mulheres, negros e pessoas LGBTQIA+ por participação no poder e pelo reconhecimento de sua centralidade. É também esse embate que se fará presente nas eleições em que a participação de candidatos negros é a maior já registrada: 49,9% negros, superando os 48,1% que se autodeclaram brancos.
A eleição acontecerá num momento de forte simbolismo: a proximidade dos mil dias da execução da vereadora do PSol no Rio de Janeiro sem que o Brasil conheça o mandante ―ou os mandantes― e sua motivação. Enquanto quem ordenou a morte, seus motivos e suas conexões não forem apontados, cada dia a mais sem solução é uma denúncia do momento limite vivido pelo Brasil. E uma acusação do enorme déficit de justiça do país. A cada dia a mais sem solução faz também aumentar a densidade das sombras sobre Bolsonaro e sua família, às voltas com indícios de sua ligação com as milícias acusadas de envolvimento com a morte de Marielle.
O assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, o motorista que morreu mas não era alvo, não é mais um crime em um país atravessado pela violência. A investigação que se estende além do mais flexível conceito de razoável já expõe a crescente infiltração das milícias no Estado brasileiro. Expõe também o cotidiano de um país em que tanto a democracia quanto o ordenamento jurídico são uma pele cada vez mais fina envolvendo estranhas cada vez mais podres, cujos vermes já não se contentam em se manter no lado de dentro. Quando os criminosos começam a gostar dos holofotes é porque acreditam não mais precisar se esconder. O que aqueles que vivem na Amazônia de grileiros e pistoleiros testemunham há muito tempo, e que também na região da floresta se torna cada vez mais explícito, se alastra por todo o Brasil desde que Bolsonaro assumiu e perverteu o poder.
A execução da vereadora do PSol precisa ser solucionada por todas as razões e também para que a população brasileira possa saber se Bolsonaro e seus filhos têm apenas amigos chefiando as milícias que aterrorizam o Rio de Janeiro, alguns deles matadores profissionais, ou se também têm envolvimento com a morte de Marielle. Até este momento, as provas de intimidade e de relações suspeitas do clã Bolsonaro com milicianos matadores são vastas, mas não apareceu nenhuma prova de envolvimento concreto da família presidencial com o crime. Pelo menos, nenhuma foi divulgada até hoje.
Ao denunciar o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), filho mais velho do presidente, pelo esquema criminoso das “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Ministério Público mostrou que o filho zeroum teria recebido pelo menos 400.000 reais do ex-PM Adriano da Nóbrega. Acusado de chefiar um grupo de extermínio, Adriano foi morto em fevereiro em controversa operação policial na Bahia. A mãe e a mulher de Adriano eram funcionárias do gabinete de Flávio Bolsonaro quando deputado e só foram desligadas pouco antes de estourarem as primeiras denúncias. Segundo a investigação do MP do Rio, Adriano repassava o dinheiro a Fabrício Queiroz, então braço direito de Flávio e operador do esquema criminoso.
Bolsonaro e sua família deveriam ser os brasileiros mais interessados em solucionar a execução de Marielle Franco. Não são. Até este momento, estão presos apenas os acusados de executar o crime, o policial militar reformado Ronnie Lessa, vizinho de Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, e o ex-PM Élcio Queiroz. Ainda não há notícias dos mandantes.
A necessidade de fazer perguntas difíceis envolvendo aquele que ocupa o cargo máximo do país é uma evidência do momento perigosíssimo que vive o Brasil. O “novo normal” de que tanto falam ―e que está muito mais para novo anormal― é assimilar como uma possibilidade de normalidade as relações íntimas do presidente com milicianos e matadores. Também neste sentido o dia da eleição provoca expectativa.
A corrosão da democracia brasileira é cada vez mais trágica, mas ainda há um pequeno espaço para a retomada do que foi velozmente destruído. A escolha dos vereadores e prefeitos que vão tocar a política dos municípios, em geral a que mais interessa aos cidadãos no seu cotidiano, vai mostrar se cresce a parcela da população brasileira que tem consciência do abismo que, como cantava Cartola, escava com seus pés. As eleições de 15 de novembro não contêm a possibilidade de redenção, mas podem sinalizar se o avanço das periferias que reivindicam seu legítimo lugar de centro persiste mesmo com todos os ataques e, principalmente, se têm conseguido aumentar sua ressonância junto ao conjunto da população nestes anos de autoritarismo de ódio produzido pelo bolsonarismo.
O primeiro ministério de Michel Temer (MDB) ―inteiramente branco e masculino, patriarcal e heterossexual em todos os seus signos― depois de quatro anos ainda é o melhor retrato de como a manobra das forças de direita refletia um profundo incômodo com o avanço daqueles tratados como subalternos, manobra que em 2018 resultou na eleição de um homem como Jair Bolsonaro. O fato de que Temer foi o vice que traiu Dilma Rousseff (PT), a primeira mulher a se tornar presidente na história do Brasil, ao minar seu poder desde dentro e apoiar seu impeachment, não é um detalhe. Tampouco é um detalhe o fato de que, das duas únicas ministras mulheres de Bolsonaro, uma é declaradamente antifeminista, Damares Alves, e a outra, Tereza Cristina, se dedica a liberar agrotóxicos e “destravar” a agenda do agronegócio que destrói a Amazônia, o Cerrado e outros biomas, envenenando a comida e a terra e condenando as novas gerações.
A execução de Marielle Franco, em 14 de março de 2018 ―negra, bissexual, publicamente casada com outra mulher, nascida e criada nas favelas da Maré, que ocupa o centro ao se tornar vereadora no legislativo do Rio de Janeiro e levar para dentro da política institucional a luta contra a violência policial na favelas, contra a grilagem de terras nas periferias, parte delas controlada pelas milícias, e pelos direitos das pessoas LGBTQIA+― simboliza a radicalidade do gesto de barrar esse movimento à bala porque ele começa a ameaçar interesses e hegemonias. Para além da solução concreta do crime, seu simbolismo é assim e acertadamente interpretado pela parcela progressista da sociedade, que mantém presente e persistente tanto a memória de Marielle quanto a pressão pela solução de seu assassinato.
Marielle Franco é, iconicamente, mais viva do que nunca e a maior antagonista do atual presidente. E por essa razão, a memória de Marielle resiste e produz Marielles. Nesta eleição, em número inédito: em São Paulo, as candidatas negras são quase o dobro da disputa anterior. Segundo levantamento da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), há pelo menos 300 quilombolas disputando uma vaga no legislativo em todo o país. Entre eles, a ativista Socorro de Burajuba, líder da luta contra a destruição socioambiental produzida pela mineradora norueguesa Hydro Alunorte, poluidora dos rios da região de Barcarena, na Amazônia paraense. Nunca se discutiu tanto a participação política de negros como hoje, mas mais do que negros, o que se fortalece em 2020 é a potência crescente das mulheres pretas.
Historicamente mais subjugadas entre os subjugados, elas foram mantidas por décadas periféricas também no feminismo dominado por mulheres brancas e nos partidos de esquerda, majoritariamente liderados por homens e por brancos que sempre deram ênfase à luta de classes em seu diagnóstico e em suas propostas, em detrimento do racismo estrutural como recorte central de análise. Como afirma a socióloga negra Vilma Reis, “são as mulheres negras que empurram a esquerda para a esquerda”.
Mesmo dentro do PSol ―o partido com mais ressonância na esquerda, pelo menos para quem, como eu, considera o PT um partido de centro― Marielle também enfrentava a hegemonia da branquitude e um ranço machista cuidadosamente disfarçado. Depois que Marielle se tornou o maior ícone das mulheres negras (e também de uma parcela das brancas), alguns tentam reduzi-la a uma “cria” do deputado federal Marcelo Freixo (PSol). É justo reconhecer a influência do principal nome do PSol do Rio de Janeiro na trajetória política de Marielle Franco, mas Marielle é muito maior do que isso e foi fortemente marcada pelas mulheres negras que também encontrou no seu caminho.
A força crescente representada por ela, esta que o bolsonarismo não conseguiu parar apesar de toda a violência contra os corpos das mulheres, dos negros e dos LGBTQIA+, pode ser decisiva em 2022. É evidente que o Brasil tem enormes diferenças com relação aos Estados Unidos, assim como também é evidente que Jair Bolsonaro é ainda pior do que Donald Trump. Mas as afinidades também existem e são grandes ―e ambos fazem parte do mesmo fenômeno global. Tanto Trump quanto Bolsonaro souberam encarnar o medo de uma parcela significativa de brancos assustados, perdendo poder aquisitivo pelos efeitos da crise global do capitalismo de 2008 e sentindo-se perdidos pela ameaça ao lugar identitário em que ainda se sentiam superiores: o de raça, o de gênero e o de orientação sexual.
Talvez a melhor forma de explicar esse mecanismo, no caso dos brancos pobres e dos brancos de classe média que perderam renda nos últimos anos, seja com a formulação do intelectual afroamericano W.E.B. Du Bois (1868-1963), cujo pensamento só fui conhecer ao assistir a uma entrevista do intelectual afrobrasileiro Silvio Almeida. Du Bois criou o conceito que apresenta a branquitude como um “salário público e psicológico”. Sugiro ler diretamente na fonte, para alcançar a profundidade da proposição, mas, resumindo em uma linha, seria mais ou menos isso: o branco ferrado se consola com o salário psicológico de saber que há um outro, o negro ferrado, que é mais ferrado do que ele. Para manter esse privilégio psicológico, de um ferrado mais ferrado do que ele, o que o faz superior pelo menos a alguém, ele vota até em perversos como Bolsonaro que o ferram muito mais todo dia. No meu ponto de vista, esse salário psicológico ajuda a explicar também a resistência feroz ao protagonismo das mulheres, o único ponto de privilégio de uma parcela dos homens, sejam eles brancos ou pretos.
Como se sabe, Bolsonaro “liberou” esses machos brancos assustados ao expressar publicamente todo o seu racismo, homofobia e misoginia (ódio às mulheres), sem ser responsabilizado pelo sistema judiciário, e enalteceu em seu discurso de posse a “libertação” do politicamente correto. Representou também a angústia de uma classe média que se via perdendo privilégios que considerava direitos ao mesmo tempo em que, pela primeira vez na história, era obrigada a lidar com empregadas domésticas, majoritariamente pretas, que haviam conquistado a (quase) equiparação aos direitos dos demais trabalhadores.
A escandalosamente atrasada conquista de direitos trabalhistas básicos pelas empregadas domésticas, como já escrevi várias vezes, é essencial na análise da última década. No Brasil, a emancipação feminina se deu não por políticas públicas como ensino integral e creche para as crianças, nem tampouco pela divisão real de trabalho dentro de casa. Ao contrário. As mulheres brancas só conquistaram sua emancipação e conseguiram construir carreiras profissionais ao seguirem subjugando mulheres negras, em sua maioria, e também brancas pobres. Essas mulheres deixavam suas próprias casas e filhos para realizar o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos das brancas por salários irrisórios, jornadas extenuantes, condições de trabalho precárias e direitos escassos. A chamada “PEC das Domésticas” (quase) equiparou os direitos das domésticas aos demais trabalhadores, numa conquista histórica, balançando a herança mais persistente da escravidão e ampliando o medo de uma classe média perdendo renda e privilégios.
As mulheres pretas que hoje avançam sobre os espaços formais da política institucional são, muitas delas, filhas dessas mulheres que chefiam suas famílias e seguram o tranco dos dias há décadas. Muitas delas puderam chegar à universidade graças às medidas de ampliação do acesso ao ensino superior para os mais pobres e graças às cotas raciais, política de inclusão atrasada em mais de um século que provocou violenta reação dos brancos durante os governos petistas. Ainda que as candidatas pretas não se elejam, só o fato de disputarem a eleição aponta que, apesar de toda a violência, o bolsonarismo não conseguiu parar essa força. As quatro balas que arrebentaram a cabeça de Marielle Franco arrancaram-na da sua vida, de suas lutas, de seus afetos e de seus amores, mas tornaram-na imortal no cotidiano de milhões de mulheres pretas que encontram nela a inspiração para seguir adiante sem recuar.
Formalmente, o Instituto Marielle Franco criou nesta eleição a Agenda Marielle Franco, uma iniciativa suprapartidária que reuniu 745 candidatos, espalhados por 270 cidades brasileiras, comprometidos a levar adiante o legado da vereadora executada: justiça racial e defesa da vida; gênero e sexualidade; direito à favela; justiça econômica; saúde pública, gratuita e de qualidade; educação pública gratuita e transformadora; cultura, lazer e esporte. O esforço busca garantir significado a essas candidaturas, na medida em que a ampliação da presença negra no poder legislativo é um grande passo, mas só pode assegurar avanço na luta por igualdade racial se os eleitos defenderem projetos comprometidos com essa pauta e forem representativos de suas comunidades e não apenas de si mesmos.
O acordo é também o de honrar as práticas de Marielle: diversificar, não uniformizar; ampliar, não limitar; honrar, não apagar; coletivizar, não individualizar; puxar, não soltar; escancarar, não se encastelar; cuidar, não abandonar. Guilherme Boulos (PSol), candidato a prefeito de São Paulo com chances de alcançar o segundo turno, é um dos candidatos na lista dos comprometidos em honrar e multiplicar o legado de Marielle Franco.
Em 2005, ao executarem com seis tiros a missionária Dorothy Stang, os grileiros da região de Anapu aprenderam uma lição: algumas pessoas vivem mais intensamente depois de mortas. Nos dez anos seguintes, a atenção internacional provocada pelo crime e a presença de instituições que antes não davam as caras por ali atrapalharam muito os negócios dos destruidores da Amazônia. Dorothy Stang também se tornou uma mártir que tem inspirado movimentos de camponeses, em especial os ligados à Pastoral da Terra, da Igreja Católica. O assassinato de Marielle Franco, independentemente da intenção explícita do mandante ou mandantes do crime, produziu uma força de resistência infinitamente maior e mais significativa para o Brasil. Que os avanços se deem pela destruição dos corpos dos mais pobres e daqueles que resistem à opressão é resultado da democracia seletiva e deformada, jamais completada, do Brasil pós-ditadura civil-militar.
Tanto Trump quanto Bolsonaro se elegeram vendendo passados que nunca existiram, passados tão falsos quanto tudo o que sai de suas bocas. Pregam a volta a uma época em que aqueles historicamente tratados como subalternos ―mulheres, negros, indígenas― aceitavam passiva e pacificamente o seu lugar. Como se sabe, esse passado nunca existiu. O que existiu e persiste é o silenciamento dos que se rebelam, seguidamente calados pelo extermínio. Como Trump e Bolsonaro não têm futuro a oferecer, disseminam mentiras e tentam reescrever a história com elas. Não são apenas negacionistas, mas sim mentirosos com método e intenção.
Apoie nosso jornalismo. Assine o EL PAÍS clicando aqui
Inspiradas pelo exemplo da eleição estadunidense, a centro-direita e a direita brasileiras que já não querem mais dividir o palanque com Bolsonaro ―o homem que, como seu próprio chanceler definiu, transformou o Brasil num “pária” internacional― já começaram a fazer suas articulações para 2022. A questão é que, mais importante do que a vitória de Joe Biden, um homem branco do sistema, é como e por que Biden venceu Trump. As mulheres e os negros foram determinantes para tirar o déspota de topete laranja do poder. Como símbolo deste movimento desponta uma ativista negra chamada Stacey Abrams, cuja atuação está diretamente ligada aos 800.000 novos votantes da Geórgia, metade deles afroamericanos entre 30 e 45 anos. Estado sulista de raízes escravocratas, um democrata não vencia na Geórgia desde Bill Clinton. É fundamental não esquecer: Biden venceu também porque tinha ao seu lado Kamala Harris. Primeira mulher a assumir a vice-presidência dos Estados Unidos, ela é negra de ascendência indiana. Biden é mainstream, mas quem venceu Trump não foi o mainstream.
O que é chamado de periferia, tanto em países como Estados Unidos quanto no Brasil, têm sido os centros de criação de pensamento, de cultura e de inovação. Diante de fenômenos de ultradireita como Trump e Bolsonaro, são também produtores de resistência que avançam para o centro da política institucional. No Brasil, movimentos majoritariamente brancos e de classe média publicaram em 2020 manifestos em defesa da democracia nos principais jornais do país. Não citavam o racismo estrutural em seus textos. De imediato, a Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de cem organizações e coletivos, publicou nos mesmos espaços o manifesto Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Sinalizava ali que, desta vez, nenhum rearranjo das forças políticas, da direita à esquerda, teria legitimidade se não enfrentasse o racismo estrutural do país. O manifesto antirracista pode ter sido o ato político mais importante dos últimos anos.
O necessário deslocamento do que é centro e do que é periferia é fundamental para determinar o destino do Brasil. Aqueles que são tratados como periféricos, como a floresta e a favela, têm no horizonte uma aliança a tecer, fundamental para a criação de futuros capazes de dar respostas de possibilidade ao momento limite da emergência climática. Neste sentido, nos Estados Unidos, a esquerda do Partido Democrata, onde essas novas forças estão estrategicamente alojadas, está mais à frente ao perceber e sublinhar publicamente que, hoje, enfrentar o racismo é enfrentar a emergência climática. Já não existe a possibilidade de uma luta sem a outra luta.
O apartheid tenebroso que já se anuncia e se aprofunda em ritmo acelerado é o que a própria ONU chama de “apartheid climático”. E, mais uma vez, atinge principalmente as mulheres, os negros e os indígenas. No Brasil, a aliança entre os ativistas das favelas e os ativistas da floresta precisa avançar com mais rapidez, dada a emergência do momento. Os ativistas da floresta são principalmente indígenas, mas também quilombolas e beiradeiros ou ribeirinhos. E são também as mulheres negras das periferias de cidades amazônicas. Em Altamira, epicentro da destruição da floresta, jovens ativistas como Daniela Silva têm levantado a voz para lembrar que as mulheres negras das periferias urbanas também fazem parte da Amazônia.
A luta está só começando. Homens como Trump e Bolsonaro, o brasileiro ainda com chances de se reeleger em 2022, são apenas um capítulo e não necessariamente o mais difícil. Como afirma a estrela da nova esquerda do Partido Democrata, a estadunidense de origem latina Alexandria Ocasio-Cortez, ao comentar a derrota de Trump: “Não estamos mais em queda livre para o inferno. Mas, se vamos nos levantar ou não, é uma questão. Fizemos uma pausa nessa descida precipitada. A questão é se e como iremos nos reconstruir”.
Apesar do atoleiro vivido pelo Brasil sob o Governo de ódio de Bolsonaro, o país tem, talvez como nenhum outro, um grande trunfo para voltar a criar futuro no presente: a enorme força de vida dos negros e dos indígenas que têm resistido contra todas as formas de morte por quatro séculos, caso dos descendentes dos africanos escravizados, por cinco séculos, caso dos indígenas. Grande parte das forças progressistas do planeta já compreenderam que a batalha pela Amazônia é a grande batalha deste momento ―e não apenas no sentido dos limites geográficos da floresta que regula o clima, mas no sentido de amazonizar o pensamento para a criação de uma sociedade humana capaz de viver sem destruir nem a casa onde vive nem as espécies com quem divide a casa.
A crise climática e a sexta extinção em massa de espécies, ambas comprovadamente provocadas por ação da minoria dominante dos humanos, tornaram este momento o mais desafiador de nossa trajetória no planeta. Trump e Bolsonaro são apenas sintomas. Com todos os limites evidentes de uma eleição numa democracia que nunca chegou para todos, assim como os limites da própria democracia como sistema, o voto deste 15 de novembro é muito mais importante do que parece à primeira vista. Países vizinhos como a Bolívia e o Chile já deram o exemplo e mostraram que é possível enfrentar o autoritarismo da direita e da extrema direita e avançar. O Chile decidiu pela primeira Constituição construída de forma igualitária entre homens e mulheres e, na Bolívia, as mulheres conquistaram 20 das 36 cadeiras do Senado (56%) e 62 das 130 da Câmara Baixa (48%) nas eleições de outubro, com forte presença dos povos originários. O Brasil, que costuma ver a si mesmo como vanguarda política e criativa, já está atrás no mapa da América Latina na luta contra o autoritarismo de direita.
A polarização política tem sido vendida como um problema e uma distorção nos últimos anos. Não é assim que eu vejo. Não é possível e nem desejável superar a polarização num país estruturado sobre o racismo e com uma desigualdade abissal. O problema é a distorção da polarização, situada propositalmente nos polos falsos. O discurso contra a polarização, aliás, será cada vez mais usado pela centro-direita e pela direita que hoje se anunciam como não bolsonarista para se apresentar como uma alternativa de “pacificação do país” em 2022. Michel Temer já usou esse discurso antes e agora ele se insinua nas negociações entre o governador de São Paulo, João Doria Jr (PSDB), o ex-ministro de Bolsonaro Sergio Moro e o apresentador da Globo Luciano Huck para a próxima eleição presidencial. A paz da centro direita e da direita aponta para um rearranjo cosmético, com algumas concessões aqui e ali, de modo que a desigualdade racial e social do Brasil se mantenha inalterada na essência. Prefiro ficar com a frase antológica da atriz e escritora negra Roberta Estrela D’Alva: “se a paz não for para todos, ela não será para ninguém”.
A eleição de 15 de novembro não é uma prévia para 2022. É muito mais do que isso. É a recolocação dos polos que foram deslocados. É uma sinalização de que a polarização já não se dá entre Bolsonaro e Lula, mas entre Bolsonaro e Marielle Franco. Esta sempre foi a polarização real dos Brasis, em alguns momentos representada pelo PT do passado, há muitos anos não mais. Quase mil dias depois da sua execução, o grito se fortalece e avança: Marielle, Presente.
Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora de Brasil, Construtor de Ruínas: um olhar sobre o país, de Lula a Bolsonaro (Arquipélago).
Site: elianebrum.com Email: elianebrum.coluna@gmail.com Twitter, Instagram e Facebook: @brumelianebrum












